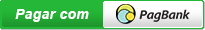Ano 27 Editado por Jomar Morais

Clipping & Ideias




Para receber envie "Sim" e seu nome via Whatsapp:
(84) 99983-4178
(84) 99983-4178
PLANETA*Zap

LEITOR SOLIDÁRIO
Planeta Jota é um site independente com olhar diferenciado sobre temas essenciais. Doe qualquer valor e ajude este projeto iniciado há 26 anos.
Informe-nos sobre sua doação
e ganhe um livro digital do Sapiens
e ganhe um livro digital do Sapiens
Ao vivo na TV Sapiens

https://youtube.com/sapiensnatal
Acesse a programação. Inscreva-se no canal
Acesse a programação. Inscreva-se no canal
Planeta Jota é um website sem fins lucrativos editado pelo jornalista Jomar Morais, desde maio de 1995, com a ajuda de voluntários. Saiba mais.
Não publicamos texto editorial pago. Se você deseja ajudar na manutenção deste trabalho, poderá fazê-lo mediante uma doação de qualquer valor via PIX 84-999834178, via Pagseguro ou adquirindo os livros divulgados aqui pelo Livreiro Sapiens. Assim você contribuirá para a difusão de ideias que despertam consciências e mudam o mundo e estimulará os autores que compartilhamos.
Não publicamos texto editorial pago. Se você deseja ajudar na manutenção deste trabalho, poderá fazê-lo mediante uma doação de qualquer valor via PIX 84-999834178, via Pagseguro ou adquirindo os livros divulgados aqui pelo Livreiro Sapiens. Assim você contribuirá para a difusão de ideias que despertam consciências e mudam o mundo e estimulará os autores que compartilhamos.
QUEM SOMOS
Compre na Amazon
e receba o livro agora
e receba o livro agora
Pix: 84999834178
Destaque recente
As mutações do sexo. Para onde vamos?
A arte da simplicidade
O vídeo mais visto
ou
Aldenir Dantas
Glácia Marillac
Guto de Castro
Wescley Gama
Jorge Braúna
Textos místicos
Clube da Esquina


Jomar Morais

LEITURA IMPERDÍVEL !
Você vai rir. Você vai chorar. Você vai refletir.
Contos de
Aldenir Dantas
Aldenir Dantas
Histórias divertidas. Personagens surpreendentes.
Só aqui desconto de 30% !
35 reais + frete (12 reais)
PIX 84-999834178 (celular)
[Envie recibo e endereço via WhatsApp]
Ou compre no cartão em até 18 vezes pelo
35 reais + frete (12 reais)
PIX 84-999834178 (celular)
[Envie recibo e endereço via WhatsApp]
Ou compre no cartão em até 18 vezes pelo

Site antigo, substituido em 12/março/2023. Clique em "INÍCIO" e acesse o novo site.
Chego à praça da catedral de Havana no momento em que uma equipe de TV inglesa filma a exibição de um grupo folclórico. Quando o batuque cessa, do meio da multidão, alguém grita: “Levem-me para Miami. Agora eu tenho passaporte!” Não são poucos os cubanos que querem sair do país e experimentar uma vida com menos controle do estado. Mas é um equívoco achar que a maioria deseja uma virada radical.
Quando se rompem a desconfiança e o medo que cercam as relações entre cubanos e, principalmente, entre estes e estrangeiros se o tema é política, percebe-se que eles aprovam as conquistas sociais básicas do socialismo, que suprimiram a fome, o racismo e a discriminação social e universalizaram a saúde e a educação, mas acham que a vida pede muito mais que isso. Há um descontentamento cada vez mais explícito com a burocracia e a incompetência que cerceiam voos de criatividade, limita horizontes, gera privilégios e perpetua a dependência da ilha, um ponto que fere o exacerbado nacionalismo dos cubanos. E, embora todos reconheçam o efeito devastador do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos - o qual afasta da ilha os transportadores, tornando fretes, preços e mesmo o comércio impraticáveis para os cubanos -, é ao estado que responsabilizam pelo desabastecimento crônico e pelo imenso descaso com o consumidor. Fora da cesta básica assegurada pelo estado, a vida é cara, muito cara para os cubanos e não há o que fazer, senão ir queixar-se ao bispo.
É incômodo também para um cubano admitir que seu país, até hoje, sempre sobreviveu à sombra de um provedor externo: a Espanha, depois os Estados Unidos, a falecida União Soviética e, atualmente, a Venezuela, que garante o petróleo, única fonte de energia de Cuba. O bloqueio americano e a incapacidade dos burocratas de gerir a economia (a infraestrutura econômica está praticamente destruída) mantiveram essa tradição que, no âmbito interno, acabou impedindo o crescimento e a renovação, combustível da cultura de transgressão velada que os cubanos adotaram como meio de sobrevivência.
Após 55 anos de socialismo, Cuba enfrenta, além de uma crise econômica, uma crise de valores morais cultivados nas últimas décadas. Devido aos baixos salários, até profissionais especializados em áreas técnicas estão migrando para o setor turístico, onde se sujeitam a como faxineiros e ascensoristas na esperança de faturar mais com as gorjetas dos gringos. Outros se tornaram “jineteros”, os atravessadores que assediam turistas e que, não raro, se envolvem em trapaças e até crimes. A prostituição, que marcou o período da influência americana até 1959, voltou a mostrar a cara nas ruas de Havana, ao lado da mendicância, e cresceu o número de roubos e até assaltos.
Cuba vive uma transição que, certamente, desembocará em mais abertura política e flexibilização das regras econômicas, como, aliás, já vem acontecendo sob o comando de Raúl Castro. O culto à personalidade do líder, uma marca da era Fidel Castro, cede à idéia de colegiado. Desaparecem os outdoors de exaltação socialista e, aos poucos, surgem incentivos ao empreendedorismo, como a abertura de pequenos restaurantes privados (os paladares). Há uma lenta flexibilização nos costumes e um desejo de dialogar mais com o mundo, a começar pelos Estados Unidos.
Lado A, Lado B... Falar sobre Cuba exige mais uma coluna, na próxima terça-feira.
Quando se rompem a desconfiança e o medo que cercam as relações entre cubanos e, principalmente, entre estes e estrangeiros se o tema é política, percebe-se que eles aprovam as conquistas sociais básicas do socialismo, que suprimiram a fome, o racismo e a discriminação social e universalizaram a saúde e a educação, mas acham que a vida pede muito mais que isso. Há um descontentamento cada vez mais explícito com a burocracia e a incompetência que cerceiam voos de criatividade, limita horizontes, gera privilégios e perpetua a dependência da ilha, um ponto que fere o exacerbado nacionalismo dos cubanos. E, embora todos reconheçam o efeito devastador do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos - o qual afasta da ilha os transportadores, tornando fretes, preços e mesmo o comércio impraticáveis para os cubanos -, é ao estado que responsabilizam pelo desabastecimento crônico e pelo imenso descaso com o consumidor. Fora da cesta básica assegurada pelo estado, a vida é cara, muito cara para os cubanos e não há o que fazer, senão ir queixar-se ao bispo.
É incômodo também para um cubano admitir que seu país, até hoje, sempre sobreviveu à sombra de um provedor externo: a Espanha, depois os Estados Unidos, a falecida União Soviética e, atualmente, a Venezuela, que garante o petróleo, única fonte de energia de Cuba. O bloqueio americano e a incapacidade dos burocratas de gerir a economia (a infraestrutura econômica está praticamente destruída) mantiveram essa tradição que, no âmbito interno, acabou impedindo o crescimento e a renovação, combustível da cultura de transgressão velada que os cubanos adotaram como meio de sobrevivência.
Após 55 anos de socialismo, Cuba enfrenta, além de uma crise econômica, uma crise de valores morais cultivados nas últimas décadas. Devido aos baixos salários, até profissionais especializados em áreas técnicas estão migrando para o setor turístico, onde se sujeitam a como faxineiros e ascensoristas na esperança de faturar mais com as gorjetas dos gringos. Outros se tornaram “jineteros”, os atravessadores que assediam turistas e que, não raro, se envolvem em trapaças e até crimes. A prostituição, que marcou o período da influência americana até 1959, voltou a mostrar a cara nas ruas de Havana, ao lado da mendicância, e cresceu o número de roubos e até assaltos.
Cuba vive uma transição que, certamente, desembocará em mais abertura política e flexibilização das regras econômicas, como, aliás, já vem acontecendo sob o comando de Raúl Castro. O culto à personalidade do líder, uma marca da era Fidel Castro, cede à idéia de colegiado. Desaparecem os outdoors de exaltação socialista e, aos poucos, surgem incentivos ao empreendedorismo, como a abertura de pequenos restaurantes privados (os paladares). Há uma lenta flexibilização nos costumes e um desejo de dialogar mais com o mundo, a começar pelos Estados Unidos.
Lado A, Lado B... Falar sobre Cuba exige mais uma coluna, na próxima terça-feira.
Cuba - lado B
Publicado na edição de 19/02/13
Cuba - lado A
Publicado na edição de 05/02/13
Caminho no fim de tarde pelo Malecón de Havana. É um momento de beleza e poesia. O crepúsculo destaca os edifícios no semicírculo da baía, confrontando as ondas que se debatem contra o imenso paredão. Havana é romântica e, nessa hora, o Malecón - e, fora da orla, os muitos parques e praças da cidade - ficam repletos de crianças e de casais.
Havana é pobre e não adianta buscar aqui facilidades high-techs a que estamos acostumados. Inclusive a Internet, que na ilha é básica, cara e, na maioria das vezes, não funciona. Nem os hotéis de luxo de cadeias internacionais superam limitações como essa. Mas Havana consegue driblá-las com o charme de seu patrimônio histórico-arquitetônico, a mística do duelo de Cuba com o gigante americano e, sobretudo, com a simpatia de seu povo. Vale a pena conhecê-la e a toda essa ilha polêmica e desafiadora.
À primeira vista, Cuba nos parece parada no tempo. Havana, com 2 milhões de habitantes, choca pela deterioração de grande parte da cidade. E mesmo áreas rurais de rara beleza e boa qualidade de vida, como Pinar del Rio e Vinhales, nos dão a impressão de viagem ao passado.
Prender-se a isso, porém, seria avaliar Cuba apenas por critérios mercadológicos (e ideológicos), sem levar em conta sua saga histórica e sua opção por um modelo social que lhe parece mais justo e igualitário - um enorme desafio, tumultuado pelo jogo político interno e externo e, principalmente, pelo lado escuro da condição humana, hábil em sabotar toda utopia.
A importância estratégica de Havana no período colonial concedeu-lhe o privilégio da atenção e de investimentos espanhóis que a tornaram a cidade mais relevante do Novo Mundo. Nada disso, no entanto, beneficiou a massa de pobres e escravos de Cuba, cuja má sorte continuaria após a independência e a abolição da escravatura, nas décadas em que o país viveu sob orientação direta dos Estados Unidos.
Nesse tempo, Washington não só indicava candidatos a presidente, como pagava os salários dos primeiros mandatários de Cuba. Empresas americanas ditavam a economia e a máfia instalou uma sucursal em Havana, cujo marco era o luxuoso Hotel Rivera. Jogo e prostituição disseminaram-se, num ambiente de insensibilidade social e racismo contra a maioria crioula.
Acrescente-se a tudo isso a dura repressão policial do último presidente avalizado por Washington - Fulgêncio Batista - e se entenderá porque, há 55 anos, um punhado de jovens guerrilheiros conseguiram derrubar o governo e como Fidel Castro, atuando sobre o sentimento anti-americano e as marcas da discriminação social, pôde dar a guinada socialista, jogando dados no cenário da "guerra fria".
Garantir habitação, ainda que precária, alimentação básica, educação e assistência médica ainda hoje é a visão do paraíso para quem não tem acesso a direitos essenciais. Por essa segurança mínima e fundamental, os homens podem até abrir mão (por algum tempo!) de liberdades individuais, não raro tisnadas de vil egoísmo.
Foi o que aconteceu em Cuba. Mas aí começa outro lado da história...
Havana é pobre e não adianta buscar aqui facilidades high-techs a que estamos acostumados. Inclusive a Internet, que na ilha é básica, cara e, na maioria das vezes, não funciona. Nem os hotéis de luxo de cadeias internacionais superam limitações como essa. Mas Havana consegue driblá-las com o charme de seu patrimônio histórico-arquitetônico, a mística do duelo de Cuba com o gigante americano e, sobretudo, com a simpatia de seu povo. Vale a pena conhecê-la e a toda essa ilha polêmica e desafiadora.
À primeira vista, Cuba nos parece parada no tempo. Havana, com 2 milhões de habitantes, choca pela deterioração de grande parte da cidade. E mesmo áreas rurais de rara beleza e boa qualidade de vida, como Pinar del Rio e Vinhales, nos dão a impressão de viagem ao passado.
Prender-se a isso, porém, seria avaliar Cuba apenas por critérios mercadológicos (e ideológicos), sem levar em conta sua saga histórica e sua opção por um modelo social que lhe parece mais justo e igualitário - um enorme desafio, tumultuado pelo jogo político interno e externo e, principalmente, pelo lado escuro da condição humana, hábil em sabotar toda utopia.
A importância estratégica de Havana no período colonial concedeu-lhe o privilégio da atenção e de investimentos espanhóis que a tornaram a cidade mais relevante do Novo Mundo. Nada disso, no entanto, beneficiou a massa de pobres e escravos de Cuba, cuja má sorte continuaria após a independência e a abolição da escravatura, nas décadas em que o país viveu sob orientação direta dos Estados Unidos.
Nesse tempo, Washington não só indicava candidatos a presidente, como pagava os salários dos primeiros mandatários de Cuba. Empresas americanas ditavam a economia e a máfia instalou uma sucursal em Havana, cujo marco era o luxuoso Hotel Rivera. Jogo e prostituição disseminaram-se, num ambiente de insensibilidade social e racismo contra a maioria crioula.
Acrescente-se a tudo isso a dura repressão policial do último presidente avalizado por Washington - Fulgêncio Batista - e se entenderá porque, há 55 anos, um punhado de jovens guerrilheiros conseguiram derrubar o governo e como Fidel Castro, atuando sobre o sentimento anti-americano e as marcas da discriminação social, pôde dar a guinada socialista, jogando dados no cenário da "guerra fria".
Garantir habitação, ainda que precária, alimentação básica, educação e assistência médica ainda hoje é a visão do paraíso para quem não tem acesso a direitos essenciais. Por essa segurança mínima e fundamental, os homens podem até abrir mão (por algum tempo!) de liberdades individuais, não raro tisnadas de vil egoísmo.
Foi o que aconteceu em Cuba. Mas aí começa outro lado da história...
Metáfora mexicana - 2
Publicado na edição de 29/01/13
Estou em Havana, uma experiência pra lá de interessante. Mas é ainda o México a inspiracão para mais uma conversa neste canto de página. Se você leu a coluna passada, sabe o quanto - e porque - o México e, principalmente, sua capital impressionam positivamente o visitante brasileiro. Há, porém, reciprocidade. E, para isso, os mexicanos nem precisam visitar o Brasil.
A simpatia mexicana pelos brasileiros não é de hoje. Quem esqueceu do caso de amor vivido por nossa Selecão e a torcida mexicana na Copa de 1970? Isso foi muito importante para a conquista do Tri, algo que soubemos reconhecer e retribuir com um "jogo da gratidão" em Guadalajara. Nosso namoro agora é menos sentimental, em que pesem as nossas afinidades, digamos, passionais em experiências como a exclusão social, a violência urbana e o alto índice de tolerância à corrupcão.
O Brasil tornou-se uma forte referência para o México, o que explica a menção quase diária à cultura e, sobretudo, à economia brasileira na mídia mexicana. Embora não esteja, como nós, entre as seis maiores economias do planeta, o México segue na nossa cola, em seu posto de segunda economia latino-americana, e nos vê, ao mesmo tempo, como inspiracão e desafio.
Num debate no canal Foro TV, da Televisa, que assisti antes que se iniciasse - imagine! - o programa "Superación", da brasileiríssima Igreja Universal do Reino de Deus, o Brasil foi o argumento central de jornalistas e intelectuais assustados com o baixo índice de leitura dos mexicanos. Foram realçados a qualidade e o poder de fogo das editoras brasileiras, embora o México apresente níveis de escolaridade e um pib per capita ligeiramente superiores aos nossos.
As nossas estatísticas econômicas são acompanhadas e comentadas por especialistas e até o recém-lancado Programa Nacional de Combate à Fome, do governo mexicano, tem cheiro do bem-sucedido Bolsa Família, do governo brasileiro.
Para um brazuca em visita ao México, é confortante ouvir elogios ao seu o país e - detalhe impensável no passado - ser assediado por vendedores que se dispõem a receber pagamento em real. Mas sempre que me tenho defrontado com essas situacões que massageiam o ego e turbinam o orgulho nacional, pergunto-me se saberemos ser potência sem cair na tentacão avassaladora da dominacão.
Foi assim que um dia os astecas, guerreiros que deram origem à Cidade do México e à nacão mexicana, perderam-se, abrindo caminho para que os povos indígenas oprimidos se aliassem aos conquistadores espanhóis na derrubada de Tenochitlan. E tem sido assim em nosso tempo, no qual potências econômico-militares, como os Estados Unidos, amargam o ódio de boa parte do mundo, mergulhadas na sombra da inquietude e do medo permanentes.
A simpatia mexicana pelos brasileiros não é de hoje. Quem esqueceu do caso de amor vivido por nossa Selecão e a torcida mexicana na Copa de 1970? Isso foi muito importante para a conquista do Tri, algo que soubemos reconhecer e retribuir com um "jogo da gratidão" em Guadalajara. Nosso namoro agora é menos sentimental, em que pesem as nossas afinidades, digamos, passionais em experiências como a exclusão social, a violência urbana e o alto índice de tolerância à corrupcão.
O Brasil tornou-se uma forte referência para o México, o que explica a menção quase diária à cultura e, sobretudo, à economia brasileira na mídia mexicana. Embora não esteja, como nós, entre as seis maiores economias do planeta, o México segue na nossa cola, em seu posto de segunda economia latino-americana, e nos vê, ao mesmo tempo, como inspiracão e desafio.
Num debate no canal Foro TV, da Televisa, que assisti antes que se iniciasse - imagine! - o programa "Superación", da brasileiríssima Igreja Universal do Reino de Deus, o Brasil foi o argumento central de jornalistas e intelectuais assustados com o baixo índice de leitura dos mexicanos. Foram realçados a qualidade e o poder de fogo das editoras brasileiras, embora o México apresente níveis de escolaridade e um pib per capita ligeiramente superiores aos nossos.
As nossas estatísticas econômicas são acompanhadas e comentadas por especialistas e até o recém-lancado Programa Nacional de Combate à Fome, do governo mexicano, tem cheiro do bem-sucedido Bolsa Família, do governo brasileiro.
Para um brazuca em visita ao México, é confortante ouvir elogios ao seu o país e - detalhe impensável no passado - ser assediado por vendedores que se dispõem a receber pagamento em real. Mas sempre que me tenho defrontado com essas situacões que massageiam o ego e turbinam o orgulho nacional, pergunto-me se saberemos ser potência sem cair na tentacão avassaladora da dominacão.
Foi assim que um dia os astecas, guerreiros que deram origem à Cidade do México e à nacão mexicana, perderam-se, abrindo caminho para que os povos indígenas oprimidos se aliassem aos conquistadores espanhóis na derrubada de Tenochitlan. E tem sido assim em nosso tempo, no qual potências econômico-militares, como os Estados Unidos, amargam o ódio de boa parte do mundo, mergulhadas na sombra da inquietude e do medo permanentes.
Metáfora mexicana
Publicado na edição de 22/01/13
É preciso chegar até aqui, na Cidade do México, para entender como uma metrópole com fama de ser uma das mais poluídas e inseguras do mundo consegue atrair anualmente 12 milhões de visitantes, entre nacionais e estrangeiros, mais que o dobro dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil em igual período. A soma de uma forte identidade histórica com uma modernidade esfuziante, mais uma excelente infraestrutura de serviços e preços acessíveis estão na base desse sucesso.
A Cidade do México é Tenochtitlán, fundada em 1325 e coração do império dos mexicas, a confederação asteca. Seu centro administrativo e comercial ainda é o mesmo da época de Montezuma II, o imperador defenestrado pelo conquistador espanhol Hernan Cortés, em 1520. Seu entorno é rico de fragmentos históricos e arqueológicos, como as impressionantes pirâmides de Teotihuacan, a cidade misteriosa erguida no ano 100 a.C. e abandonada por seus habitantes desconhecidos por volta do ano 750.
Ao mesmo tempo, a capital do México é um exemplo de moderna arquitetura urbanística funcional, com avenidas largas e bem traçadas, edifícios de linhas futuristas, uma centena de museus e a quarta concentração de teatros do mundo. A cidade é jardim e galeria de arte a céu aberto, graças aos seus muitos parques e esculturas que contam a história tumultuada da nação mexicana, repleta de perdas - primeiro para os espanhóis, depois para os Estados Unidos, a quem cedeu parte de seu território.
Sim, o México é complexo, contraditório e excitante. Mas, ao escalar a portentosa pirâmide da Lua, em Teotihuacan, preferi meditar sobre o ocaso asteca em meio a um episódio de perda de identidade.
Quando Hernan Cortés chegou a Tenochtitlan, o imperador Montezuma II, um sacerdote, tomou-o como a materialização do deus Quetzalcoatl que retornava para destruir os mexicas, conforme uma antiga profecia. Assim, acolheu-o em sua casa, tentou agradá-lo com presentes ornados a ouro e prata e, por último, submeteu-se à Coroa espanhola e passou a estudar o Catolicismo, num esforço desesperado para introduzir Cristo no panteão asteca. Mesmo assim, caiu e foi assassinado, ao rebelar-se contra os altos impostos fixados pelos invasores.
Nessa época, ciente da humanidade de Cortés, Montezuma teria se indignado com o rito da eucaristia, por não entender como os espanhóis comiam a carne de seu deus, enquanto os astecas ofereciam coração e sangue humanos às suas divindades. É uma afirmação emblemática até mesmo para os nossos dias de desconexão espiritual e mesquinho individualismo, nos quais Deus é consumido pelo shomens num balcão de trocas imediatistas.
Quando caiu na real,Tenochtitlán ainda tentou resistir, mas já era tarde. Astecas e, depois, os maias e incas andinos seriam pilhados e devastados, ao preço de muitos sacrifícios humanos aos deuses Cobiça e Preconceito.
A Cidade do México é Tenochtitlán, fundada em 1325 e coração do império dos mexicas, a confederação asteca. Seu centro administrativo e comercial ainda é o mesmo da época de Montezuma II, o imperador defenestrado pelo conquistador espanhol Hernan Cortés, em 1520. Seu entorno é rico de fragmentos históricos e arqueológicos, como as impressionantes pirâmides de Teotihuacan, a cidade misteriosa erguida no ano 100 a.C. e abandonada por seus habitantes desconhecidos por volta do ano 750.
Ao mesmo tempo, a capital do México é um exemplo de moderna arquitetura urbanística funcional, com avenidas largas e bem traçadas, edifícios de linhas futuristas, uma centena de museus e a quarta concentração de teatros do mundo. A cidade é jardim e galeria de arte a céu aberto, graças aos seus muitos parques e esculturas que contam a história tumultuada da nação mexicana, repleta de perdas - primeiro para os espanhóis, depois para os Estados Unidos, a quem cedeu parte de seu território.
Sim, o México é complexo, contraditório e excitante. Mas, ao escalar a portentosa pirâmide da Lua, em Teotihuacan, preferi meditar sobre o ocaso asteca em meio a um episódio de perda de identidade.
Quando Hernan Cortés chegou a Tenochtitlan, o imperador Montezuma II, um sacerdote, tomou-o como a materialização do deus Quetzalcoatl que retornava para destruir os mexicas, conforme uma antiga profecia. Assim, acolheu-o em sua casa, tentou agradá-lo com presentes ornados a ouro e prata e, por último, submeteu-se à Coroa espanhola e passou a estudar o Catolicismo, num esforço desesperado para introduzir Cristo no panteão asteca. Mesmo assim, caiu e foi assassinado, ao rebelar-se contra os altos impostos fixados pelos invasores.
Nessa época, ciente da humanidade de Cortés, Montezuma teria se indignado com o rito da eucaristia, por não entender como os espanhóis comiam a carne de seu deus, enquanto os astecas ofereciam coração e sangue humanos às suas divindades. É uma afirmação emblemática até mesmo para os nossos dias de desconexão espiritual e mesquinho individualismo, nos quais Deus é consumido pelo shomens num balcão de trocas imediatistas.
Quando caiu na real,Tenochtitlán ainda tentou resistir, mas já era tarde. Astecas e, depois, os maias e incas andinos seriam pilhados e devastados, ao preço de muitos sacrifícios humanos aos deuses Cobiça e Preconceito.
Viva o biscoito da Tam!
Publicado na edição de 15/01/13
Em 2010, ao viajar de Lisboa para Atenas num avião da Lufthansa, com um bilhete promocional que me custara 600 reais (ida e volta), surpreendi-me com o mimo da companhia alemã num voo de apenas três horas: refeição quente com entrada e prato principal, vinho e sobremesa. A comparação com o que eu havia experimentado na década foi inevitável e eu logo lembrei do sanduíche da Tam, então uma companhia 100% brasileira.
Na época, o sanduba de queijo e presunto era a refeição servida nos voos da companhia entre Natal e São Paulo, também com a duração de três horas. Mas o que mais me chamava a atenção não era a singeleza do item, mas a pompa com que era anunciado, digna dos lautos jantares com que as aéreas, inclusive a Tam, brindavam seus passageiros no passado. O texto lido pelo comissário de bordo era uma peça de marketing que nos fazia acreditar que estávamos prestes a participar de um banquete.
Não resisti a essa lembrança e, ainda na Grécia, postei um twitter bem humorado com a comparação feita acima. A Lufthansa, claro, adorou. Logo seu serviço de relacionamento com o cliente respondeu-me com um "que bom que você gostou de voar com a Lufthansa!". Na Tam, ou não conseguiram rastrear a referência à empresa na rede social ou preferiram não dar importância ao protesto light de um cliente.
Há dois dias a memória desse episódio voltou à tona quando, num avião da Tam, agora uma empresa chileno-brasileira, fui apresentado a um único biscoito recheado de 12 gramas (solenemente nomeado "creamy cookie") e a 200ml de suco. A passagem para Sampa custara-me 800 reais (só ida), mas, acredite, se, por um lado, tive saudade do sanduba sumido, por outro senti-me recompensado: a Tam é a única grande aérea doméstica que ainda nos oferece algum serviço de bordo gratuito. A Gol já segue os passos de companhias internacionais que, a pretexto de baratear o preço das passagens, sacrificaram o charme e o sabor nas alturas.
A verdade é que prefiro abrir mão do luxo e da glutonaria em troca de passagem barata. Como prova a realidade do país, isso também promove inclusão social, permitindo o acesso dos pobres a um recurso básico - o avião -, antes exclusivo dos endinheirados. Eu só não entendo porque, depois de aumentarem em 30% as passagens no último trimestre, as aéreas aderiram ao biscoito único ou a nenhum biscoito.
Na época, o sanduba de queijo e presunto era a refeição servida nos voos da companhia entre Natal e São Paulo, também com a duração de três horas. Mas o que mais me chamava a atenção não era a singeleza do item, mas a pompa com que era anunciado, digna dos lautos jantares com que as aéreas, inclusive a Tam, brindavam seus passageiros no passado. O texto lido pelo comissário de bordo era uma peça de marketing que nos fazia acreditar que estávamos prestes a participar de um banquete.
Não resisti a essa lembrança e, ainda na Grécia, postei um twitter bem humorado com a comparação feita acima. A Lufthansa, claro, adorou. Logo seu serviço de relacionamento com o cliente respondeu-me com um "que bom que você gostou de voar com a Lufthansa!". Na Tam, ou não conseguiram rastrear a referência à empresa na rede social ou preferiram não dar importância ao protesto light de um cliente.
Há dois dias a memória desse episódio voltou à tona quando, num avião da Tam, agora uma empresa chileno-brasileira, fui apresentado a um único biscoito recheado de 12 gramas (solenemente nomeado "creamy cookie") e a 200ml de suco. A passagem para Sampa custara-me 800 reais (só ida), mas, acredite, se, por um lado, tive saudade do sanduba sumido, por outro senti-me recompensado: a Tam é a única grande aérea doméstica que ainda nos oferece algum serviço de bordo gratuito. A Gol já segue os passos de companhias internacionais que, a pretexto de baratear o preço das passagens, sacrificaram o charme e o sabor nas alturas.
A verdade é que prefiro abrir mão do luxo e da glutonaria em troca de passagem barata. Como prova a realidade do país, isso também promove inclusão social, permitindo o acesso dos pobres a um recurso básico - o avião -, antes exclusivo dos endinheirados. Eu só não entendo porque, depois de aumentarem em 30% as passagens no último trimestre, as aéreas aderiram ao biscoito único ou a nenhum biscoito.
É pegar ou largar
Publicado na edição de 08/01/13
Nossa cultura superestima a esperança. Aprendemos cedo a vê-la como uma qualidade moral dos sábios, dos santos e dos fortes. Em nosso imaginário, a esperança está permanentemente associada ao êxito e à realização da felicidade. O apóstolo Paulo nomeou-a um dos três valores básicos da vida cristã, ao lado da fé e do amor, a maior virtude. Perder a esperança é cair no desespero, o que para o senso comum é aflição, danação de quem já não tem uma razão para viver.
Há, no entanto, outra maneira de encarar essa questão. Olhar assim, na contramão das elaborações lastreadas em devaneios e no medo, descortina a virtude que há em apoiarmo-nos mais na aceitação e na ação do que na esperança, focados no que temos e podemos fruir e processar e não naquilo que nos falta e que não depende de nós.
Eis aí uma questão espiritual que é brilhantemente abordada e, a meu ver, resolvida, por um filósofo ateu, o francês André Comte-Sponville. É de seu notável “A Felicidade, Desesperadamente” que recolho essas pérolas que abalam antigas referências, mas acalmam o coração:
O que é a esperança? É um desejo que se refere ao que não temos (uma falta) e que ignoramos se foi ou será satisfeito, enfim cuja satisfação não depende de nós. (...)
O prazer, o conhecimento e a ação não têm a ver com a esperança, e até, relativamente à realidade deles, a excluem. (...) Se é verdade que somos tanto menos felizes quanto mais esperamos sê-lo, também é verdade que esperamos tanto menos sê-lo quanto mais já o somos. (...)
Aqui também Spinoza tem razão: “Não há esperança sem temor, nem temor sem esperança.(...) O sábio não tem mais nada a esperar/aguardar, nem a esperar/ter esperança. Por ser plenamente feliz, não lhe falta nada. E, porque não lhe falta nada, é plenamente feliz. (...) A sabedoria é a serenidade, a ausência de temor. (...)
Não é uma palavra que tomo emprestada de Spinoza, mas certa idéia. A idéia de beatitude: a felicidade de quem não tem mais nada a esperar. Porque está perdido? Não, porque não tem mais nada a perder, porque está salvo, salvo aqui e agora. (...)
Diz [o poeta] Nicolas Chamfort: “Eu colocaria de bom grado na porta do paraíso o verso que Dante colocou na do inferno: ‘Abandonai toda esperança, vós que entrais’ O que queria dizer Chamfort? Que colocar essa frase na porta do inferno é inútil. Como querer que os danados não tenham esperança? Eles sofrem demais! (...) Santo Agostinho e São Tomás escreveram que no Reino já não haverá esperança (...), não haverá mais que a verdade e o amor. (...)
Não é a esperança que nos leva a agir. É a compaixão, o amor e a vontade. (...) O real é para pegar ou largar. A sabedoria está em pegá-lo: o sábio é parte ativa do universo.
Há, no entanto, outra maneira de encarar essa questão. Olhar assim, na contramão das elaborações lastreadas em devaneios e no medo, descortina a virtude que há em apoiarmo-nos mais na aceitação e na ação do que na esperança, focados no que temos e podemos fruir e processar e não naquilo que nos falta e que não depende de nós.
Eis aí uma questão espiritual que é brilhantemente abordada e, a meu ver, resolvida, por um filósofo ateu, o francês André Comte-Sponville. É de seu notável “A Felicidade, Desesperadamente” que recolho essas pérolas que abalam antigas referências, mas acalmam o coração:
O que é a esperança? É um desejo que se refere ao que não temos (uma falta) e que ignoramos se foi ou será satisfeito, enfim cuja satisfação não depende de nós. (...)
O prazer, o conhecimento e a ação não têm a ver com a esperança, e até, relativamente à realidade deles, a excluem. (...) Se é verdade que somos tanto menos felizes quanto mais esperamos sê-lo, também é verdade que esperamos tanto menos sê-lo quanto mais já o somos. (...)
Aqui também Spinoza tem razão: “Não há esperança sem temor, nem temor sem esperança.(...) O sábio não tem mais nada a esperar/aguardar, nem a esperar/ter esperança. Por ser plenamente feliz, não lhe falta nada. E, porque não lhe falta nada, é plenamente feliz. (...) A sabedoria é a serenidade, a ausência de temor. (...)
Não é uma palavra que tomo emprestada de Spinoza, mas certa idéia. A idéia de beatitude: a felicidade de quem não tem mais nada a esperar. Porque está perdido? Não, porque não tem mais nada a perder, porque está salvo, salvo aqui e agora. (...)
Diz [o poeta] Nicolas Chamfort: “Eu colocaria de bom grado na porta do paraíso o verso que Dante colocou na do inferno: ‘Abandonai toda esperança, vós que entrais’ O que queria dizer Chamfort? Que colocar essa frase na porta do inferno é inútil. Como querer que os danados não tenham esperança? Eles sofrem demais! (...) Santo Agostinho e São Tomás escreveram que no Reino já não haverá esperança (...), não haverá mais que a verdade e o amor. (...)
Não é a esperança que nos leva a agir. É a compaixão, o amor e a vontade. (...) O real é para pegar ou largar. A sabedoria está em pegá-lo: o sábio é parte ativa do universo.
Oráculo
Publicado na edição de 01/01/13
Eu sei... a realização é aqui e agora. Não é amanhã ou depois. E quem mergulhou na vida, deixando-se fluir no mistério, encerrou a busca. Perguntas perdem o sentido quando não há mais necessidade de respostas. Mas sei também que é do jogo das formas, no qual nos reconhecemos ao reconhecermos a ilusão, a inevitabilidade da busca e a importância das perguntas. Retirar desse cenário as indagações é como surrupiar a bola do gramado ou esconder as peças do tabuleiro de xadrez. Não haverá jogo.
Estamos sempre diante do oráculo, fazendo perguntas que, por sua vez, refletem o nosso estágio de consciência. Esse processo se aplica a indivíduos e a gerações, repetindo-se em um movimento espiralado no qual o refinamento de questões recorrentes, ao longo dos séculos, não consegue ocultar a incompletude das respostas.
Não é mal. Perguntar (e repetir perguntas sob novas formulações) não é o que nos faz sentirmo-nos vivos nesta roda das aparências? A saga do herói é a descoberta de si mesmo num contínuo que se estende da imanência inconsciente à consciência da transcendência.
Em seu nível básico, nossas perguntas dizem respeito à sobrevivência do corpo e do ego. É o questionário das multidões, repleto de itens pontuais e imediatistas: Estarei vivo amanhã? Serei rico ou pobre? Terei poder? Serei amado? Irei para o céu ou para o inferno? O que fazer para mudar meu destino? São todas questões “pequenas” que, obviamente, jamais produzirão “grandes” respostas. Só grandes perguntas são capazes de provocar replicações de mesma estatura, às quais tem o poder de suscitar, inclusive, respostas mais claras e precisas às perguntas anãs de nosso nível vegetativo.
Grandes perguntas quase sempre têm conteúdo, digamos, “etéreo”, mas suas respostas podem alterar profundamente a concretude do mundo. Questões como “quem sou eu?” , “que é Deus?”, “que é o universo?” e uma fieira de reflexões filosóficas estão na origem daquilo que hoje chamamos de ciência e tecnologia. Não há nenhum grande vulto da ciência (de Isaac Newton a Einstein ou Niels Bohr, se quisermos focar apenas a física) que não tenha sido instigado por temas dos cardápios filosófico e místico.
Certamente as gerações futuras perceberão melhor que nós as consequências, para as pessoas e para o mundo, das reflexões ecofilosóficas e do renascimento espiritual desse início de século. Mas hoje, 1º de janeiro de 2013, para mim e para você o ponto é: que perguntas eu e você temos a fazer ao oráculo da vida nesta virada do calendário?
Quaisquer que sejam as respostas obtidas, penso que a melhor ainda será aquela que a sabedoria ancestral inscreveu à porta do oráculo de Delfos, na Grécia antiga: “Homem, conhece-te a ti mesmo”.
Estamos sempre diante do oráculo, fazendo perguntas que, por sua vez, refletem o nosso estágio de consciência. Esse processo se aplica a indivíduos e a gerações, repetindo-se em um movimento espiralado no qual o refinamento de questões recorrentes, ao longo dos séculos, não consegue ocultar a incompletude das respostas.
Não é mal. Perguntar (e repetir perguntas sob novas formulações) não é o que nos faz sentirmo-nos vivos nesta roda das aparências? A saga do herói é a descoberta de si mesmo num contínuo que se estende da imanência inconsciente à consciência da transcendência.
Em seu nível básico, nossas perguntas dizem respeito à sobrevivência do corpo e do ego. É o questionário das multidões, repleto de itens pontuais e imediatistas: Estarei vivo amanhã? Serei rico ou pobre? Terei poder? Serei amado? Irei para o céu ou para o inferno? O que fazer para mudar meu destino? São todas questões “pequenas” que, obviamente, jamais produzirão “grandes” respostas. Só grandes perguntas são capazes de provocar replicações de mesma estatura, às quais tem o poder de suscitar, inclusive, respostas mais claras e precisas às perguntas anãs de nosso nível vegetativo.
Grandes perguntas quase sempre têm conteúdo, digamos, “etéreo”, mas suas respostas podem alterar profundamente a concretude do mundo. Questões como “quem sou eu?” , “que é Deus?”, “que é o universo?” e uma fieira de reflexões filosóficas estão na origem daquilo que hoje chamamos de ciência e tecnologia. Não há nenhum grande vulto da ciência (de Isaac Newton a Einstein ou Niels Bohr, se quisermos focar apenas a física) que não tenha sido instigado por temas dos cardápios filosófico e místico.
Certamente as gerações futuras perceberão melhor que nós as consequências, para as pessoas e para o mundo, das reflexões ecofilosóficas e do renascimento espiritual desse início de século. Mas hoje, 1º de janeiro de 2013, para mim e para você o ponto é: que perguntas eu e você temos a fazer ao oráculo da vida nesta virada do calendário?
Quaisquer que sejam as respostas obtidas, penso que a melhor ainda será aquela que a sabedoria ancestral inscreveu à porta do oráculo de Delfos, na Grécia antiga: “Homem, conhece-te a ti mesmo”.
Um floco de neve em 2013
Publicado na edição de 25/12/12
Nossa manhã do Natal é ensolarada e ardente e, se você me encontrou nas páginas da edição impressa ou na tela futurista de seu tablet nesta etapa do dia, talvez ainda empanturrado pelos excessos da véspera, eu lhe peço: sente, respire, contemple o azul do céu e as nuvens que se movimentam serenas e só depois, sentindo o refrigério que a tranquilidade proporciona mesmo nos dias mais tórridos, retorne à leitura deste texto.
Na manhã calorenta de nosso Natal, eu queria lhe falar de neve, um simples floco de neve. E, então, convidá-lo para extrairmos juntos de uma fábula do livro “New Fables: Thus Spoke the Caribou”, de Kurt Kauter, publicada pela revista Thot em 1993, uma inspiração e um estímulo para a caminhada no ano novo que vem aí.
O conto singelo e conciso é especialmente útil para quem desacreditou ou sequer ainda despertou para a importância dos pequenos gestos e ações na construção do mundo e na realização da utopia.
Na manhã calorenta de nosso Natal, eu queria lhe falar de neve, um simples floco de neve. E, então, convidá-lo para extrairmos juntos de uma fábula do livro “New Fables: Thus Spoke the Caribou”, de Kurt Kauter, publicada pela revista Thot em 1993, uma inspiração e um estímulo para a caminhada no ano novo que vem aí.
O conto singelo e conciso é especialmente útil para quem desacreditou ou sequer ainda despertou para a importância dos pequenos gestos e ações na construção do mundo e na realização da utopia.
- Sabes me dizer quanto pesa um floco de neve? - perguntou um pardal a uma pomba silvestre.
- Nada de nada - foi a resposta.
- Nesse caso vou lhe contar uma história maravilhosa - disse o pardal. Eu estava sentado no ramo de um pinheiro quando começou a nevar. Não era nevasca pesada ou furiosa. Nevava como em um sonho: sem ruído nem violência. Já que não tinha nada melhor a fazer, pus-me a contar os flocos de neve que se acumulavam nos galhos e agulhas do meu ramo. Contei exatamente 3.741.952. Quando o floco número 3.741.953 pousou sobre o ramo - nada de nada como você diz - o ramo se quebrou.
Dito isso, o pardal partiu em voo.
A pomba, uma autoridade no assunto desde Noé, pensou um pouco na história e finalmente refletiu:
- Talvez esteja faltando uma única voz para trazer paz ao mundo.
- Nada de nada - foi a resposta.
- Nesse caso vou lhe contar uma história maravilhosa - disse o pardal. Eu estava sentado no ramo de um pinheiro quando começou a nevar. Não era nevasca pesada ou furiosa. Nevava como em um sonho: sem ruído nem violência. Já que não tinha nada melhor a fazer, pus-me a contar os flocos de neve que se acumulavam nos galhos e agulhas do meu ramo. Contei exatamente 3.741.952. Quando o floco número 3.741.953 pousou sobre o ramo - nada de nada como você diz - o ramo se quebrou.
Dito isso, o pardal partiu em voo.
A pomba, uma autoridade no assunto desde Noé, pensou um pouco na história e finalmente refletiu:
- Talvez esteja faltando uma única voz para trazer paz ao mundo.
Pense nisso.
Aprendemos a superestimar o papel das instituições e do poder constituído, como se a essência deles emanasse de estruturas materiais, leis e armas - e não dos indivíduos, suas crenças, valores e atitudes.
Queremos mudar o mundo e melhorar a vida confinando-nos no conforto da espera passiva ou da indignação artificial, que se esgota na crítica pela crítica, enquanto no dia a dia validamos e fortalecemos com nossas escolhas e ações da vida pessoal tudo aquilo que combatemos nas tribunas, nas mesas de bar e nas redes sociais.
No fundo, seguimos descrentes de nós próprios, sentados nos tronos de nossos apartamentos, esperando a morte chegar, como diria o rebelde Raul Seixas. Nada de nada é o peso que atribuímos ao exemplo e a persistência de cada homem no lugar e na posição a que foi chamado pela vida.
Nosso floco de neve, no entanto, atua e faz pressão e pode ser o suficiente para romper o galho de velhos vícios.
Feliz 2013!
Aprendemos a superestimar o papel das instituições e do poder constituído, como se a essência deles emanasse de estruturas materiais, leis e armas - e não dos indivíduos, suas crenças, valores e atitudes.
Queremos mudar o mundo e melhorar a vida confinando-nos no conforto da espera passiva ou da indignação artificial, que se esgota na crítica pela crítica, enquanto no dia a dia validamos e fortalecemos com nossas escolhas e ações da vida pessoal tudo aquilo que combatemos nas tribunas, nas mesas de bar e nas redes sociais.
No fundo, seguimos descrentes de nós próprios, sentados nos tronos de nossos apartamentos, esperando a morte chegar, como diria o rebelde Raul Seixas. Nada de nada é o peso que atribuímos ao exemplo e a persistência de cada homem no lugar e na posição a que foi chamado pela vida.
Nosso floco de neve, no entanto, atua e faz pressão e pode ser o suficiente para romper o galho de velhos vícios.
Feliz 2013!
Espírito do Natal
Publicado na edição de 18/12/12
E o meu coração, do fundo do coração, pergunta ao seu coração: o que você sente na noite do Natal?
Uma emoção desmantelada, como a de um corintiano na conquista de mais um título no futebol? Um estado de êxtase, como o de um mangueirense ao ver sua escola brilhando no sambódromo? Uma alegria incomparável, como aquela que sentimos no nascimento do primeiro filho?
Certamente o Natal jamais produzirá sentimentos religiosos (esse é o nome) tão fortes e irrefreáveis quanto os que experimentamos em situações apaixonantes da rotina profana. Torcedores como os da Gaviões da Fiel são fundamentalistas, mangueirenses são crentes em transe, qualquer um de nós frente ao rebento que invade o nosso lar é devoto ajoelhado ante o milagre da vida.
O Natal é, ao mesmo tempo, suave e denso. É brisa que acalma no calor tórrido do verão e furacão que abala nossos alicerces. O Natal é assim. Ou já foi assim, quando a visão de um universo encantado nos mantinha mais próximos ao chão e mais sensíveis, unidos pelo sentimento de pertença ao mistério insondável da vida e da criação.
Se você não é capaz de mergulhar nesse estado de ânimo na noite simbólica de 24 de dezembro, desconfio de que se tenha perdido ou jamais tenha encontrado o espírito natalino. E esta não é uma questão religiosa.
Não é necessário ser cristão para entender e viver o Natal. Seu sentido é universal, transcende a rótulos e castas que emergem das classificações. O nascimento e a vida de Jesus são eventos que ameaçam velhas referências, a partir de uma experiência radical de despojamento, abertura e inclusão. Em resumo, a imagem da manjedoura é a exaltação da simplicidade e a trajetória do homem Jesus, uma convocação à liberdade do amor num mundo aprisionado a preconceitos e temores.
Penso que a única condição para alguém vivenciar o espírito do Natal é romper o casulo do racionalismo e do individualismo utilitarista. É tornar-se criança, curiosa e prestativa, rolando na grama com amiguinhos que acaba de conhecer. É reencantar o universo e resgatar a equanimidade ante as contradições e paradoxos da vida, o traço mais marcante da presença do amor, conciliando as diferenças.
O Natal é delicado, mas também rude. Enleva-nos com a alegria da confraternização e assusta-nos com o chamado à realidade na rememoração da família, nosso paraíso e nosso inferno. É reencontro, mas também soledade, na evocação de eventos afetivos que preferimos sufocar a compreender. É diálogo entre anjos e demônios que a maioria tenta ocultar sob a mesa lauta e em corpos embriagados.
Não o tema, porém. O Natal é uma bela chance de nos conhecermos e crescermos a partir de nossa singularidade. Ele pode ser alegre ou triste, mas nunca será insípido ou irrelevante.
Feliz Natal!
Certamente o Natal jamais produzirá sentimentos religiosos (esse é o nome) tão fortes e irrefreáveis quanto os que experimentamos em situações apaixonantes da rotina profana. Torcedores como os da Gaviões da Fiel são fundamentalistas, mangueirenses são crentes em transe, qualquer um de nós frente ao rebento que invade o nosso lar é devoto ajoelhado ante o milagre da vida.
O Natal é, ao mesmo tempo, suave e denso. É brisa que acalma no calor tórrido do verão e furacão que abala nossos alicerces. O Natal é assim. Ou já foi assim, quando a visão de um universo encantado nos mantinha mais próximos ao chão e mais sensíveis, unidos pelo sentimento de pertença ao mistério insondável da vida e da criação.
Se você não é capaz de mergulhar nesse estado de ânimo na noite simbólica de 24 de dezembro, desconfio de que se tenha perdido ou jamais tenha encontrado o espírito natalino. E esta não é uma questão religiosa.
Não é necessário ser cristão para entender e viver o Natal. Seu sentido é universal, transcende a rótulos e castas que emergem das classificações. O nascimento e a vida de Jesus são eventos que ameaçam velhas referências, a partir de uma experiência radical de despojamento, abertura e inclusão. Em resumo, a imagem da manjedoura é a exaltação da simplicidade e a trajetória do homem Jesus, uma convocação à liberdade do amor num mundo aprisionado a preconceitos e temores.
Penso que a única condição para alguém vivenciar o espírito do Natal é romper o casulo do racionalismo e do individualismo utilitarista. É tornar-se criança, curiosa e prestativa, rolando na grama com amiguinhos que acaba de conhecer. É reencantar o universo e resgatar a equanimidade ante as contradições e paradoxos da vida, o traço mais marcante da presença do amor, conciliando as diferenças.
O Natal é delicado, mas também rude. Enleva-nos com a alegria da confraternização e assusta-nos com o chamado à realidade na rememoração da família, nosso paraíso e nosso inferno. É reencontro, mas também soledade, na evocação de eventos afetivos que preferimos sufocar a compreender. É diálogo entre anjos e demônios que a maioria tenta ocultar sob a mesa lauta e em corpos embriagados.
Não o tema, porém. O Natal é uma bela chance de nos conhecermos e crescermos a partir de nossa singularidade. Ele pode ser alegre ou triste, mas nunca será insípido ou irrelevante.
Feliz Natal!
O mal do monge
Publicado na edição de 11/12/12
Certa vez eu ouvi uma psicóloga afirmar que os monges optam por não possuírem nada por serem pessoas que tem grande dificuldade em compartilhar coisas e emoções. Na opinião da especialista, eles preferem viver em pobreza extrema a ter que dividir algo com os outros. Logo, seriam criaturas egoístas e avarentas que justificam sua indiferença com o argumento do desapego e da simplicidade.
Considerei esse juízo exagerado e preconceituoso. Toda generalização é perigosa. Mas reconheço: até na vida de místicos que legaram preciosas contribuições à filosofia, a partir de suas experiências contemplativas, há traços da avareza que exclui o amor e instala a injustiça na rotina social. É difícil, muito difícil, exercermos o desapego total. Isso exige uma clareza de visão e percepção da interdependência de todos os seres, coisas e eventos que não são resultado de um ato de vontade ou do mero isolamento, mas da observação contínua e serena do fluxo da vida.
É clássica a história de um monge gnóstico de Alexandria, no segundo século, que se desvencilhara rapidamente da fortuna que herdara, mas, no monastério, recusava-se a emprestar uma velha borracha aos seus companheiros por medo de que não a devolvessem. Como esse anacoreta, também somos capazes de grandes gestos de desapego exterior, que nos massageiam o ego com a idéia de que nos tornamos virtuosos, mantendo-nos, porém, atados a detalhes que nos impedem de viver a plenitude do amor e das trocas.
Penso que o “mal do monge” existe, não como uma doença de homens e mulheres que decidem se exercitar na solidão, guiados por motivações nobres ou mesquinhas, mas como uma pandemia que permeia a convivência humana. Hoje, apesar do aumento de nossos contatos físicos e virtuais, ainda é imensa a multidão dos que temem repartir, a começar pelos próprios sentimentos.
Refiro-me, obviamente, às trocas reais e sinceras, fora do alcance dos holofotes sob os quais exibimos o verniz das etiquetas e os papéis com os quais nossa avareza busca acumular “ganhos” materiais ou abstratos como mecanismo de defesa.
O pano de fundo dessa pantomima social é sempre o medo, sentimento que polariza com o amor e sustentáculo da triste vida dos que temem a carência física ou emocional, aprisionando-se nas celas escuras da hipocrisia ou da rigidez.
Um perfeccionista até poderá enganar a si mesmo e aos outros, conservando impecável o mundo das aparências. Mas, sem autenticidade, um dia acabará acordando para a sabedoria do apóstolo Paulo em seu poema inigualável sobre a caridade: “Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará”.
Considerei esse juízo exagerado e preconceituoso. Toda generalização é perigosa. Mas reconheço: até na vida de místicos que legaram preciosas contribuições à filosofia, a partir de suas experiências contemplativas, há traços da avareza que exclui o amor e instala a injustiça na rotina social. É difícil, muito difícil, exercermos o desapego total. Isso exige uma clareza de visão e percepção da interdependência de todos os seres, coisas e eventos que não são resultado de um ato de vontade ou do mero isolamento, mas da observação contínua e serena do fluxo da vida.
É clássica a história de um monge gnóstico de Alexandria, no segundo século, que se desvencilhara rapidamente da fortuna que herdara, mas, no monastério, recusava-se a emprestar uma velha borracha aos seus companheiros por medo de que não a devolvessem. Como esse anacoreta, também somos capazes de grandes gestos de desapego exterior, que nos massageiam o ego com a idéia de que nos tornamos virtuosos, mantendo-nos, porém, atados a detalhes que nos impedem de viver a plenitude do amor e das trocas.
Penso que o “mal do monge” existe, não como uma doença de homens e mulheres que decidem se exercitar na solidão, guiados por motivações nobres ou mesquinhas, mas como uma pandemia que permeia a convivência humana. Hoje, apesar do aumento de nossos contatos físicos e virtuais, ainda é imensa a multidão dos que temem repartir, a começar pelos próprios sentimentos.
Refiro-me, obviamente, às trocas reais e sinceras, fora do alcance dos holofotes sob os quais exibimos o verniz das etiquetas e os papéis com os quais nossa avareza busca acumular “ganhos” materiais ou abstratos como mecanismo de defesa.
O pano de fundo dessa pantomima social é sempre o medo, sentimento que polariza com o amor e sustentáculo da triste vida dos que temem a carência física ou emocional, aprisionando-se nas celas escuras da hipocrisia ou da rigidez.
Um perfeccionista até poderá enganar a si mesmo e aos outros, conservando impecável o mundo das aparências. Mas, sem autenticidade, um dia acabará acordando para a sabedoria do apóstolo Paulo em seu poema inigualável sobre a caridade: “Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará”.
Um homem livre
Publicado na edição de 04/12/12
Um detalhe na reportagem sobre a vida do presidente do Uruguai, Pepe Mujica, exibida no domingo pela Rede Globo, deve ter passado despercebido de muita gente. No final da matéria “O presidente mais pobre do mundo”, os apresentadores do “Fantástico” não fizeram nenhum daqueles gestos com que manifestam aprovação ou surpresa diante do que acaba de ser noticiado. Mantiveram-se impassíveis, até engatarem a chamada da próxima atração.
Para mim, isso é simbólico. Imagino que milhões de telespectadores, ao contrário do que se espera, também acharam esquisito um presidente que renuncia ao conforto do palácio presidencial para continuar morando em sua pequena chácara, doa 80 % de seu salário para instituições de caridade, vai para o trabalho dirigindo seu velho Fusca e, sempre que pode, dispensa ternos e os rapapés do poder. Não nos livramos facilmente da influência de conceitos atávicos e da ritualística que nos faz acreditar que situações criadas em função de crenças e ideologias são eventos naturais que existem desde sempre.
As câmeras mostraram a singeleza da casa do presidente, mais modesta que as da emergente classe C brasileira, mas não puderam capturar cenas ainda mais despojadas de seu dia a dia. Um presidente que vai pessoalmente comprar uma tampa de privada e que, reconhecido por jogadores de um time de várzea, aceita o convite para dar ali mesmo uma palestra para a equipe é excêntrico. Talvez para as nossas elites Mujica não passe de um populista, e para os nossos pobres seja apenas um tolo. Onde já se viu alguém dar de cara com a fortuna e recusar-se a deitar com ela?
Tenho discordâncias com o presidente uruguaio. Afinal, eu não aprovaria sua aprovação à descriminalização incondicional do aborto e ainda estaria discutindo sua opção pela descriminalização da maconha, sob o argumento de que assim se destruirá a máquina do narcotráfico (improvável, se o homem, desconectado de si mesmo, continuar dependente de emoções eletrizantes). Mas eu não poderia deixar de tirar o chapéu para esse idealista que maturou na prisão, sob a ditadura que ele ajudou a derrubar, um estilo de vida lastreado em profunda sabedoria.
Mujica quer usar a política como instrumento de mudança, mas não quer ser escravo de sua estrutura. Quer mostrar que o líder deve ser servidor e não servido (um velho ensinamento cristão), e que é possível viver bem com menos. O ex-guerrilheiro tupamaro, que um dia quis mudar o mundo pelas armas, descobriu, enfim, que sistemas viciados só ruem quando os indivíduos os enfrentam vivendo sob novos valores.
“Eu não sou pobre”, diz o presidente uruguaio. “Pobre é quem necessita de muito para viver. Tenho privacidade e tempo para cuidar das coisas que realmente gosto”. Ghandi e Francisco de Assis certamente concordariam com ele.
Para mim, isso é simbólico. Imagino que milhões de telespectadores, ao contrário do que se espera, também acharam esquisito um presidente que renuncia ao conforto do palácio presidencial para continuar morando em sua pequena chácara, doa 80 % de seu salário para instituições de caridade, vai para o trabalho dirigindo seu velho Fusca e, sempre que pode, dispensa ternos e os rapapés do poder. Não nos livramos facilmente da influência de conceitos atávicos e da ritualística que nos faz acreditar que situações criadas em função de crenças e ideologias são eventos naturais que existem desde sempre.
As câmeras mostraram a singeleza da casa do presidente, mais modesta que as da emergente classe C brasileira, mas não puderam capturar cenas ainda mais despojadas de seu dia a dia. Um presidente que vai pessoalmente comprar uma tampa de privada e que, reconhecido por jogadores de um time de várzea, aceita o convite para dar ali mesmo uma palestra para a equipe é excêntrico. Talvez para as nossas elites Mujica não passe de um populista, e para os nossos pobres seja apenas um tolo. Onde já se viu alguém dar de cara com a fortuna e recusar-se a deitar com ela?
Tenho discordâncias com o presidente uruguaio. Afinal, eu não aprovaria sua aprovação à descriminalização incondicional do aborto e ainda estaria discutindo sua opção pela descriminalização da maconha, sob o argumento de que assim se destruirá a máquina do narcotráfico (improvável, se o homem, desconectado de si mesmo, continuar dependente de emoções eletrizantes). Mas eu não poderia deixar de tirar o chapéu para esse idealista que maturou na prisão, sob a ditadura que ele ajudou a derrubar, um estilo de vida lastreado em profunda sabedoria.
Mujica quer usar a política como instrumento de mudança, mas não quer ser escravo de sua estrutura. Quer mostrar que o líder deve ser servidor e não servido (um velho ensinamento cristão), e que é possível viver bem com menos. O ex-guerrilheiro tupamaro, que um dia quis mudar o mundo pelas armas, descobriu, enfim, que sistemas viciados só ruem quando os indivíduos os enfrentam vivendo sob novos valores.
“Eu não sou pobre”, diz o presidente uruguaio. “Pobre é quem necessita de muito para viver. Tenho privacidade e tempo para cuidar das coisas que realmente gosto”. Ghandi e Francisco de Assis certamente concordariam com ele.
Filhos da vida
Publicado na edição de 27/11/12
Nossos filhos não são nossos. Eles são da vida. São filhos da vida. Pais e mães são apenas veículos por meio dos quais seus corpos se materializam, lançando-os no fluxo dessa dimensão de formas a fim de que cumpram o próprio destino. Um pouco mais, na verdade: pais são tutores e preceptores temporários, encarregados de regar e podar uma planta que logo se tornará robusta e única no bosque da existência.
Essa visão não reduz e nem menospreza a dura e indispensável missão dos pais na formação intelectual e espiritual dos filhos, mas - penso - poderia contribuir para ajustar as relações familiares e evitar muito sofrimento no dia a dia de pais e filhos. Quando excluímos ou, pelo menos, relegamos ao segundo plano o pronome possessivo “meu”, tudo fica mais fácil em nosso relacionamento com o próximo e conosco mesmos. Ter a consciência de que nada nos pertence e nem está submetido ao nosso controle, alarga o horizonte das possibilidades e nos salva da rigidez da morte das posturas inflexíveis.
Talvez a primeira e a mais discreta consequência do entendimento de que os filhos pertencem à vida seja a expansão de nossa sensibilidade - e responsabilidade! - diante de todas as crianças e jovens. Superamos a neurastenia possessiva de quem entra em pânico com a simples falta de apetite de seu descendente e passa indiferente ante à fome do filho do vizinho e, sobretudo, a dos excluídos do banquete social. Não “possuir” um filho é um acesso para adotar todos os filhos do mundo, tornando-nos solidários e cooperativos. Menos posse na paternidade pode significar mais compaixão na gestão do mundo.
No cotidiano da família esse choque de realidade, certamente, faria florescer talentos reprimidos por pais frustrados que tentam moldar os filhos na forma dos próprios desejos, fomentando assim a gentileza e a confiança em casa. E, de outro lado, poderia evitar a indisciplina, as manipulações e o desrespeito que pontuam as relações domésticas baseadas na posse e no medo.
Posse e medo no exercício da paternidade geram ou superproteção ou despotismo, atitudes extremadas cujo alto custo abrange muito além dos limites do lar. Filhos mimados (e manipuladores) ou vítimas de brutalidades (que se tornaram brutais) quase sempre contribuem para as estatísticas da delinquência enrustida entre jovens ricos e da classe média.
A aceitação de que nossos filhos são filhos da vida traz, enfim, para a relação familiar os ingredientes fundamentais do amor e da liberdade e suas inevitáveis parcerias com a justiça e a responsabilidade. Livres do medo de “perder” controle ou afeto, os pais se tornam aptos a escolher a atitude apropriada a cada circunstância, respeitando limites e fixando obrigações.
Essa visão não reduz e nem menospreza a dura e indispensável missão dos pais na formação intelectual e espiritual dos filhos, mas - penso - poderia contribuir para ajustar as relações familiares e evitar muito sofrimento no dia a dia de pais e filhos. Quando excluímos ou, pelo menos, relegamos ao segundo plano o pronome possessivo “meu”, tudo fica mais fácil em nosso relacionamento com o próximo e conosco mesmos. Ter a consciência de que nada nos pertence e nem está submetido ao nosso controle, alarga o horizonte das possibilidades e nos salva da rigidez da morte das posturas inflexíveis.
Talvez a primeira e a mais discreta consequência do entendimento de que os filhos pertencem à vida seja a expansão de nossa sensibilidade - e responsabilidade! - diante de todas as crianças e jovens. Superamos a neurastenia possessiva de quem entra em pânico com a simples falta de apetite de seu descendente e passa indiferente ante à fome do filho do vizinho e, sobretudo, a dos excluídos do banquete social. Não “possuir” um filho é um acesso para adotar todos os filhos do mundo, tornando-nos solidários e cooperativos. Menos posse na paternidade pode significar mais compaixão na gestão do mundo.
No cotidiano da família esse choque de realidade, certamente, faria florescer talentos reprimidos por pais frustrados que tentam moldar os filhos na forma dos próprios desejos, fomentando assim a gentileza e a confiança em casa. E, de outro lado, poderia evitar a indisciplina, as manipulações e o desrespeito que pontuam as relações domésticas baseadas na posse e no medo.
Posse e medo no exercício da paternidade geram ou superproteção ou despotismo, atitudes extremadas cujo alto custo abrange muito além dos limites do lar. Filhos mimados (e manipuladores) ou vítimas de brutalidades (que se tornaram brutais) quase sempre contribuem para as estatísticas da delinquência enrustida entre jovens ricos e da classe média.
A aceitação de que nossos filhos são filhos da vida traz, enfim, para a relação familiar os ingredientes fundamentais do amor e da liberdade e suas inevitáveis parcerias com a justiça e a responsabilidade. Livres do medo de “perder” controle ou afeto, os pais se tornam aptos a escolher a atitude apropriada a cada circunstância, respeitando limites e fixando obrigações.
A próxima onda
Publicado na edição de 20/11/12
Os jornais, as revistas e, sobretudo, a TV voltaram ao velho tema da onda de violência em São Paulo e outras cidades onde máfias comandadas de dentro dos presídios confrontam o estado nas ruas, reforçando o medo que sustenta tiragens e audiências.
Note: eu disse “velho tema”. Apenas essa expressão já inspiraria um ensaio que, obviamente, não caberia nos 2 600 caracteres desta simples crônica. Ainda assim, recorro a um argumento ululante na esperança de que possamos ver o que não vemos enquanto mergulhados na passividade do medo e na inconsciência do egoísmo: quantas vezes você já leu ou assistiu sobre ondas de violência em cidades brasileiras nos últimos 40 anos?
A primeira vez em que escrevi sobre o assunto foi no final dos 70, eu iniciando na revista “Veja”. O foco era o Rio de Janeiro, que nunca saiu desse tipo noticiário, e, naquela época, já comparávamos os números de nossa batalha urbana aos de países em guerra civil e até aos da guerra do Vietnã. As reportagens também já falavam da associação de policiais a criminosos, de maus policiais tramando a morte de colegas que cumpriam com o seu dever, de agentes da lei faturando “por fora” de empresários e gangues, de ampla corrupção na máquina da segurança pública...
Que mudanças efetivamente aconteceram de lá para cá? O aumento da população carcerária, a sofisticação tecnológica do aparelho policial, as facilidades de comunicação e mobilidade (aí inclusos os celulares que chegam “voando” às celas) e, claro, o aumento colossal do valor das propinas.
Nada, ou quase nada, foi feito no sentido do que realmente importa para a solução de nossa crise de segurança e suas causas endêmicas: um choque de ética na polícia, na administração penitenciária e na política, onde nasce o filão de todas as práticas corruptoras; melhoria da infraestrutura e uma revolução na rotina dos presídios, tornando-os centros de reeducação e não casas de tortura e escolas do crime; educação e assistência à família e, principalmente, aos jovens (inclusive os da classe média e os ricos), trabalhando valores éticos cooperativos que o materialismo e a selva do mercado sufocaram.
Pior: com raras exceções, continuamos cegos diante das evidências. Como no passado, o sensacionalismo da imprensa, os espasmos bipolares do senso comum, os interesses corporativos e a esperteza da corrupção continuam a apostar todas as fichas na repressão, cara e inútil, como o tempo tem mostrado.
Em situações de emergência, o braço forte do estado precisa e deve ser acionado, mas está provado que ele não pode ir além da contenção de efeitos por algum tempo. Sem atuar sobre as raízes éticas e sociais do problema, sempre haveremos de nos perguntar: e quando virá a próxima onda?
Note: eu disse “velho tema”. Apenas essa expressão já inspiraria um ensaio que, obviamente, não caberia nos 2 600 caracteres desta simples crônica. Ainda assim, recorro a um argumento ululante na esperança de que possamos ver o que não vemos enquanto mergulhados na passividade do medo e na inconsciência do egoísmo: quantas vezes você já leu ou assistiu sobre ondas de violência em cidades brasileiras nos últimos 40 anos?
A primeira vez em que escrevi sobre o assunto foi no final dos 70, eu iniciando na revista “Veja”. O foco era o Rio de Janeiro, que nunca saiu desse tipo noticiário, e, naquela época, já comparávamos os números de nossa batalha urbana aos de países em guerra civil e até aos da guerra do Vietnã. As reportagens também já falavam da associação de policiais a criminosos, de maus policiais tramando a morte de colegas que cumpriam com o seu dever, de agentes da lei faturando “por fora” de empresários e gangues, de ampla corrupção na máquina da segurança pública...
Que mudanças efetivamente aconteceram de lá para cá? O aumento da população carcerária, a sofisticação tecnológica do aparelho policial, as facilidades de comunicação e mobilidade (aí inclusos os celulares que chegam “voando” às celas) e, claro, o aumento colossal do valor das propinas.
Nada, ou quase nada, foi feito no sentido do que realmente importa para a solução de nossa crise de segurança e suas causas endêmicas: um choque de ética na polícia, na administração penitenciária e na política, onde nasce o filão de todas as práticas corruptoras; melhoria da infraestrutura e uma revolução na rotina dos presídios, tornando-os centros de reeducação e não casas de tortura e escolas do crime; educação e assistência à família e, principalmente, aos jovens (inclusive os da classe média e os ricos), trabalhando valores éticos cooperativos que o materialismo e a selva do mercado sufocaram.
Pior: com raras exceções, continuamos cegos diante das evidências. Como no passado, o sensacionalismo da imprensa, os espasmos bipolares do senso comum, os interesses corporativos e a esperteza da corrupção continuam a apostar todas as fichas na repressão, cara e inútil, como o tempo tem mostrado.
Em situações de emergência, o braço forte do estado precisa e deve ser acionado, mas está provado que ele não pode ir além da contenção de efeitos por algum tempo. Sem atuar sobre as raízes éticas e sociais do problema, sempre haveremos de nos perguntar: e quando virá a próxima onda?
Devagar com o andor...
Publicado na edição de 13/11/12
Ao comentarem o romantismo, movimento filosófico e literário que agitou a Europa dos séculos 18 e 19, como reação ao racionalismo iluminista, os historiadores concordam em dois detalhes: os românticos, muitos deles boêmios, morriam cedo, quase sempre de tuberculose. Alguns se suicidavam. E entre os que tiveram vida longeva, a maioria deixou de ser romântica e se tornou burgueses e conservadores, críticos dos novos românticos. Essa mudança acontecia por volta dos 30 anos, fase em que o homem, já casado, busca consolidar o patrimônio e estabilizar-se financeiramente.
Hoje reencontrei o registro citado em o “Mundo de Sofia”, de Josteein Gaarder, e a memória logo me conduziu à segunda etapa de minha juventude, eu já atuante na imprensa de São Paulo, contemporâneo das batalhas políticas pela redemocratização do país e colega - nas redações e também na USP, onde estudei e lecionei - de alguns dos mais vibrantes ativistas da esquerda brasileira. Muitos eram barulhentos e autoritários. Cobravam posicionamentos e discriminavam todos os que mantinham relacionamento, ainda que distante, com direitistas, empresários, almofadinhas (como se chamavam os mauricinhos de hoje), admiradores dos Estados Unidos, críticos do socialismo e até com religiosos (a religião era o “ópio do povo”), exceto aqueles que formavam na oposição ao regime.
Não precisei engajar-me em nenhum grupo ou partido, à direita e à esquerda, para seguir no meu caminho profissional merecendo o respeito das pessoas, mas admito que apreciava, como sempre apreciei, o idealismo e a coragem de quem, fiel à própria consciência, é capaz de sacrificar-se e dar a própria vida por um ideal nobre. A questão é que a maioria dos militantes exaltados com que convivi, inclusive na área religiosa, logo se tornariam “românticos longevos”, abandonando suas causas e, não raro, se tornando arautos das idéias e posturas que combatiam.
Com o passar dos anos, vi colegas comunistas se tornarem chefes e patrões despóticos e avaros. Vi puritanos se transformarem em compulsivos indiferentes à dignidade e ao sentimento dos outros. Vi crentes fervorosos entregarem-se ao mais profundo niilismo e - tudo tem o seu oposto! - ateus intransigentes descobrirem a transcendência. Meninos, eu vi, posso dizer a essa altura.
Diante disso, e sabedor do eterno movimento da vida, hoje, bem mais do que antes, aposto as minhas fichas no caminho do meio e no comedimento. Já não digo desta água não beberei, embora me deixe guiar cada vez mais por minhas crenças, tentando viver aquilo em que acredito. A essa altura, meninos, está mais clara para mim a sabedoria popular de que os extremos se tocam e, pelo sim ou pelo não, é sempre melhor ir devagar com o andor, pois o santo é de barro.
Hoje reencontrei o registro citado em o “Mundo de Sofia”, de Josteein Gaarder, e a memória logo me conduziu à segunda etapa de minha juventude, eu já atuante na imprensa de São Paulo, contemporâneo das batalhas políticas pela redemocratização do país e colega - nas redações e também na USP, onde estudei e lecionei - de alguns dos mais vibrantes ativistas da esquerda brasileira. Muitos eram barulhentos e autoritários. Cobravam posicionamentos e discriminavam todos os que mantinham relacionamento, ainda que distante, com direitistas, empresários, almofadinhas (como se chamavam os mauricinhos de hoje), admiradores dos Estados Unidos, críticos do socialismo e até com religiosos (a religião era o “ópio do povo”), exceto aqueles que formavam na oposição ao regime.
Não precisei engajar-me em nenhum grupo ou partido, à direita e à esquerda, para seguir no meu caminho profissional merecendo o respeito das pessoas, mas admito que apreciava, como sempre apreciei, o idealismo e a coragem de quem, fiel à própria consciência, é capaz de sacrificar-se e dar a própria vida por um ideal nobre. A questão é que a maioria dos militantes exaltados com que convivi, inclusive na área religiosa, logo se tornariam “românticos longevos”, abandonando suas causas e, não raro, se tornando arautos das idéias e posturas que combatiam.
Com o passar dos anos, vi colegas comunistas se tornarem chefes e patrões despóticos e avaros. Vi puritanos se transformarem em compulsivos indiferentes à dignidade e ao sentimento dos outros. Vi crentes fervorosos entregarem-se ao mais profundo niilismo e - tudo tem o seu oposto! - ateus intransigentes descobrirem a transcendência. Meninos, eu vi, posso dizer a essa altura.
Diante disso, e sabedor do eterno movimento da vida, hoje, bem mais do que antes, aposto as minhas fichas no caminho do meio e no comedimento. Já não digo desta água não beberei, embora me deixe guiar cada vez mais por minhas crenças, tentando viver aquilo em que acredito. A essa altura, meninos, está mais clara para mim a sabedoria popular de que os extremos se tocam e, pelo sim ou pelo não, é sempre melhor ir devagar com o andor, pois o santo é de barro.
Falta a pergunta certa
Publicado na edição de 06/11/12
É auspicioso que, cada vez mais, venham da ciência notícias de experimentos e teorias que tendem a confirmar uma das crenças básicas do homem: a da existência do espírito e sua sobrevivência à morte do corpo. Como em toda exploração científica, as conclusões aqui também são temporárias, dizem respeito aos dados conhecidos num determinado contexto e, sobretudo, ao tipo de pergunta que suscita uma resposta dentro de um paradigma acadêmico. Mas o volume de estudos criteriosos nessa área nos dá pelo menos a certeza de que, apesar da empáfia de alguns pesquisadores, rompeu-se o círculo de preconceito e a ciência passou a reconhecer a espiritualidade como uma dimensão do ser.
Por ironia do destino, a disciplina que mais produz conhecimentos que, aparentemente, confirmam as ilações das tradições místicas é a aquela que até década atrás mais forneceu argumentos aos materialistas de carteirinha: a física. A contemporânea mecânica quântica contrariou postulados da física clássica e mecanicista e nos revelou um mundo em que a substância (matéria) deixou de ter existência inerente e inflexível. Um universo apoiado em energias e oscilações de ondas e submetido à imprevisibilidade do movimento no nível subatômico não confirma em definitivo essa ou aquela crença religiosa, porém, mina argumentos de palanque materialistas e sugerem que o mundo real é muito mais imaterial do que poderíamos imaginar.
Dados da física, do conhecimento sobre redes e da tecnologia de informática permitem agora analogias que trazem à superfície, por exemplo, a sabedoria ancestral de um Hermes Trismegitus no antigo Egito. E, assim, voltam a ser factíveis afirmações herméticas como: “O todo é mente, o universo é mental. Nada está parado, tudo vibra, tudo se move. O que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. Tudo é duplo, tudo tem seu oposto. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce...”
Quando a nova física e a biologia molecular interagem, então emergem novas e revolucionárias considerações sobre o espírito (seja um ente individualizado ou um princípio universal), mas é aí que, imagino, os pesquisadores não tem formulado a pergunta certa.
Estudos como os do físico britânico Roger Penrose e do médico americano Stuart Hamerroff, que sugere que a consciência resulta de um fenômeno de gravitação quântica em microtúbulos das células cerebrais, o qual persistiria após a desagregação do corpo, enfraquecem a tese materialista da consciência como um epifenômeno de base química, mas ainda referenda o que pode ser um grande equívoco conceitual de religiosos e materialistas. Afinal, não é o corpo que contém o espírito, mas o espírito que contém o corpo - idéia bem mais fácil de ser assimilada hoje, em meio à suposição de o que universo seja apenas uma experiência virtual.
Por ironia do destino, a disciplina que mais produz conhecimentos que, aparentemente, confirmam as ilações das tradições místicas é a aquela que até década atrás mais forneceu argumentos aos materialistas de carteirinha: a física. A contemporânea mecânica quântica contrariou postulados da física clássica e mecanicista e nos revelou um mundo em que a substância (matéria) deixou de ter existência inerente e inflexível. Um universo apoiado em energias e oscilações de ondas e submetido à imprevisibilidade do movimento no nível subatômico não confirma em definitivo essa ou aquela crença religiosa, porém, mina argumentos de palanque materialistas e sugerem que o mundo real é muito mais imaterial do que poderíamos imaginar.
Dados da física, do conhecimento sobre redes e da tecnologia de informática permitem agora analogias que trazem à superfície, por exemplo, a sabedoria ancestral de um Hermes Trismegitus no antigo Egito. E, assim, voltam a ser factíveis afirmações herméticas como: “O todo é mente, o universo é mental. Nada está parado, tudo vibra, tudo se move. O que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. Tudo é duplo, tudo tem seu oposto. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce...”
Quando a nova física e a biologia molecular interagem, então emergem novas e revolucionárias considerações sobre o espírito (seja um ente individualizado ou um princípio universal), mas é aí que, imagino, os pesquisadores não tem formulado a pergunta certa.
Estudos como os do físico britânico Roger Penrose e do médico americano Stuart Hamerroff, que sugere que a consciência resulta de um fenômeno de gravitação quântica em microtúbulos das células cerebrais, o qual persistiria após a desagregação do corpo, enfraquecem a tese materialista da consciência como um epifenômeno de base química, mas ainda referenda o que pode ser um grande equívoco conceitual de religiosos e materialistas. Afinal, não é o corpo que contém o espírito, mas o espírito que contém o corpo - idéia bem mais fácil de ser assimilada hoje, em meio à suposição de o que universo seja apenas uma experiência virtual.
Autoestima. Que bicho é esse?
Publicado na edição de 30/10/12
Autoestima significa amor próprio, valorização de si mesmo. Com boa vontade podemos admitir que o termo expressa autoaceitação, algo indispensável ao equilíbrio psicológico de qualquer humano. No dia a dia, porém, a palavra diz mais que isso - e no mau sentido. A autoestima é um instrumento de tortura de bilhões de pessoas que a teriam em nível abaixo da “normalidade” e para seus familiares interessados em enquadrá-las nas expectativas da sociedade. E é a galinha de ovos de ouro do negócio dos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, a indústria farmacêutica e, claro, vendedores de milagres e escritores de autoajuda.
Sempre que ouço alguém falar em autoestima (inclusive eu mesmo), lembro da cena patética que envolveu Tenzin Gyatso, o atual Dalai Lama, em um de seus primeiros seminários de divulgação do Budismo nos Estados Unidos. Como esperado numa sociedade ultracompetitiva, que impõe papéis e metas draconianas às pessoas, logo alguém aparteou o palestrante para saber o que fazer com o seu problema de baixa autoestima. O Dalai, perplexo, permaneceu em silêncio. O tradutor ainda tentou explicar-lhe a pergunta, mas, minutos depois, anunciou à platéia: “Sua santidade esclarece que desconhece esse conceito”.
Autoestima é coisa de ocidental, de nossa cultura que, inspirada em filósofos como Descartes, Hume e Kant, estabelece uma separação entre o eu e o mundo, embora as descobertas da ciência e o resgate do pensamento holístico já estejam alterando esse quadro. Para a maioria dos orientais, seguidores de tradições monistas, não há sentido em se falar em autoestima se a realidade é a interdependência de todos os seres, se nada existe por si mesmo.
Diante de alguém à beira de um ataque de nervos devido a conflitos íntimos, a resposta de um mestre tibetano seria muito provavelmente “vire-se para a parede e se encontre”. Isto é: sente-se e medite até perceber a natureza ilusória de seus problemas, os quais se dissolvem com uma mera mudança de perspectiva.
Talvez você rebata que “nós não somos budistas tibetanos”. Neste caso, resta-lhe o consolo do Mágico de Oz ao encontrar os amigos de Dorothy que se queixam de suas limitações, sintetizado num post de Paulo Nogueira em seu www.diariodocentrodomundo.com.br :
“Um deles se acha burro. Diz o mágico: ‘Em minha terra as pessoas não são mais inteligentes que você. Mas tem uma coisa que você não tem. Um diploma.’ E então passa ao infeliz um diploma, que prontamente eleva sua autoestima. Outro lamenta ser covarde. Diz o mágico: ‘Em minha terra as pessoas não são mais corajosas que você. Mas têm uma coisa que você não tem. Uma medalha.’ E então passa ao infeliz uma medalha, que prontamente eleva sua autoestima”.
Isso não cura a carência sem fundo, mas distrai e alivia.
Sempre que ouço alguém falar em autoestima (inclusive eu mesmo), lembro da cena patética que envolveu Tenzin Gyatso, o atual Dalai Lama, em um de seus primeiros seminários de divulgação do Budismo nos Estados Unidos. Como esperado numa sociedade ultracompetitiva, que impõe papéis e metas draconianas às pessoas, logo alguém aparteou o palestrante para saber o que fazer com o seu problema de baixa autoestima. O Dalai, perplexo, permaneceu em silêncio. O tradutor ainda tentou explicar-lhe a pergunta, mas, minutos depois, anunciou à platéia: “Sua santidade esclarece que desconhece esse conceito”.
Autoestima é coisa de ocidental, de nossa cultura que, inspirada em filósofos como Descartes, Hume e Kant, estabelece uma separação entre o eu e o mundo, embora as descobertas da ciência e o resgate do pensamento holístico já estejam alterando esse quadro. Para a maioria dos orientais, seguidores de tradições monistas, não há sentido em se falar em autoestima se a realidade é a interdependência de todos os seres, se nada existe por si mesmo.
Diante de alguém à beira de um ataque de nervos devido a conflitos íntimos, a resposta de um mestre tibetano seria muito provavelmente “vire-se para a parede e se encontre”. Isto é: sente-se e medite até perceber a natureza ilusória de seus problemas, os quais se dissolvem com uma mera mudança de perspectiva.
Talvez você rebata que “nós não somos budistas tibetanos”. Neste caso, resta-lhe o consolo do Mágico de Oz ao encontrar os amigos de Dorothy que se queixam de suas limitações, sintetizado num post de Paulo Nogueira em seu www.diariodocentrodomundo.com.br :
“Um deles se acha burro. Diz o mágico: ‘Em minha terra as pessoas não são mais inteligentes que você. Mas tem uma coisa que você não tem. Um diploma.’ E então passa ao infeliz um diploma, que prontamente eleva sua autoestima. Outro lamenta ser covarde. Diz o mágico: ‘Em minha terra as pessoas não são mais corajosas que você. Mas têm uma coisa que você não tem. Uma medalha.’ E então passa ao infeliz uma medalha, que prontamente eleva sua autoestima”.
Isso não cura a carência sem fundo, mas distrai e alivia.
Para onde vai o casamento?
Publicado na edição de 23/10/12
Vi na novela das nove um homem casando com três mulheres. Minhas avós, se ainda vivas, teriam logo trocado o canal, horrorizadas. Meus avôs materno e paterno, mulherengos que acabaram implodindo seus casamentos, certamente se permitiriam um sorriso disfarçado, mas igualmente teriam acionado o controle remoto em defesa da moral e da tradição. No entanto, na minha sala e, penso, nas de milhões de brasileiros, os que seguem vivos assistiram à cena com bom humor e gargalhadas, esquecendo-a, minutos depois, sob a cascata de imagens com que a TV embala o nosso tédio.
Vi no telejornal da noite alguns casamentos gays, com direito a olhares cúmplices e beijinhos na boca entre homens e entre mulheres. E vi na revista eletrônica do domingo crianças cujas certidões de nascimento exibem os nomes de dois pais ou duas mães falando sobre a relação em casa e a reação dos amigos à especificidade de suas famílias.
Vi na televisão e no dia a dia do mundo real casais em seu terceiro ou quarto matrimônios formando aglomerados em que filhos e pais de uniões passadas, e mesmo de encontros fortuitos, se arrumam e se experimentam sem levarem consigo a marca preconceituosa de bastardos ou agregados. Vi homens e mulheres forjando modelos de vida a dois ou em grupo, dentro ou fora da lei, em desafios a um dos pilares mais sólidos da civilização.
Bom, minhas avós e meus avôs ficariam ruborizados ante esse quadro audacioso, mas a verdade é que, em substância, não estamos diante de fatos novos e sim de uma nova interpretação e de uma nova sanção coletiva que geram dispositivos legais garantidores de situações até há pouco não reconhecidas. A começar pela Bíblia, a literatura e os registros históricos estão repletos de relatos sobre concubinas, poligamia, filhos bastardos e relacionamentos não convencionais em que a sorte dos partícipes sempre dependeu do humor dos poderosos envolvidos e não do senso de justiça e dos direitos relacionados à dignidade humana.
Como toda instituição, a do casamento está sujeita a mutações que expressam o dinamismo da vida e em cada época é moldada pela visão de mundo predominante numa determinada cultura. Compare-se, por exemplo, o papel e os direitos da mulher na antiga família patriarcal brasileira e na atual e se verá o tamanho e a profundidade da evolução do casamento.
A exemplo do passado, porém, hoje e amanhã a qualidade e a estabilidade das relações íntimas não dependem e nem dependerão de leis ou normas não escritas, mas do sentimento inexplicável do amor e de seus frutos inevitáveis, como o carinho, a dedicação, a parceria e também a tolerância e a capacidade de renúncia. A lei é para assegurar direitos da pessoa e do cidadão. O amor, e a felicidade que dele decorre, dispensam garantias.
Vi no telejornal da noite alguns casamentos gays, com direito a olhares cúmplices e beijinhos na boca entre homens e entre mulheres. E vi na revista eletrônica do domingo crianças cujas certidões de nascimento exibem os nomes de dois pais ou duas mães falando sobre a relação em casa e a reação dos amigos à especificidade de suas famílias.
Vi na televisão e no dia a dia do mundo real casais em seu terceiro ou quarto matrimônios formando aglomerados em que filhos e pais de uniões passadas, e mesmo de encontros fortuitos, se arrumam e se experimentam sem levarem consigo a marca preconceituosa de bastardos ou agregados. Vi homens e mulheres forjando modelos de vida a dois ou em grupo, dentro ou fora da lei, em desafios a um dos pilares mais sólidos da civilização.
Bom, minhas avós e meus avôs ficariam ruborizados ante esse quadro audacioso, mas a verdade é que, em substância, não estamos diante de fatos novos e sim de uma nova interpretação e de uma nova sanção coletiva que geram dispositivos legais garantidores de situações até há pouco não reconhecidas. A começar pela Bíblia, a literatura e os registros históricos estão repletos de relatos sobre concubinas, poligamia, filhos bastardos e relacionamentos não convencionais em que a sorte dos partícipes sempre dependeu do humor dos poderosos envolvidos e não do senso de justiça e dos direitos relacionados à dignidade humana.
Como toda instituição, a do casamento está sujeita a mutações que expressam o dinamismo da vida e em cada época é moldada pela visão de mundo predominante numa determinada cultura. Compare-se, por exemplo, o papel e os direitos da mulher na antiga família patriarcal brasileira e na atual e se verá o tamanho e a profundidade da evolução do casamento.
A exemplo do passado, porém, hoje e amanhã a qualidade e a estabilidade das relações íntimas não dependem e nem dependerão de leis ou normas não escritas, mas do sentimento inexplicável do amor e de seus frutos inevitáveis, como o carinho, a dedicação, a parceria e também a tolerância e a capacidade de renúncia. A lei é para assegurar direitos da pessoa e do cidadão. O amor, e a felicidade que dele decorre, dispensam garantias.
Sob o céu do sertão
Publicado na edição de 16/10/12
A experiência é o resultado de nossa relação com o mundo. É nesse exercício que construímos e destruímos representações, elaborando o saber a partir de uma postura de despojamento de preconceitos e abertura para a vida. Não é que isso aconteça sem nenhuma pressuposição, pois toda realidade objetiva é expressão de nossa mente, influenciada por crenças e padrões herdados sob um paradigma cultural. A experiência acontece dentro de modelos e perguntas previamente estabelecidos que, por sua vez, determinam o que queremos conhecer, ainda que nossa experimentação tenha o nome de ciência.
Ir ao encontro do mundo mediante a ação ou a contemplação, no entanto, é o jeito de ampliar a janela através da qual a subjetividade observa e dá sentido ao eterno movimento. E, desse modo, a verdade pode se revelar nas pelejas de sensações e pensamentos, no contato com objetos, ou num momento de relaxe e não-pensar junto a uma macieira, como teria acontecido a Isaac Newton na época em que descobriu a gravitação universal.
Podemos ler os clássicos da filosofia e formar conceitos que nos dizem nada fora dos saraus eruditos, como provam nossas atitudes e ações no dia a dia. Em contrapartida, podemos perceber algo essencial que nos vira pelo avesso em meio a acontecimentos singelos e triviais que nos surpreendem desarmados de imagens e verdades feitas.
Foi assim, anos atrás, no dia em que (imagino) finalmente entendi o paradoxo da diversidade na unidade da vida.
Mochila nas costas, sob o sol tórrido do sertão do Rio Grande do Norte, eu caminhava pela pequena Acari quando um som harmônico provocou-me a atenção. Minha meta era chegar ao colossal açude Gargalheiras, mas, tocado no coração pelos acordes de uma orquestra que executava “Bridge Over Troubled Water”, a bela canção de Simon e Garfunkel imortalizada na voz de Elvis Presley, acabei junto à porta da sala onde os músicos se exercitavam, exalando magia pela cidade.
Aos meus ouvidos, tudo era ritmo e beleza, até que um gesto de amabilidade do regente - que me convidou a sentar na única cadeira vazia, bem no centro da orquestra - abalou-me a referência. Naquele lugar, minha atenção desviara-se para os sons isolados dos instrumentos e eu perdi a noção de conjunto e harmonia. Deparei-me com uma algaravia desconfortável e inacessível, embora cada músico continuasse sereno e concentrado na leitura de sua partitura. Para mim, a harmonia cedera ao caos.
Então, de repente, sob o choque dessa frustração, a luz se fez e eu pude perceber o óbvio como verdade autoevidente: na orquestra da existência cada um toca seu próprio instrumento, exercita seu talento único e ocupa-se de sua partitura. O som que cada um produz, isoladamente, pode parecer desagradável e incompreensível aos nossos ouvidos, mas dele também depende o ritmo, a harmonia e a beleza da música da vida.
Ir ao encontro do mundo mediante a ação ou a contemplação, no entanto, é o jeito de ampliar a janela através da qual a subjetividade observa e dá sentido ao eterno movimento. E, desse modo, a verdade pode se revelar nas pelejas de sensações e pensamentos, no contato com objetos, ou num momento de relaxe e não-pensar junto a uma macieira, como teria acontecido a Isaac Newton na época em que descobriu a gravitação universal.
Podemos ler os clássicos da filosofia e formar conceitos que nos dizem nada fora dos saraus eruditos, como provam nossas atitudes e ações no dia a dia. Em contrapartida, podemos perceber algo essencial que nos vira pelo avesso em meio a acontecimentos singelos e triviais que nos surpreendem desarmados de imagens e verdades feitas.
Foi assim, anos atrás, no dia em que (imagino) finalmente entendi o paradoxo da diversidade na unidade da vida.
Mochila nas costas, sob o sol tórrido do sertão do Rio Grande do Norte, eu caminhava pela pequena Acari quando um som harmônico provocou-me a atenção. Minha meta era chegar ao colossal açude Gargalheiras, mas, tocado no coração pelos acordes de uma orquestra que executava “Bridge Over Troubled Water”, a bela canção de Simon e Garfunkel imortalizada na voz de Elvis Presley, acabei junto à porta da sala onde os músicos se exercitavam, exalando magia pela cidade.
Aos meus ouvidos, tudo era ritmo e beleza, até que um gesto de amabilidade do regente - que me convidou a sentar na única cadeira vazia, bem no centro da orquestra - abalou-me a referência. Naquele lugar, minha atenção desviara-se para os sons isolados dos instrumentos e eu perdi a noção de conjunto e harmonia. Deparei-me com uma algaravia desconfortável e inacessível, embora cada músico continuasse sereno e concentrado na leitura de sua partitura. Para mim, a harmonia cedera ao caos.
Então, de repente, sob o choque dessa frustração, a luz se fez e eu pude perceber o óbvio como verdade autoevidente: na orquestra da existência cada um toca seu próprio instrumento, exercita seu talento único e ocupa-se de sua partitura. O som que cada um produz, isoladamente, pode parecer desagradável e incompreensível aos nossos ouvidos, mas dele também depende o ritmo, a harmonia e a beleza da música da vida.
O professor e o filósofo
Publicado na edição de 10/10/12
Qual a diferença entre um professor e um filósofo? Há uma resposta preciosa para essa pergunta no livro O Mundo de Sofia, do norueguês Jostein Gaarder: “A grande diferença entre um professor e um verdadeiro filósofo é que o professor pensa que sabe um monte de coisas e tenta enfiar essas coisas na cabeça de seus alunos. Um filósofo, ao contrário, tenta ir ao fundo das coisas dialogando com seus alunos”.
Em nossa rotina pragmática, delimitada por habilidades e certificações, até os técnicos de futebol viraram professores, enquanto o ideal da filosofia - o amor à sabedoria e à incursão no mistério -, que no passado frequentou as praças e foi servido à juventude, acabou banido para o círculo estreito das academias, onde, aliás, há poucos filósofos verdadeiros.
Nas suas versões consumistas, professores, coachers e gurus exibem respostas prontas para nossas dúvidas, transmitem-nos conforto e segurança e nos ajudam a por em prática nossas políticas de resultados. Já um filósofo...
...Um filósofo parece obstinado em trafegar na contramão daquilo que o senso comum e a ilusão dos sentidos referendam, minando a empáfia na qual se sustentam as verdades utilitárias e os sistemas perfeitos.
Um filósofo tem mais perguntas a fazer do que respostas a dar, é uma criança descobrindo o mundo. Sua postura cândida e inquieta, em muitas ocasiões, pode tornar-se mais que inconveniente. Pode ser fatal. O caso de Sócrates é exemplar. Suas perguntas ingênuas, no mercado de Atenas, simplesmente desmontavam o conhecimento dos sabidos, o que gerou a ira dos poderosos e orgulhosos. Acusado de corromper a juventude, ao questionar crenças e valores de seu tempo, o filósofo pagou com a própria vida pela ousadia de enxergar o óbvio.
A mensagem e o método de Sócrates apoiam-se, principalmente, em duas constatações. A primeira está sintetizada na frase “só sei que nada sei”, um insight que ilumina a vida de todo verdadeiro sábio, preservando-o das ilusões. Pouco antes de Sócrates nascer, por exemplo, o filósofo chinês Confúcio disse o mesmo com outras palavras: “Quem reconhece sua ignorância começa a ser sábio”. A segunda comprovação também é inerente à sabedoria e na época de Sócrates estava inscrita no portal da sala do oráculo mais respeitado da Grécia, o do templo de Apolo, em Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”. Isto é, a verdade vem de dentro.
Enfim, filósofos verdadeiros, como Sócrates, expressam a verdade anunciada por Lao-Tse no Tao Te King: “O verdadeiro sábio, quando conhece Tao (a realidade infinita), procura realizá-la em si. Quem ainda vacila, incerto na sabedoria, só de vez em quando segue o caminho certo. Quem apenas fala em sabedoria não a toma a sério”.
Em nossa rotina pragmática, delimitada por habilidades e certificações, até os técnicos de futebol viraram professores, enquanto o ideal da filosofia - o amor à sabedoria e à incursão no mistério -, que no passado frequentou as praças e foi servido à juventude, acabou banido para o círculo estreito das academias, onde, aliás, há poucos filósofos verdadeiros.
Nas suas versões consumistas, professores, coachers e gurus exibem respostas prontas para nossas dúvidas, transmitem-nos conforto e segurança e nos ajudam a por em prática nossas políticas de resultados. Já um filósofo...
...Um filósofo parece obstinado em trafegar na contramão daquilo que o senso comum e a ilusão dos sentidos referendam, minando a empáfia na qual se sustentam as verdades utilitárias e os sistemas perfeitos.
Um filósofo tem mais perguntas a fazer do que respostas a dar, é uma criança descobrindo o mundo. Sua postura cândida e inquieta, em muitas ocasiões, pode tornar-se mais que inconveniente. Pode ser fatal. O caso de Sócrates é exemplar. Suas perguntas ingênuas, no mercado de Atenas, simplesmente desmontavam o conhecimento dos sabidos, o que gerou a ira dos poderosos e orgulhosos. Acusado de corromper a juventude, ao questionar crenças e valores de seu tempo, o filósofo pagou com a própria vida pela ousadia de enxergar o óbvio.
A mensagem e o método de Sócrates apoiam-se, principalmente, em duas constatações. A primeira está sintetizada na frase “só sei que nada sei”, um insight que ilumina a vida de todo verdadeiro sábio, preservando-o das ilusões. Pouco antes de Sócrates nascer, por exemplo, o filósofo chinês Confúcio disse o mesmo com outras palavras: “Quem reconhece sua ignorância começa a ser sábio”. A segunda comprovação também é inerente à sabedoria e na época de Sócrates estava inscrita no portal da sala do oráculo mais respeitado da Grécia, o do templo de Apolo, em Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”. Isto é, a verdade vem de dentro.
Enfim, filósofos verdadeiros, como Sócrates, expressam a verdade anunciada por Lao-Tse no Tao Te King: “O verdadeiro sábio, quando conhece Tao (a realidade infinita), procura realizá-la em si. Quem ainda vacila, incerto na sabedoria, só de vez em quando segue o caminho certo. Quem apenas fala em sabedoria não a toma a sério”.
A escola e o espírito
Publicado na edição de 02/10/12
Houve um tempo em que, nas escolas, o ensino das virtudes vinha antes da educação literária e técnica. Era assim, por exemplo, na Grécia dos filósofos, na Índia e na Pérsia. O ocidente contemporâneo, ao estabelecer a supremacia das técnicas e o governo do mercado, inverteu essa ordem. Em alguns países, entre os quais o Brasil, a escola deixou de lado não só o papel relevante que cumpria na formação do caráter dos jovens, mas até a simples transmissão de informações no âmbito das humanidades, limitando-se a treinar “mecânicos” para atuar nos diversos compartimentos da “máquina” dos negócios.
Faculdades se multiplicam na velocidade dos quiosques e multidões invadem suas salas interessadas em obter um diploma que lhes concede o conforto de um novo status e a senha de acesso ao ringue da economia competitiva. Mesmo os pais, de quem se espera a noção de crescimento integral dos filhos, passaram a ter como referência de qualidade no ensino apenas a habilidade dos professores em transmitir técnicas, já não importando a erudição e nem o caráter dos mestres.
Um círculo vicioso se estabeleceu. Uma sociedade corrompida, corrompe a escola e a escola degradada sustenta a perversão social.
Os efeitos dessa situação parecem claros em três patamares: 1) na ganância das escolas-empresas e no baixo nível dos professores; 2) nas relações mercenárias dos profissionais com o público; 3) no desrespeito à sabedoria ancestral e na desconexão entre o indivíduo e o coletivo. A solução? Acho que ela está além das fórmulas que sempre berram por mais dinheiro.
Ao narrar na autobiografia “Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade” sua experiência como professor numa comunidade multirracial e multirreligiosa na África do Sul, Gandhi nos aponta um caminho:
“O treinamento espiritual era um assunto muito mais difícil do que o aprendizado físico ou mental. (...) Eu mantinha a opinião de que essa era uma parte essencial do treinamento dos jovens, e que a educação sem a cultura do espírito era inútil e podia ser até prejudicial. (...) À medida que tive um contato mais próximo com eles, vi que não é por meio de livros que se consegue formar o espírito. Assim como o treinamento físico era ministrado pelo exercício do corpo, e o intelectual pelo da mente, a formação espiritual só era possível pelo exercício do espírito. E este depende inteiramente da vida e do caráter do professor, que deve estar atento para não agir com impropriedade, estando ou não na presença de seus alunos. Para mim seria inútil ensinar os meninos a dizer a verdade se eu fosse um mentiroso. Um professor covarde jamais conseguirá tornar valentes os seus discípulos e um desconhecedor do autocontrole não passará para seus alunos o valor da autodisciplina”.
Aí está a base da educação e da boa escola.
Faculdades se multiplicam na velocidade dos quiosques e multidões invadem suas salas interessadas em obter um diploma que lhes concede o conforto de um novo status e a senha de acesso ao ringue da economia competitiva. Mesmo os pais, de quem se espera a noção de crescimento integral dos filhos, passaram a ter como referência de qualidade no ensino apenas a habilidade dos professores em transmitir técnicas, já não importando a erudição e nem o caráter dos mestres.
Um círculo vicioso se estabeleceu. Uma sociedade corrompida, corrompe a escola e a escola degradada sustenta a perversão social.
Os efeitos dessa situação parecem claros em três patamares: 1) na ganância das escolas-empresas e no baixo nível dos professores; 2) nas relações mercenárias dos profissionais com o público; 3) no desrespeito à sabedoria ancestral e na desconexão entre o indivíduo e o coletivo. A solução? Acho que ela está além das fórmulas que sempre berram por mais dinheiro.
Ao narrar na autobiografia “Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade” sua experiência como professor numa comunidade multirracial e multirreligiosa na África do Sul, Gandhi nos aponta um caminho:
“O treinamento espiritual era um assunto muito mais difícil do que o aprendizado físico ou mental. (...) Eu mantinha a opinião de que essa era uma parte essencial do treinamento dos jovens, e que a educação sem a cultura do espírito era inútil e podia ser até prejudicial. (...) À medida que tive um contato mais próximo com eles, vi que não é por meio de livros que se consegue formar o espírito. Assim como o treinamento físico era ministrado pelo exercício do corpo, e o intelectual pelo da mente, a formação espiritual só era possível pelo exercício do espírito. E este depende inteiramente da vida e do caráter do professor, que deve estar atento para não agir com impropriedade, estando ou não na presença de seus alunos. Para mim seria inútil ensinar os meninos a dizer a verdade se eu fosse um mentiroso. Um professor covarde jamais conseguirá tornar valentes os seus discípulos e um desconhecedor do autocontrole não passará para seus alunos o valor da autodisciplina”.
Aí está a base da educação e da boa escola.
O amor e a meia furada
Publicado na edição de 25/09/12
Ao navegar o Facebook, encontrei um apelo da jornalista Glácia Marillac: "Preciso de meias usadas, furadas, aquelas que só estão ocupando espaço, esquecidas no armário. É para doar a pacientes portadores de hanseníase que usam as meias para proteger os medicamentos, incinerando-as depois. Não importa a condição da meia, só precisa estar limpa e pronta para fazer o bem”. Fui tocado pela mensagem singela e, ali mesmo, compartilhando o apelo em minha página, aderi à campanha modesta e útil.
Com uma simples meia furada é possível ajudar alguém, demonstrar afeto pelo outro. Fazer o bem só exige de cada pessoa um pouco de solidariedade e disposição. Ah! se toda gente soubesse...
Meias furadas, após algum tempo na gaveta, costumam virar lixo. E essa, como se pode notar com o apelo de Glácia, é uma das menores demonstrações de desperdício, entre tantas que damos diariamente. O que sobra em nossa rotina poderia aliviar a necessidade e o sofrimento de milhões de seres humanos, mas, atolados na compulsão consumista, descartamos coisas sem considerar que aquilo que deixou de entreter nossa ansiedade (Sim, é ela que nos torna predadores incontroláveis!) pode ser o recurso básico que falta a pobres e excluídos.
Os números dessa manifestação de egoísmo são superlativos, a começar pelo desperdício de alimentos - quase um crime de genocídio, se nos lembrarmos que no planeta quase 1 bilhão de pessoas sobrevivem famintas. Segundo a ONU, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano, resultado de perdas na colheita e na manipulação, do descarte devido a aspectos cosméticos (por exigência dos consumidores) e, claro, do desperdício puro e simples nas residências, restaurantes e lanchonetes. Os americanos, os mais perdulários, chegam a mandar para o lixo 40% de sua comida. Mas nós, brasileiros, também ocupamos um lugar de destaque nesse triste campeonato.
O Brasil produz 26% a mais do que necessita para alimentar sua população, mas as perdas na cadeia produtiva e o desperdício doméstico (em média, cada casa manda para o lixo 20% da comida adquirida) geram absurdos como esta estatística de 2006: naquele ano, segundo a Embrapa, 26,3 milhões de toneladas de alimentos viraram lixo, uma quantidade suficiente para saciar, com três refeições diárias, 19 milhões de pessoas, quase a metade dos 39 milhões de brasileiros que conviveram com a fome no período.
Escândalo maior, só se for o da avareza de produtores derramando leite nas ruas, queimando plantações ou dizimando pintinhos apenas para elevar o preço dos produtos em tempo de supersafra...
A singeleza de fazer o bem com uma meia furada nos remete à visão do que está além da forma: o maior desperdício, na verdade, é o do amor, esse manancial de vida relegado e apodrecido na geladeira do coração.
Com uma simples meia furada é possível ajudar alguém, demonstrar afeto pelo outro. Fazer o bem só exige de cada pessoa um pouco de solidariedade e disposição. Ah! se toda gente soubesse...
Meias furadas, após algum tempo na gaveta, costumam virar lixo. E essa, como se pode notar com o apelo de Glácia, é uma das menores demonstrações de desperdício, entre tantas que damos diariamente. O que sobra em nossa rotina poderia aliviar a necessidade e o sofrimento de milhões de seres humanos, mas, atolados na compulsão consumista, descartamos coisas sem considerar que aquilo que deixou de entreter nossa ansiedade (Sim, é ela que nos torna predadores incontroláveis!) pode ser o recurso básico que falta a pobres e excluídos.
Os números dessa manifestação de egoísmo são superlativos, a começar pelo desperdício de alimentos - quase um crime de genocídio, se nos lembrarmos que no planeta quase 1 bilhão de pessoas sobrevivem famintas. Segundo a ONU, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano, resultado de perdas na colheita e na manipulação, do descarte devido a aspectos cosméticos (por exigência dos consumidores) e, claro, do desperdício puro e simples nas residências, restaurantes e lanchonetes. Os americanos, os mais perdulários, chegam a mandar para o lixo 40% de sua comida. Mas nós, brasileiros, também ocupamos um lugar de destaque nesse triste campeonato.
O Brasil produz 26% a mais do que necessita para alimentar sua população, mas as perdas na cadeia produtiva e o desperdício doméstico (em média, cada casa manda para o lixo 20% da comida adquirida) geram absurdos como esta estatística de 2006: naquele ano, segundo a Embrapa, 26,3 milhões de toneladas de alimentos viraram lixo, uma quantidade suficiente para saciar, com três refeições diárias, 19 milhões de pessoas, quase a metade dos 39 milhões de brasileiros que conviveram com a fome no período.
Escândalo maior, só se for o da avareza de produtores derramando leite nas ruas, queimando plantações ou dizimando pintinhos apenas para elevar o preço dos produtos em tempo de supersafra...
A singeleza de fazer o bem com uma meia furada nos remete à visão do que está além da forma: o maior desperdício, na verdade, é o do amor, esse manancial de vida relegado e apodrecido na geladeira do coração.
Ser e não ser
Publicado na edição de 18/09/12
Hoje acordei pensando no “efeito rebote” que persegue adeptos das fórmulas mágicas de realização pessoal, vendidas a peso de ouro por gurus e especialistas em seminários apoiados em técnicas de marketing ou através de livros de autoajuda. Passado algum tempo, às vezes até no dia seguinte, a depressão se fortalece, a irritabilidade aumenta e o desencanto se instala ante a constatação de que é impossível tornar-se um iluminado ou uma pessoa resolvida apenas com uma penca de conceitos processados intelectualmente. A mente condicionada, no entanto, retornará ao mesmo manancial, buscando novos salvadores que lhe apontem a porta do sucesso e, mais que isso, a do sucesso fácil.
Bom, eu queria escrever sobre essa ilusão de nossa era regida pelo consumismo, mas desisti ao deparar-me com um lindo e lúcido poema de Teresa de Ávila, a jovem frágil e perspicaz que reformou a Ordem dos Carmelitas no século 16. Que eu poderia dizer com mais beleza e completude?
Bom, eu queria escrever sobre essa ilusão de nossa era regida pelo consumismo, mas desisti ao deparar-me com um lindo e lúcido poema de Teresa de Ávila, a jovem frágil e perspicaz que reformou a Ordem dos Carmelitas no século 16. Que eu poderia dizer com mais beleza e completude?
Se você entender a letra desse “Longe dos Santos Carrancudos”, terá colocado seus pés na trilha da solução existencial. Se conseguir sentir o seu significado, então já estará caminhando. Se, mais à frente, ainda se mantiver sentindo e caminhando, provavelmente terá compreendido o paradoxo de ser e não ser, de possuir sem reter, de gozar sem se escravizar ao prazer. Você estará fluindo com a vida, na excelência do amor, sem depender de fórmulas vazias e descartáveis.
Fala, Teresa!
Tentação muito traiçoeira é o sentimento seguro de que jamais cairemos em nossas antigas faltas, ou voltaremos a ter desejo dos prazeres mundanos / A menos que tenhas cuidado, os elogios dos outros podem fazer-te muito mal / Uma vez começados, jamais terminam, e geralmente acabam por arruinar-te / Deus, livrai-me dos santos carrancudos.
Só o amor, sob qualquer forma, leva à união com Deus.
Se quiseres progredir nesta vida, o importante não é pensar muito, mas amar muito / Faze, pois, tudo aquilo que te estimula o amor.
Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma / Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma / Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma / Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma / Para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas / Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes / Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis / Para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és.
Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo / Porque para vir de todo ao tudo, hás de negar-te de todo em tudo / E quando vires a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer / Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro.
Fala, Teresa!
Tentação muito traiçoeira é o sentimento seguro de que jamais cairemos em nossas antigas faltas, ou voltaremos a ter desejo dos prazeres mundanos / A menos que tenhas cuidado, os elogios dos outros podem fazer-te muito mal / Uma vez começados, jamais terminam, e geralmente acabam por arruinar-te / Deus, livrai-me dos santos carrancudos.
Só o amor, sob qualquer forma, leva à união com Deus.
Se quiseres progredir nesta vida, o importante não é pensar muito, mas amar muito / Faze, pois, tudo aquilo que te estimula o amor.
Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma / Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma / Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma / Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma / Para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas / Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes / Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis / Para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és.
Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo / Porque para vir de todo ao tudo, hás de negar-te de todo em tudo / E quando vires a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer / Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro.
Nosso incrível Hulk
Publicado na edição de 11/09/12
Que nome você tinha antes de nascer? Qual era a sua ideologia quando você, ainda bebê, apenas sorria para quem lhe endereçava um sorriso? Como você classificava as pessoas no tempo em que sugava leite no peito de sua mãe? Não é preciso ser psicólogo ou filósofo para entender que todas essas coisas foram aprendidas. Elas são o resultado de um processo cultural e da nossa interação com o ambiente, da qual surgiram o senso de separatividade (eu e o outro / eu e o mundo) e uma estrutura conceitual que chamamos de ego. Hoje, crescidos e aculturados, é difícil considerar respostas às perguntas acima, mas no fundo, lá no fundo, o que somos é aquilo que éramos antes que alguém nos rotulasse com um nome e nos ensinasse a discriminar. Somos vida, pura expressão da vida. Uma presença que preexiste e sobrevive a qualquer penduricalho adicionado na experiência da forma.
Bastaria percebermos isso - o que é diferente de sermos informados sobre isso - para que nossa rotina de “problemas” tivesse uma substancial melhoria. Mas quem consegue? Nossos egos expandidos impedem que a luz da consciência ilumine o teatro de nossa vivência corporal. E, então, seguimos condenados à identificação com os papéis que representamos no palco dos relacionamentos sociais, pagando um preço alto em ansiedade e angústia.
Imagine um ator que, após a gravação da novela, carregasse consigo as características de seu personagem - os trejeitos, os superpoderes, as malandragens... Tal atitude certamente seria vista como um delírio, um surto paranóico. Mas é basicamente isso que acontece com cada um de nós em relação à persona que vestimos nas relações com o mundo. Estamos tão identificados com esse papel que acabamos por sufocar a naturalidade da vida com uma autoimagem escravizada a padrões.
A existência nesse nível é repleta de medo, escassa de amor e profundamente tumultuada por melindres e explosões de raiva diante de tudo que ameaça nossa estrutura egóica inflada e, obviamente, vazia e frágil.
É como se cada um de nós fosse um incrível Hulk, aquele das histórias em quadrinhos de Jack Kirby e Stan Lee que virou sucesso mundial na TV e no cinema. Como ele, também nos transformamos num monstro esverdeado sempre que, frustrado e ferido em nosso orgulho, caímos numa crise de fúria.
O Hulk original era cinza para significar a lida de Roberto Bruce Banner, o cientista mutante, com o seu lado mais sombrio, marcado por traumas nascidos da falta de amor do pai e a traição de um colega de trabalho. Manifesto, o personagem oculta a individualidade de Banner. Nossos egos inflados e raivosos fazem o mesmo com a aquele menino sem nome que, no fundo, nós somos, como pura expressão de vida e harmonia.
Bastaria percebermos isso - o que é diferente de sermos informados sobre isso - para que nossa rotina de “problemas” tivesse uma substancial melhoria. Mas quem consegue? Nossos egos expandidos impedem que a luz da consciência ilumine o teatro de nossa vivência corporal. E, então, seguimos condenados à identificação com os papéis que representamos no palco dos relacionamentos sociais, pagando um preço alto em ansiedade e angústia.
Imagine um ator que, após a gravação da novela, carregasse consigo as características de seu personagem - os trejeitos, os superpoderes, as malandragens... Tal atitude certamente seria vista como um delírio, um surto paranóico. Mas é basicamente isso que acontece com cada um de nós em relação à persona que vestimos nas relações com o mundo. Estamos tão identificados com esse papel que acabamos por sufocar a naturalidade da vida com uma autoimagem escravizada a padrões.
A existência nesse nível é repleta de medo, escassa de amor e profundamente tumultuada por melindres e explosões de raiva diante de tudo que ameaça nossa estrutura egóica inflada e, obviamente, vazia e frágil.
É como se cada um de nós fosse um incrível Hulk, aquele das histórias em quadrinhos de Jack Kirby e Stan Lee que virou sucesso mundial na TV e no cinema. Como ele, também nos transformamos num monstro esverdeado sempre que, frustrado e ferido em nosso orgulho, caímos numa crise de fúria.
O Hulk original era cinza para significar a lida de Roberto Bruce Banner, o cientista mutante, com o seu lado mais sombrio, marcado por traumas nascidos da falta de amor do pai e a traição de um colega de trabalho. Manifesto, o personagem oculta a individualidade de Banner. Nossos egos inflados e raivosos fazem o mesmo com a aquele menino sem nome que, no fundo, nós somos, como pura expressão de vida e harmonia.
Os mesmos e as mesmas coisas
Publicado na edição de 04/09/12
Se você anda entediado com a propaganda eleitoral e indignado com a corrupção e a falta de ética na política, pergunte a si mesmo antes de atirar o primeiro palavrão: como eu lido com o poder e o dinheiro na minha casa, no meu trabalho e na minha relação com as pessoas? Se a sua resposta for realmente nova e criativa e se a sua consciência não o acusar de nenhuma pequena trapaça invisível às câmeras, parabéns. Você certamente faz parte de um grupo seleto, a menor das minorias. É uma raridade escondida sob uma montanha de mediocridade e esperteza.
Agora você já sabe. O título deste texto não diz respeito aos políticos, mas à sociedade, que eles tão bem representam como legítimos herdeiros das crenças e valores que praticamos no dia a dia. Imaginar que o pensamento e a conduta deles não têm a ver com nosso caráter e nossas ações corriqueiras, é uma demonstração de ingenuidade ou má fé. Governantes, legisladores e também juízes - agora flagrados em seus pulos de gato - não são Ets invadindo nossa praia, mas gente como a gente, formada no mundo e nos valores que construímos.
Sem essa percepção toda mudança tende a ser mero tratamento cosmético sobre uma matriz enrugada por velhos vícios. Afinal, como atestou Albert Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o produziu, embora nossa mente habituada ao pensamento linear dificilmente considere essa verdade.
Trabalhamos com modelos que funcionam no nível operacional do mundo físico, mas falham completamente quando aplicados à vida não-mecânica, o nível onde trafegam os sentimentos e a ética.
Mantida a velha consciência, os problemas da vida social persistirão e o processo histórico, como afirma o pensador Humberto Mariotti, continuará a ser “uma crônica de não-mudanças”, repleta de ações repetitivas num palco redecorado. À direita ou à esquerda, no capitalismo ou no socialismo, no feudo ou na globalização, o resultado social será quase sempre “o triunfo da esperteza sobre a inteligência, o nivelamento por baixo, a exclusão, a vulgaridade, a imbecilização das massas e a violência”.
O pensamento linear nos estacionou na visão separatista sujeito-objeto, na cristalização da verdade única e das estruturas e regras opressoras, na polarização e no conflito, na visão maniqueísta do bem e do mal e na crença na maldade intrínseca do homem que está na raiz de nossa sociedade da avidez e do medo. Só uma visão sistêmica e complementar, que nos leve a perceber a interdependência, poderá tornar necessário o amor e, com ele, uma real mudança de conceitos e prioridades.
Até lá nós, e os políticos, continuaremos perdidos na ilusão de que o bem-estar material é bastante e a democracia, um ideal de convivência e cooperatividade, não passará de um meio de conquistar o poder.
Agora você já sabe. O título deste texto não diz respeito aos políticos, mas à sociedade, que eles tão bem representam como legítimos herdeiros das crenças e valores que praticamos no dia a dia. Imaginar que o pensamento e a conduta deles não têm a ver com nosso caráter e nossas ações corriqueiras, é uma demonstração de ingenuidade ou má fé. Governantes, legisladores e também juízes - agora flagrados em seus pulos de gato - não são Ets invadindo nossa praia, mas gente como a gente, formada no mundo e nos valores que construímos.
Sem essa percepção toda mudança tende a ser mero tratamento cosmético sobre uma matriz enrugada por velhos vícios. Afinal, como atestou Albert Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o produziu, embora nossa mente habituada ao pensamento linear dificilmente considere essa verdade.
Trabalhamos com modelos que funcionam no nível operacional do mundo físico, mas falham completamente quando aplicados à vida não-mecânica, o nível onde trafegam os sentimentos e a ética.
Mantida a velha consciência, os problemas da vida social persistirão e o processo histórico, como afirma o pensador Humberto Mariotti, continuará a ser “uma crônica de não-mudanças”, repleta de ações repetitivas num palco redecorado. À direita ou à esquerda, no capitalismo ou no socialismo, no feudo ou na globalização, o resultado social será quase sempre “o triunfo da esperteza sobre a inteligência, o nivelamento por baixo, a exclusão, a vulgaridade, a imbecilização das massas e a violência”.
O pensamento linear nos estacionou na visão separatista sujeito-objeto, na cristalização da verdade única e das estruturas e regras opressoras, na polarização e no conflito, na visão maniqueísta do bem e do mal e na crença na maldade intrínseca do homem que está na raiz de nossa sociedade da avidez e do medo. Só uma visão sistêmica e complementar, que nos leve a perceber a interdependência, poderá tornar necessário o amor e, com ele, uma real mudança de conceitos e prioridades.
Até lá nós, e os políticos, continuaremos perdidos na ilusão de que o bem-estar material é bastante e a democracia, um ideal de convivência e cooperatividade, não passará de um meio de conquistar o poder.
Emoções que curam
Publicado na edição de 28/08/12
Enxergar o óbvio é um dos maiores desafios do homem. Já dizia o filósofo Goethe que não há coisa mais difícil do que “ver com os próprios olhos o que está na frente deles”. A mente, amarrada aos seus condicionamentos, recusa-se a atestar a verdade simples e autoevidente, preferindo o devaneio das complicações.
Tudo seria mais fácil se pudéssemos enxergar com clareza, mas alcançar esse estágio, no qual as carências e aflições se reduzem ou acabam, constitui uma ameaça imprevisível à rotina de fabricar “problemas” e criar “soluções” que move o mundo. O que seria da economia, dos especialistas e dos vendedores de ilusões se, de repente, toda a gente percebesse que a vida é simples e descomplicada e que é possível fruí-la com menos posses, procedimentos e explicações?
É difícil enxergar o óbvio, sobretudo, quando o assunto é saúde, em que pese o grito do corpo e a abundância dos sinais. E o óbvio, nesse caso, é o papel das emoções para o equilíbrio ou o desequilíbrio físico.
No fundo, toda doença surge a partir de um estado mental, de uma conjuntura psicológica que se reflete na moldura do corpo, mas nos parece mais cômodo - ainda que complicado - acreditar num modelo mecanicista que atribui exclusivamente a agente externos, sejam vírus ou bactérias, a responsabilidade por nossas enfermidades.
Centenas de estudos acadêmicos já confirmaram que emoções negativas, como a raiva, a tristeza e a mágoa, deprimem o sistema imunológico e favorecem o surgimento de inúmeras doenças. Para mim, no entanto, o ponto é: precisamos de ciência para atestar essa obviedade? Bastaria cada um de nós observar o próprio cotidiano para ter consciência da relação de causa e efeito entre nossos estados emocionais e nossas doenças, de um simples resfriado às artrites e transtornos circulatórios. Bastaria nos perguntarmos por que, convivendo em um mesmo ambiente e sujeito aos mesmos agentes externos, alguns contraem viroses e outros não. Bastaria examinarmos o histórico familiar, relacionando perfis psicológicos e condições de saúde, para percebermos que os personagens de “temperamento” difícil estão mais sujeitos a sucumbir sob estresse, com infecções e distúrbios orgânicos.
Se aceitarmos que a mente e as emoções podem adoecer o corpo, é natural considerarmos também que elas podem curá-lo e mantê-lo em equilíbrio, o que nos remete à necessidade de uma abordagem holística na relação entre o médico e o paciente, o remédio e o doente. Nesse contexto, cuidar das emoções, cultivando as boas e transformando as deletérias, torna-se um procedimento de saúde coletiva de alta importância. Mas quem está disposto a aplicar algo assim tão simples, tão descomplicado e tão barato?
Tudo seria mais fácil se pudéssemos enxergar com clareza, mas alcançar esse estágio, no qual as carências e aflições se reduzem ou acabam, constitui uma ameaça imprevisível à rotina de fabricar “problemas” e criar “soluções” que move o mundo. O que seria da economia, dos especialistas e dos vendedores de ilusões se, de repente, toda a gente percebesse que a vida é simples e descomplicada e que é possível fruí-la com menos posses, procedimentos e explicações?
É difícil enxergar o óbvio, sobretudo, quando o assunto é saúde, em que pese o grito do corpo e a abundância dos sinais. E o óbvio, nesse caso, é o papel das emoções para o equilíbrio ou o desequilíbrio físico.
No fundo, toda doença surge a partir de um estado mental, de uma conjuntura psicológica que se reflete na moldura do corpo, mas nos parece mais cômodo - ainda que complicado - acreditar num modelo mecanicista que atribui exclusivamente a agente externos, sejam vírus ou bactérias, a responsabilidade por nossas enfermidades.
Centenas de estudos acadêmicos já confirmaram que emoções negativas, como a raiva, a tristeza e a mágoa, deprimem o sistema imunológico e favorecem o surgimento de inúmeras doenças. Para mim, no entanto, o ponto é: precisamos de ciência para atestar essa obviedade? Bastaria cada um de nós observar o próprio cotidiano para ter consciência da relação de causa e efeito entre nossos estados emocionais e nossas doenças, de um simples resfriado às artrites e transtornos circulatórios. Bastaria nos perguntarmos por que, convivendo em um mesmo ambiente e sujeito aos mesmos agentes externos, alguns contraem viroses e outros não. Bastaria examinarmos o histórico familiar, relacionando perfis psicológicos e condições de saúde, para percebermos que os personagens de “temperamento” difícil estão mais sujeitos a sucumbir sob estresse, com infecções e distúrbios orgânicos.
Se aceitarmos que a mente e as emoções podem adoecer o corpo, é natural considerarmos também que elas podem curá-lo e mantê-lo em equilíbrio, o que nos remete à necessidade de uma abordagem holística na relação entre o médico e o paciente, o remédio e o doente. Nesse contexto, cuidar das emoções, cultivando as boas e transformando as deletérias, torna-se um procedimento de saúde coletiva de alta importância. Mas quem está disposto a aplicar algo assim tão simples, tão descomplicado e tão barato?
Resiliência é isso aí
Publicado na edição de 21/08/12
Resiliência é um palavrão que a psicologia tomou emprestado à física e acabou virando chavão no mundo das palestras de motivação e na literatura de autoajuda. Em seu significado original, refere-se à capacidade de um material voltar ao estado normal após ser submetido a tensão. Na acepção psicológica diz respeito à capacidade de uma pessoa ser submetida a situações extremas de dificuldade e sofrimento sem entrar em surto.
Quando falamos em resiliência, logo nos vem à mente dois exemplos mundialmente reconhecidos: o do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, fundador da logoterapia (escola que estuda o sentido existencial do indivíduo) e o do líder sul-africano Nelson Mandela. Frankl viveu os horrores de um campo de concentração nazista, perdeu a mulher, os pais e um irmão no holocausto, mas, apesar desse golpe na alma, usou a dor para ampliar seus estudos sobre a capacidade humana de manter a liberdade de espírito em situações opressivas. Mandela resistiu a 27 anos de isolamento, como preso de consciência em um país racista, e em vez de perder-se no ódio, retornou à liberdade com um discurso de reconciliação e libertação que conduziu a África do Sul à reconstrução e ele ao exercício da presidência da República e à galeria dos líderes do século 20.
À lista poderiam ser acrescentados nomes como o de Gandhi, Luther King e outros tantos que, perseguidos e oprimidos, fizeram-se construtores da liberdade e da justiça, mas aqui eu gostaria de adicionar um exemplo esquecido, ainda que presente em nosso cotidiano: o povo brasileiro. Foi olhando a sua face, em recente viagem de metrô às 5 horas da manhã na periferia do Recife, que recordei o palavrão resiliência e entendi seu real significado.
Meus olhos passeiam pelo vagão e se compadecem. São semblantes mal dormidos, rugas profundas em faces jovens, palidez anêmica, olhares vigilantes de quem teme alguma ameaça... Os personagens não deixam dúvidas sobre a dor que se esconde nos corpos entretidos com o celular, o ipod, o videogame. Gente mal nutrida que continua acordando às 4h para o batente diário, deixando para trás filhos sem creche e sem educação adequada, expostos à insalubridade de áreas fétidas e sombrias. Gente que assusta os abonados com seus rostos sofridos e rapidamente é lançada à vala comum dos malfeitores pelo preconceito cego e insensível.
Não, isto não é um protesto de ano eleitoral, mas o reconhecimento de que, apesar de todas as melhorias sociais das últimas décadas, nossa injustiça social é ainda dominante e cruel. É, sobretudo, o reconhecimento da enorme resistência moral de quem, tensionado até o limite, ainda consegue dar bom dia, sorrir, trabalhar o dia inteiro por um salário vil e retornar para casa sem sair da linha. Resiliência é isso aí.
Quando falamos em resiliência, logo nos vem à mente dois exemplos mundialmente reconhecidos: o do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, fundador da logoterapia (escola que estuda o sentido existencial do indivíduo) e o do líder sul-africano Nelson Mandela. Frankl viveu os horrores de um campo de concentração nazista, perdeu a mulher, os pais e um irmão no holocausto, mas, apesar desse golpe na alma, usou a dor para ampliar seus estudos sobre a capacidade humana de manter a liberdade de espírito em situações opressivas. Mandela resistiu a 27 anos de isolamento, como preso de consciência em um país racista, e em vez de perder-se no ódio, retornou à liberdade com um discurso de reconciliação e libertação que conduziu a África do Sul à reconstrução e ele ao exercício da presidência da República e à galeria dos líderes do século 20.
À lista poderiam ser acrescentados nomes como o de Gandhi, Luther King e outros tantos que, perseguidos e oprimidos, fizeram-se construtores da liberdade e da justiça, mas aqui eu gostaria de adicionar um exemplo esquecido, ainda que presente em nosso cotidiano: o povo brasileiro. Foi olhando a sua face, em recente viagem de metrô às 5 horas da manhã na periferia do Recife, que recordei o palavrão resiliência e entendi seu real significado.
Meus olhos passeiam pelo vagão e se compadecem. São semblantes mal dormidos, rugas profundas em faces jovens, palidez anêmica, olhares vigilantes de quem teme alguma ameaça... Os personagens não deixam dúvidas sobre a dor que se esconde nos corpos entretidos com o celular, o ipod, o videogame. Gente mal nutrida que continua acordando às 4h para o batente diário, deixando para trás filhos sem creche e sem educação adequada, expostos à insalubridade de áreas fétidas e sombrias. Gente que assusta os abonados com seus rostos sofridos e rapidamente é lançada à vala comum dos malfeitores pelo preconceito cego e insensível.
Não, isto não é um protesto de ano eleitoral, mas o reconhecimento de que, apesar de todas as melhorias sociais das últimas décadas, nossa injustiça social é ainda dominante e cruel. É, sobretudo, o reconhecimento da enorme resistência moral de quem, tensionado até o limite, ainda consegue dar bom dia, sorrir, trabalhar o dia inteiro por um salário vil e retornar para casa sem sair da linha. Resiliência é isso aí.
Amigo a gente reconhece
Publicado na edição de 14/08/12
Dizem que amigos a gente escolhe. Não acredito nisso. Imaginar que podemos determinar nossos amigos é tirar a amizade da categoria dos sentimentos, é excluí-la do reino misterioso e imprevisível do coração para transformá-la em mais uma habilidade utilitária, dessas que se aprende em seminários de relações humanas e cursos de etiqueta. Nesse caso, penso, já nem teríamos a amizade em si mesma, mas uma moeda de troca num jogo de interesses que justificaria a frase amarga de Machado de Assis: “Não é amigo aquele que alardeia a amizade: é traficante; a amizade sente-se, não se diz”.
É a vida quem escolhe nossos amigos, colocando-os à espreita nas esquinas e becos em que trafegamos. À luz do dia ou na escuridão da noite, lá estão eles, ágeis em nos seduzir com o brilho de um olhar, um sorriso ingênuo, um afago, uma tirada inteligente, um desabafo, uma ação generosa ou qualquer outro pequeno ou grande gesto que nos toca a alma, tornando-nos vivos e amorosos. Eu assinaria embaixo do que disse o poeta Vinícius de Moraes: “A gente não faz amigos, reconhece-os”.
Dizem que os amigos se revelam nas horas difíceis quando, oprimidos, buscamos um ombro para chorar e compartilhar o que ninguém quer ouvir. Pode ser. Confúcio já dizia que para conhecermos os nossos amigos é necessário passar pelo sucesso e pelo infortúnio, pois no sucesso verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade deles. Mas, com toda a consideração ao sábio chinês, entendo que, se soubermos distinguir os amigos dos bajuladores, perceberemos que a amizade maior mostra sua cara principalmente nos momentos em que o êxito e a alegria nos fazem menos dependentes, nivelando as relações e o respeito. Um grande amigo é um coração despido de avareza e inveja.
Amigo, quase sempre, é jóia rara. Mas, ao contrário do senso comum que guia os que acumulam ouro, uma coisa assim, tão preciosa, é para ser dividida e multiplicada ao invés de a aprisionarmos no cofre de um coração avaro. Como forasteiros, amigos chegam e se vão, deixando marcas positivas em nossas vidas. Seria ingratidão, prendê-los a nós, impedindo o seu vôo de gaivota livre.
É assim, nesse estado de espírito saudoso e bem-aventurado, que hoje eu e os companheiros do Sapiens nos despedimos de Luis Fernando Ruegger Ribeiro, o forasteiro paulista que há nove anos nos conquistou suave e definitivamente. Aqui ele deixa suas marcas como médico homeopata, terapeuta e, sobretudo, amigo que sabe partilhar e ajudar com a discrição e a sinceridade das almas nobres. Gratidão! Muita gratidão!
Vá voar, amigo. Não faz mal. Os que permanecemos no velho ponto de encontro iremos concordar com o poeta Vinícius: “A amizade, além de contagiosa, é totalmente incurável”.
É a vida quem escolhe nossos amigos, colocando-os à espreita nas esquinas e becos em que trafegamos. À luz do dia ou na escuridão da noite, lá estão eles, ágeis em nos seduzir com o brilho de um olhar, um sorriso ingênuo, um afago, uma tirada inteligente, um desabafo, uma ação generosa ou qualquer outro pequeno ou grande gesto que nos toca a alma, tornando-nos vivos e amorosos. Eu assinaria embaixo do que disse o poeta Vinícius de Moraes: “A gente não faz amigos, reconhece-os”.
Dizem que os amigos se revelam nas horas difíceis quando, oprimidos, buscamos um ombro para chorar e compartilhar o que ninguém quer ouvir. Pode ser. Confúcio já dizia que para conhecermos os nossos amigos é necessário passar pelo sucesso e pelo infortúnio, pois no sucesso verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade deles. Mas, com toda a consideração ao sábio chinês, entendo que, se soubermos distinguir os amigos dos bajuladores, perceberemos que a amizade maior mostra sua cara principalmente nos momentos em que o êxito e a alegria nos fazem menos dependentes, nivelando as relações e o respeito. Um grande amigo é um coração despido de avareza e inveja.
Amigo, quase sempre, é jóia rara. Mas, ao contrário do senso comum que guia os que acumulam ouro, uma coisa assim, tão preciosa, é para ser dividida e multiplicada ao invés de a aprisionarmos no cofre de um coração avaro. Como forasteiros, amigos chegam e se vão, deixando marcas positivas em nossas vidas. Seria ingratidão, prendê-los a nós, impedindo o seu vôo de gaivota livre.
É assim, nesse estado de espírito saudoso e bem-aventurado, que hoje eu e os companheiros do Sapiens nos despedimos de Luis Fernando Ruegger Ribeiro, o forasteiro paulista que há nove anos nos conquistou suave e definitivamente. Aqui ele deixa suas marcas como médico homeopata, terapeuta e, sobretudo, amigo que sabe partilhar e ajudar com a discrição e a sinceridade das almas nobres. Gratidão! Muita gratidão!
Vá voar, amigo. Não faz mal. Os que permanecemos no velho ponto de encontro iremos concordar com o poeta Vinícius: “A amizade, além de contagiosa, é totalmente incurável”.
Provérbios do dia
Publicado na edição de 07/08/12
Ao deliciar-me com a leitura da segunda edição de Destino de Pássaros e Outros Destinos, do poeta Francisco de Assis Câmara, fui provocado pela seção mais singela do livro, aquela em que o autor compõe versos inspirados em provérbios, os ditados populares repletos de sabedoria prática que no passado eram recurso pedagógico dos pais na transmissão de valores e crenças aos filhos. Se você, leitor, tem mais de 40 anos certamente aprendeu em casa que “é melhor andar só do que mal acompanhado” e, talvez, ainda repita entre amigos as velhas máximas da vovó: “De esmola grande o cego desconfia”, “Boa romaria faz quem em sua casa está em paz”...
Os provérbios têm quase a idade do homo sapiens. Muitos dos que chegaram a nós surgiram na antiguidade, forjados no anonimato para sintetizar o conhecimento que resulta da experiência humana em diferentes culturas. Até a Bíblia lhes concede um lugar de relevo em seu livro Provérbios. Em seu formato simples, curto e direto, os ditados populares nos levam ao ponto, estabelecendo juízos que refletem arquétipos universais, princípios éticos e também o imaginário coletivo de cada nação e cada cultura, com a sua carga de preconceitos e chauvinismo.
Provérbios expressam conhecimentos comuns e não necessariamente a verdade. Mas, embora isso pareça extemporâneo, penso que nos dias atuais eles poderiam cumprir uma função terapêutica e preventiva - inerente ao poder da palavra -, curando transtornos e obsessões que atazanam nossas vidas ricas de barulho e carentes de sentido. Reproduzidos por pais ou receitados por psicólogos e médicos, funcionariam como pílulas sem efeitos colaterais sobre os tecidos da alma que constituem o caráter e os sentimentos.
Aqui, algumas indicações:
“A palavra é de prata, o silêncio é de ouro”. Recomendado para os que padecem do mal da loquacidade, incapazes de ouvir o próximo e observarem a si mesmos.
“Águas passadas não movem moinhos”. Indicado para os saudosistas patológicos e os que se ataram a seus psicanalistas.
“Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos”. Perfeito para vanguardeiros que repetem a rotina dos próprios pais.
“Não há rosas sem espinhos”. Prescrito para os que se perderam na busca da felicidade vendida.
Os provérbios têm quase a idade do homo sapiens. Muitos dos que chegaram a nós surgiram na antiguidade, forjados no anonimato para sintetizar o conhecimento que resulta da experiência humana em diferentes culturas. Até a Bíblia lhes concede um lugar de relevo em seu livro Provérbios. Em seu formato simples, curto e direto, os ditados populares nos levam ao ponto, estabelecendo juízos que refletem arquétipos universais, princípios éticos e também o imaginário coletivo de cada nação e cada cultura, com a sua carga de preconceitos e chauvinismo.
Provérbios expressam conhecimentos comuns e não necessariamente a verdade. Mas, embora isso pareça extemporâneo, penso que nos dias atuais eles poderiam cumprir uma função terapêutica e preventiva - inerente ao poder da palavra -, curando transtornos e obsessões que atazanam nossas vidas ricas de barulho e carentes de sentido. Reproduzidos por pais ou receitados por psicólogos e médicos, funcionariam como pílulas sem efeitos colaterais sobre os tecidos da alma que constituem o caráter e os sentimentos.
Aqui, algumas indicações:
“A palavra é de prata, o silêncio é de ouro”. Recomendado para os que padecem do mal da loquacidade, incapazes de ouvir o próximo e observarem a si mesmos.
“Águas passadas não movem moinhos”. Indicado para os saudosistas patológicos e os que se ataram a seus psicanalistas.
“Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos”. Perfeito para vanguardeiros que repetem a rotina dos próprios pais.
“Não há rosas sem espinhos”. Prescrito para os que se perderam na busca da felicidade vendida.
“De grão em grão a galinha enche o papo”. Receitado para os que desconhecem o valor do trabalho, sufocados na ansiedade por resultados.
“Quem compra o que não pode, vende o que não quer”. Exato para inscritos no Serasa, compradores compulsivos e os incapazes de planejar.
“São bambas as pernas do coxo, e o provérbio na boca dos insensatos” (Provérbios, 26:7). Ideal para gurus fabricados e muitos autores de autoajuda.
“Quem compra o que não pode, vende o que não quer”. Exato para inscritos no Serasa, compradores compulsivos e os incapazes de planejar.
“São bambas as pernas do coxo, e o provérbio na boca dos insensatos” (Provérbios, 26:7). Ideal para gurus fabricados e muitos autores de autoajuda.
O Evangelho segundo São Google
Publicado na edição de 24/07/12
Há dias participei de um painel em que os expositores teriam que responder a duas perguntas: A mensagem do Evangelho cristão envelheceu? É possível viver segundo esse ensinamento nos dias atuais? Como especialista em coisa nenhuma, embora caminhante que se deleita em descobrir a verdade da vida, respondi simulando a escrita de um Evangelho contemporâneo, inspirado em trechos dos evangelhos sinóticos - as narrativas similares de Mateus, Marcos e Lucas.
Rotulei o rabisco de O Evangelho Segundo São Google, santo e guia virtual das multidões aflitas por informação imediata obtida sem esforço. E é dele que copio o relato de uma das mais significativas parábolas de Jesus (narrada originalmente em Lucas, cap. XII, v. 13 a 21) para ilustrar meu raciocínio.
“Disse-lhes Jesus: “Um nerd fundou na garagem de sua casa uma pequena fábrica de engenhocas eletrônicas e softwares. Seus produtos, úteis para muita gente, eram vendidos em lojas e em barracas de camelô e logo a empresa cresceu, tornando-se uma gigante da informática. O nerd então abriu o capital da companhia e viu suas ações se situarem entre as mais valorizadas da Bolsa. Sua fortuna expandia-se e ele já não sabia como gastar tanto dinheiro. Então, orgulhoso de seu sucesso, disse a si mesmo: abrirei filiais em vários países, investirei em tecnologias e, finalmente, direi ‘sou o homem mais rico do mundo e posso comer, beber e gozar para o resto de minha vida. O sucesso me pertence’. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao nerd bilionário: ‘Que insensato és. Até aqui pensastes em poder, dinheiro e prazer, mas o câncer já se instalou em teu corpo e logo irão tomar a tua alma. De que te servirá tudo o que acumulaste sem pensar na tua vida e na tua paz?’ É o que acontece a todo aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico de espírito”.
Pois é... As conjunturas mudam e surgem novos mitos (o do consumo, por exemplo, é deidade imponente na mitologia do dinheiro), mas, no fundo, o homem atravessa os séculos carregando os mesmos dilemas e as mesmas necessidades essenciais. Sua alma é convidada a escolher entre o egoísmo, e todo o medo e sofreguidão que dele decorrem, e o amor, e toda a liberdade e serenidade que o acompanham.
É a condição humana - na qual um bilionário do século 21 repete a saga existencial de um latifundiário de há 2 mil anos - que torna atualíssima a mensagem central do Evangelho e de todas as tradições espirituais. E é o legado de boas obras e vida saudável dos que, em diferentes épocas, experienciaram intensamente essa mensagem a confirmação de sua viabilidade hoje, como alimento espiritual, terapia psicológica, fonte de saúde e ideologia maior de quem se permite a ousadia da mudança.
Rotulei o rabisco de O Evangelho Segundo São Google, santo e guia virtual das multidões aflitas por informação imediata obtida sem esforço. E é dele que copio o relato de uma das mais significativas parábolas de Jesus (narrada originalmente em Lucas, cap. XII, v. 13 a 21) para ilustrar meu raciocínio.
“Disse-lhes Jesus: “Um nerd fundou na garagem de sua casa uma pequena fábrica de engenhocas eletrônicas e softwares. Seus produtos, úteis para muita gente, eram vendidos em lojas e em barracas de camelô e logo a empresa cresceu, tornando-se uma gigante da informática. O nerd então abriu o capital da companhia e viu suas ações se situarem entre as mais valorizadas da Bolsa. Sua fortuna expandia-se e ele já não sabia como gastar tanto dinheiro. Então, orgulhoso de seu sucesso, disse a si mesmo: abrirei filiais em vários países, investirei em tecnologias e, finalmente, direi ‘sou o homem mais rico do mundo e posso comer, beber e gozar para o resto de minha vida. O sucesso me pertence’. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao nerd bilionário: ‘Que insensato és. Até aqui pensastes em poder, dinheiro e prazer, mas o câncer já se instalou em teu corpo e logo irão tomar a tua alma. De que te servirá tudo o que acumulaste sem pensar na tua vida e na tua paz?’ É o que acontece a todo aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico de espírito”.
Pois é... As conjunturas mudam e surgem novos mitos (o do consumo, por exemplo, é deidade imponente na mitologia do dinheiro), mas, no fundo, o homem atravessa os séculos carregando os mesmos dilemas e as mesmas necessidades essenciais. Sua alma é convidada a escolher entre o egoísmo, e todo o medo e sofreguidão que dele decorrem, e o amor, e toda a liberdade e serenidade que o acompanham.
É a condição humana - na qual um bilionário do século 21 repete a saga existencial de um latifundiário de há 2 mil anos - que torna atualíssima a mensagem central do Evangelho e de todas as tradições espirituais. E é o legado de boas obras e vida saudável dos que, em diferentes épocas, experienciaram intensamente essa mensagem a confirmação de sua viabilidade hoje, como alimento espiritual, terapia psicológica, fonte de saúde e ideologia maior de quem se permite a ousadia da mudança.
Fatos e versões
Publicado na edição de 10/07/12
Se você está lendo este jornal na expectativa de encontrar o relato fiel de fatos, lamento informar: você está equivocado. Diria o mesmo se você estivesse lendo os jornais concorrentes ou mesmo um monstro sagrado da mídia, como o The New York Times. Aplique-se isso às revistas (com mais ênfase), aos portais de notícias, aos blogs (com muito mais ênfase) e à televisão, ainda que nas transmissões ao vivo. Aplique-se até aos emails e às cartas (se é que elas ainda existem) e também aos livros e às pesquisas orgulhosamente rotuladas de ciência. No papel, no computador ou na TV jamais existem fatos, mas versões de fatos baseadas nos filtros mentais e ideológicos de quem os reporta.
A rigor não existem fatos - no sentido de realidade que pode ser percebida por inteiro por qualquer pessoa - nem mesmo quando estamos cara a cara com o que acontece ou somos parte do acontecimento. Cada observador só registra o que é selecionado por seu conjunto de crenças e condicionamentos, algo mutável com a experiência, porém invariavelmente resistente a mudanças. Mesmo assim a aproximação à verdade pode e deve ser uma meta pessoal e profissional para a qual se faz necessário o desapego de operar no nível das convicções, sedimentando na humildade da dúvida a abertura ao desconhecido.
Novos conhecimentos e tecnologias derrubam crenças consolidadas e, nesse contexto, é a percepção da complexidade, revelando-nos a interpendência dos agentes da vida, que paradoxalmente nos abre a porta do exercício efetivo da liberdade e da responsabilidade. Até hoje isso tem sido prejudicado pelo hábito de identificar o fato com a sua versão, base da passividade das massas e do movimento de manada nos modismos.
No campo do jornalismo, muito temos a agradecer a Internet por sua ajuda no desmonte de mitos como o da objetividade da notícia e o da sapiência dos analistas e líderes de opinião. Portais de informação e blogs, por seus pecados e virtudes, acabam sensibilizando o leitor para a constatação do óbvio: a diversidade de visões e interesses e a funcionalidade das técnicas de edição (inclusive nas imagens ao vivo) sob a influência desses pontos de vista e intenções. Além disso, a emergência do noticiário em tempo real tem substituído a noção de notícia como pacote fechado pela de processo, uma captação do movimento da vida com o permanente ajuste de novos enfoques e da correção de dados.
Isso não é mau para o jornalismo, o bom jornalismo, e é ótimo para o público. Motivado pelo oceano de versões, ou perdido em suas ondas, o leitor tende a assumir uma atitude proativa e a responsabilidade de selecionar dados para a construção de seu próprio conhecimento, passando a agir e interagir na teia social com mais liberdade e menos subjugação a manipulações e interesses.
A rigor não existem fatos - no sentido de realidade que pode ser percebida por inteiro por qualquer pessoa - nem mesmo quando estamos cara a cara com o que acontece ou somos parte do acontecimento. Cada observador só registra o que é selecionado por seu conjunto de crenças e condicionamentos, algo mutável com a experiência, porém invariavelmente resistente a mudanças. Mesmo assim a aproximação à verdade pode e deve ser uma meta pessoal e profissional para a qual se faz necessário o desapego de operar no nível das convicções, sedimentando na humildade da dúvida a abertura ao desconhecido.
Novos conhecimentos e tecnologias derrubam crenças consolidadas e, nesse contexto, é a percepção da complexidade, revelando-nos a interpendência dos agentes da vida, que paradoxalmente nos abre a porta do exercício efetivo da liberdade e da responsabilidade. Até hoje isso tem sido prejudicado pelo hábito de identificar o fato com a sua versão, base da passividade das massas e do movimento de manada nos modismos.
No campo do jornalismo, muito temos a agradecer a Internet por sua ajuda no desmonte de mitos como o da objetividade da notícia e o da sapiência dos analistas e líderes de opinião. Portais de informação e blogs, por seus pecados e virtudes, acabam sensibilizando o leitor para a constatação do óbvio: a diversidade de visões e interesses e a funcionalidade das técnicas de edição (inclusive nas imagens ao vivo) sob a influência desses pontos de vista e intenções. Além disso, a emergência do noticiário em tempo real tem substituído a noção de notícia como pacote fechado pela de processo, uma captação do movimento da vida com o permanente ajuste de novos enfoques e da correção de dados.
Isso não é mau para o jornalismo, o bom jornalismo, e é ótimo para o público. Motivado pelo oceano de versões, ou perdido em suas ondas, o leitor tende a assumir uma atitude proativa e a responsabilidade de selecionar dados para a construção de seu próprio conhecimento, passando a agir e interagir na teia social com mais liberdade e menos subjugação a manipulações e interesses.
Céu e Terra
Publicado na edição de 26/06/12
No centro do tablado, o caboclo de lança rodopia abraçado a uma boneca de pano. Seu traje é vistoso e tem cheiro de terra. O chapéu de aba frontal virada, ornado de fitas coloridas, completa o visual esfuziante da gola coberta de lantejoulas, a calça frouxa com franjas e o rosto pintado de prata. Seus movimentos, perfeitos. Ritmo e precisão na espontaneidade. Só esse espetáculo já valeria a noite. Mas tem ainda a multidão, em pares e em solitários brincantes, dançando solta sob o barracão de lona enfeitado com bandeirinhas de crepe. E, no palco, Nando Cordel, uma referência da música popular nordestina, puxando o cordão de artistas nativos e seu forró de raiz com poesia, melodia e sem apelos pornográficos, até encerrar a noite com um emocionado chamado à paz e à espiritualidade.
Quanto custou a fantasia do caboclo, alegremente perdido em seu êxtase? Certamente alguns trocados que cabem em seu modesto salário. Quanto custou o espetáculo despojado e eletrizante promovido pela Prefeitura do Recife na Praça do Arsenal, que eu tive o prazer de assistir? Imagino que nenhuma verba milionária que faz escorrer pelo ralo o patrimônio do contribuinte.
No dia seguinte ainda pude testemunhar o deleite dos mais pobres no Pátio de São Pedro, no centro, onde vi famílias inteiras brincando em paz, apesar da abundância de bebidas. O São João dos recifenses - rotulado de “São João Tradicional a Gente Faz na Capital” - teve essa marca de simplicidade e autenticidade que se repetiu em seis polos de festividades públicas e gratuitas. Merece ser exemplo para outras cidades.
É curioso que seja Recife, a mais cosmopolita das cidades nordestinas, a guardiã de nossas tradições. Maracatu, frevo, boi bumbá, mamulengos, caboclo de lança, mateus... Que outra capital do Nordeste cultiva tão bem suas raízes culturais quanto essa Veneza tropical onde a alma de sua gente pulsa entre pontes, igrejas e casarões centenários? Acredito que é nisso mesmo, nessa garapa que verte de seu engenho criativo, que povo e artistas sustentam a glória de Pernambuco.
Ao contrário do que imaginam as mentes inebriadas pelos modismos, o panorama global não extingue os valores locais, mas concede-lhe uma janela ampla para serem apreciados pelo mundo. E na contramão dos que separam corpo e alma, espírito e matéria, é na manifestação telúrica de uma comunidade - o que inclui rituais e manifestações profanos - que vamos encontrar o acesso mais universal à nossa essência e ao senso de pertença ao universo.
Céu e Terra se fundem no êxtase provocado por cânticos religiosos ou pelo surdo da Mangueira no Carnaval, pelo recolhimento da oração ou pela sinfonia da zabumba com a sanfona na noite de São João.
Quanto custou a fantasia do caboclo, alegremente perdido em seu êxtase? Certamente alguns trocados que cabem em seu modesto salário. Quanto custou o espetáculo despojado e eletrizante promovido pela Prefeitura do Recife na Praça do Arsenal, que eu tive o prazer de assistir? Imagino que nenhuma verba milionária que faz escorrer pelo ralo o patrimônio do contribuinte.
No dia seguinte ainda pude testemunhar o deleite dos mais pobres no Pátio de São Pedro, no centro, onde vi famílias inteiras brincando em paz, apesar da abundância de bebidas. O São João dos recifenses - rotulado de “São João Tradicional a Gente Faz na Capital” - teve essa marca de simplicidade e autenticidade que se repetiu em seis polos de festividades públicas e gratuitas. Merece ser exemplo para outras cidades.
É curioso que seja Recife, a mais cosmopolita das cidades nordestinas, a guardiã de nossas tradições. Maracatu, frevo, boi bumbá, mamulengos, caboclo de lança, mateus... Que outra capital do Nordeste cultiva tão bem suas raízes culturais quanto essa Veneza tropical onde a alma de sua gente pulsa entre pontes, igrejas e casarões centenários? Acredito que é nisso mesmo, nessa garapa que verte de seu engenho criativo, que povo e artistas sustentam a glória de Pernambuco.
Ao contrário do que imaginam as mentes inebriadas pelos modismos, o panorama global não extingue os valores locais, mas concede-lhe uma janela ampla para serem apreciados pelo mundo. E na contramão dos que separam corpo e alma, espírito e matéria, é na manifestação telúrica de uma comunidade - o que inclui rituais e manifestações profanos - que vamos encontrar o acesso mais universal à nossa essência e ao senso de pertença ao universo.
Céu e Terra se fundem no êxtase provocado por cânticos religiosos ou pelo surdo da Mangueira no Carnaval, pelo recolhimento da oração ou pela sinfonia da zabumba com a sanfona na noite de São João.
Rio+20
Publicado na edição de 19/06/12
Sem planejar minha viagem de lazer com a família, acabei chegando ao Rio de Janeiro nestes dias de Rio+20, a conferência de cúpula das Nações Unidas que tentará costurar acordos e compromissos em torno da questão do clima e da degradação do planeta, na busca do chamado desenvolvimento sustentável. Sorte. Por causa disso, fui contemplado com uma cidade ainda mais ornamentada de cores e luzes, com monumentos e prédios históricos restaurados e limpos, mais alegria nas ruas na véspera do inverno e, claro, com os problemas que sempre emergem quando muita gente se aglomera, como trânsito caótico e o desequilíbrio entre procura e oferta que acirra os ânimos dos especuladores.
Não participo como militante ou jornalista, e muito menos como negociador, de nenhum dos 500 eventos programados em torno do eixo da cúpula de governantes, que se iniciará amanhã. Como cidadão do mundo, no entanto, torço para que a vida proporcione desvios que permitam aos gestores de boa vontade driblar o boicote dissimulado dos países ricos à iniciativa da ONU -- uma clara demonstração de nossa inconsciência e de nossa imensa capacidade de complicar as coisas simples, impulsionados pelo egoísmo.
Chegamos à beira do abismo inspirados em modelos político-econômicos que, independentemente da coloração ideológica, tem seus fundamentos na idéia de acumulação e maximização infinitas que, por sua vez, servem ao propósito de domínio, controle e prazer. Atrás de tudo, como pano de fundo de nossa inconsciência generalizada, paira a idéia de que existimos separados da natureza e do universo, a mesma que, no nível das relações pessoais, leva-nos a desvalorizar o outro e sua diferença, alimentando todo tipo de desrespeito, segregação e opressão.
É lamentável que, diante da Terra exaurida e da ameaça de escassez e fome em futuro próximo, os países só consigam enxergar o dado superficial da crise econômica e do desemprego e, para resolvê-los, continuem a trabalhar com a mesma fórmula de progresso indiscriminado, um fazer a roda girar sem considerar consequências e, sobretudo, sem revisar fundamentos e implicações éticas.
Acredito que sem mexer na nossa visão de mundo dificilmente chegaremos a algum lugar de equilíbrio e sustentabilidade sem mais caos e sofrimento. E reforço minha convicação diante de uma preciosidade da arte-denúncia apresentada no coração do Rio, a Cinelândia: a exposição "A Terra vista do céu", com suas fotos belíssimas e chocantes clicadas pelo fotógrafo francês militante Yann Arthus-Bertrand. A partir de helicópteros e balões, Yann nos chicoteia com ângulos inéditos da poluição, da devastação e da pobreza gerados por nossa cegueira social.
Como curar feridas tão profundas sem uma mudança radical? Impossível. Não haverá solução sem considerarmos o apelo que vi numa das salas da exposição Humanidade 2012, outro evento paralelo à Rio+20, no Forte de Copacabana: "O desafio que se coloca no umbral do século 21 é o de mudar o curso da civilização. desviar seu eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação para a lógica dos fins em função do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos".
O artista e o povo
Publicado na edição de 29/05/12
A internet me traz o convite do promotor cultural Antonino Condorelli para participar de um tuitaço (protesto através do Twitter) pela democratização da cultura. A frustração de admiradores de Chico Buarque, impossibilitados de assistirem ao show do consagrado compositor em razão do preço proibitivo e mesmo da falta de espaço para abrigar tanta gente no teatro mais sofisticado da cidade, inspirou a idéia. O objetivo é pressionar o poder público a priorizar a cultura, o que levaria, entre outras ações, à criação de espaços onde o povo pudesse ter acesso a produções mais refinadas e consequentes que o batidão com letras pornográficas ou a tradicional comédia pastelão.
Se funcionar, a proposta do tuitaço terá contribuido, no mínimo, para o despertar das consciências acomodadas a uma situação de apatia da qual se beneficiam os interesses políticos tradicionais e a chamada indústria cultural, aquela que, quase sempre, mói o artista e o transforma num produto pasteurizado e inofensivo - uma grife a ser consumida por quem pode pagar e usar na excitação dos sentidos, sem que a arte em si lhe toque a mente e o coração.
Pensar, ter idéias e expressá-las, inclusive na moldura de beleza da arte, sempre foram ameaças ao estabelecido, espécie de facas amoladas que precisam ficar longe da massa rude, a quem o preconceito atribui a incapacidade de processar o conhecimento, decantando hábitos e objetivos. E isso explica, em parte, a estratificação da produção cultural em que os pobres seguem isolados no circuito de pão e circo, no pior sentido dessa expressão.
O tuitaço traz ainda à superfície outro aspecto da situação que diz respeito ao próprio artista e ao seu senso de missão e comprometimento. É certo que o credo do mercado e a ganância nos fazem esquecer de que também nossa atividade profissional precisa estar atrelada ao nosso propósito de vida, o que nos levaria a intervir no mundo como missionários, acima do interesse financeiro. Mas a sociedade sempre paga caro quando essa amnésia acontece em áreas vitais, como a medicina e a arte.
Diante disso, sem esquecer a ação avara dos atravessadores na fixação de preços dos produtos culturais, vale a pena evocar o que um dia todo artista hoje aboletado em cachês milionários cantou nos versos de Fernando Brandt e Milton Nascimento: “Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão / Que muita gente pôs os pés na profissão / De tocar um instrumento e de cantar / Não importando se quem pagou quis ouvir (...) / Era assim. / Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão / Todo artista tem de ir aonde o povo está. / Se foi assim, assim será. / Cantando me disfarço e não me canso de viver/ Nem de cantar.”
Se funcionar, a proposta do tuitaço terá contribuido, no mínimo, para o despertar das consciências acomodadas a uma situação de apatia da qual se beneficiam os interesses políticos tradicionais e a chamada indústria cultural, aquela que, quase sempre, mói o artista e o transforma num produto pasteurizado e inofensivo - uma grife a ser consumida por quem pode pagar e usar na excitação dos sentidos, sem que a arte em si lhe toque a mente e o coração.
Pensar, ter idéias e expressá-las, inclusive na moldura de beleza da arte, sempre foram ameaças ao estabelecido, espécie de facas amoladas que precisam ficar longe da massa rude, a quem o preconceito atribui a incapacidade de processar o conhecimento, decantando hábitos e objetivos. E isso explica, em parte, a estratificação da produção cultural em que os pobres seguem isolados no circuito de pão e circo, no pior sentido dessa expressão.
O tuitaço traz ainda à superfície outro aspecto da situação que diz respeito ao próprio artista e ao seu senso de missão e comprometimento. É certo que o credo do mercado e a ganância nos fazem esquecer de que também nossa atividade profissional precisa estar atrelada ao nosso propósito de vida, o que nos levaria a intervir no mundo como missionários, acima do interesse financeiro. Mas a sociedade sempre paga caro quando essa amnésia acontece em áreas vitais, como a medicina e a arte.
Diante disso, sem esquecer a ação avara dos atravessadores na fixação de preços dos produtos culturais, vale a pena evocar o que um dia todo artista hoje aboletado em cachês milionários cantou nos versos de Fernando Brandt e Milton Nascimento: “Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão / Que muita gente pôs os pés na profissão / De tocar um instrumento e de cantar / Não importando se quem pagou quis ouvir (...) / Era assim. / Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão / Todo artista tem de ir aonde o povo está. / Se foi assim, assim será. / Cantando me disfarço e não me canso de viver/ Nem de cantar.”
Basta um toque de mulher
Publicado na edição de 22/05/12
Na prosa poética de Diógenes da Cunha Lima, em seu belo e refinado Natal - uma nova biografia, encontro o verso de Dailor Varela que me leva a refletir sobre a fase de baixa autoestima e desleixo por que passa esta cidade encantadora. “Clara cidade de luz. Natal não anoitece”, disse o poeta falecido recentemente. No domingo passado, no entanto, Natal estava escondida na penumbra. As luzes do pórtico dos Reis Magos, na entrada, apagadas. O calçadão de Ponta Negra destruído e sem lâmpadas. O Forte dos Reis Magos oculto nas trevas. Até a Árvore do Mirassol, novo cartão postal, estava desligada e inútil.
O noticiário e o jogo político tiram suas próprias conclusões e sinalizam ora a inabilidade dos gestores, ora a escassez de recursos e o caro custeio da máquina administrativa. Certamente é a soma de tudo isso e mais um detalhe que observo a partir da experiência trivial.
Certa vez, ao visitar um amigo, professor em escola pública de 1º grau, surpreendi-me com o esmero de seu pequeno apartamento, no qual móveis simples, mas de bom gosto, contracenavam com tapetes e obras de arte assinadas por artistas populares, dando ao ambiente uma aparência agradável e acolhedora. A intimidade nos permitia descer a detalhes e, assim, ouvi-o revelar espanto pelo fato de seus colegas se acharem em miséria enquanto ele conseguia viver bem e sem dívidas apoiado apenas no salário modesto. Logo percebi que o segredo estava na sua criatividade e sensibilidade e, certamente, numa precisa noção de foco e moderação.
Não é uma cena incomum. No contato com famílias pobres, em meus trabalhos voluntários, frequentemente deparo com marcas de zelo, limpeza e beleza onde há alguém disposto a expressar sua sensibilidade e alegria de partilhar, o que quase sempre tem a ver com a presença da mulher e o jeito feminino de olhar, sentir, escolher e agir. Nesse contexto o dinheiro é curto, mas a criatividade supera os obstáculos.
Natal, a meu ver, precisa desse toque feminino nos escalões gestores para sair do estágio depressivo e descuidado em que se encontra. O Rio Grande do Norte mesmo parece carecer dessa ousadia capaz de criar novas e saudáveis possibilidades, ainda que na contramão dos interesses corruptores por serem simples, baratas e desburocratizadas.
Mulheres no poder, já temos. Mas estariam nossas mulheres poderosas acomodadas a um mimetismo machista no ambiente viciado da política? Estariam imobilizadas pelas algemas do toma lá, da cá e pelas sabotagens das máfias invisíveis? Não tenho a resposta, mas tenho uma certeza: se aprenderem com as mulheres pobres e criativas, Natal ficará mais bela até com canteiros de xanana, a planta singela e despojada que, segundo Diógenes, é a flor desta cidade.
O noticiário e o jogo político tiram suas próprias conclusões e sinalizam ora a inabilidade dos gestores, ora a escassez de recursos e o caro custeio da máquina administrativa. Certamente é a soma de tudo isso e mais um detalhe que observo a partir da experiência trivial.
Certa vez, ao visitar um amigo, professor em escola pública de 1º grau, surpreendi-me com o esmero de seu pequeno apartamento, no qual móveis simples, mas de bom gosto, contracenavam com tapetes e obras de arte assinadas por artistas populares, dando ao ambiente uma aparência agradável e acolhedora. A intimidade nos permitia descer a detalhes e, assim, ouvi-o revelar espanto pelo fato de seus colegas se acharem em miséria enquanto ele conseguia viver bem e sem dívidas apoiado apenas no salário modesto. Logo percebi que o segredo estava na sua criatividade e sensibilidade e, certamente, numa precisa noção de foco e moderação.
Não é uma cena incomum. No contato com famílias pobres, em meus trabalhos voluntários, frequentemente deparo com marcas de zelo, limpeza e beleza onde há alguém disposto a expressar sua sensibilidade e alegria de partilhar, o que quase sempre tem a ver com a presença da mulher e o jeito feminino de olhar, sentir, escolher e agir. Nesse contexto o dinheiro é curto, mas a criatividade supera os obstáculos.
Natal, a meu ver, precisa desse toque feminino nos escalões gestores para sair do estágio depressivo e descuidado em que se encontra. O Rio Grande do Norte mesmo parece carecer dessa ousadia capaz de criar novas e saudáveis possibilidades, ainda que na contramão dos interesses corruptores por serem simples, baratas e desburocratizadas.
Mulheres no poder, já temos. Mas estariam nossas mulheres poderosas acomodadas a um mimetismo machista no ambiente viciado da política? Estariam imobilizadas pelas algemas do toma lá, da cá e pelas sabotagens das máfias invisíveis? Não tenho a resposta, mas tenho uma certeza: se aprenderem com as mulheres pobres e criativas, Natal ficará mais bela até com canteiros de xanana, a planta singela e despojada que, segundo Diógenes, é a flor desta cidade.
Relações perigosas
Publicado na edição de 15/05/12
Certa vez estraguei uma relação que se encaminhava para a consolidação de uma amizade ao repetir a esmo a frase célebre do jornalista Joe Pulitzer, cujo sobrenome nomeia o prêmio mais importante do jornalismo americano: “O jornalista não tem amigos nem inimigos”. Meu interlocutor, assustado, afastou-se de mim. Certamente, hoje, amadurecido e menos voluntarioso, eu teria o cuidado de explicar o real significado da sentença e, assim, evitaria a perda no meu círculo afetivo.
A máxima de Pulitzer foi minha estrela guia enquanto fui repórter e editor.
A máxima de Pulitzer foi minha estrela guia enquanto fui repórter e editor.
Frequentei gabinetes de políticos influentes na República, entrevistei presidentes e busquei a notícia junto a empresários de peso e até banqueiros. Constituí uma malha de contatos nos escalões intermediários que me ajudou a dar conta da missão de levar ao leitor o “furo” e a informação qualificada. Nos últimos anos na ativa conversei com pesquisadores do mundo acadêmico e empreendedores do segmento turístico. E em todas essas etapas, meus relacionamentos com as fontes de informação, ainda que rotineiros, não passaram do nível profissional.
Foi bom para mim (pois exerci minha profissão com lisura), para as fontes (que puderam falar com a segurança de estar diante de um profissional ético) e, sobretudo, para os leitores (que receberam informação menos tisnadas pelo jogo de interesses). Logo, sou grato a Pulitzer e aos mestres do jornalismo com quem convivi, que me reforçaram a convicção de que não se deve escrever notícias para favorecer e tampouco prejudicar ou perseguir alguém.
Rememoro esses ensinamentos a propósito da recente revelação do envolvimento de jornalistas e publicações com personagens do submundo do crime vip.
O episódio não é novidade e foi bem mais presente no jornalismo daqui e de outros países - inclusive os Estados Unidos - no tempo em que fazer jornal era ofício de bêbados, politiqueiros e visionários inescrupulosos. No caso em foco, porém, parece-me que estamos diante de uma tragicomédia em que profissionais e publicações, na ânsia do “furo” e no desvio do fervor ideológico, acabaram enredados na armadilha de mafiosos hábeis em contracenar com a mídia no palco dos interesses imediatos, algo mais frequente do que se imagina no cotidiano da imprensa.
É um preço alto e amargo que nós, jornalistas, podemos pagar quando esquecemos a lição básica. A relação entre os jornalistas e as fontes deve ser cordial e honesta, com a troca legítima baseada no interesse de cada parte - a fonte querendo dar a informação que a beneficia e o jornalista querendo obter a notícia relevante para o leitor - mas não deve ir além disso. Uma relação entre jornalista e fonte, não uma relação entre amigos.
Foi bom para mim (pois exerci minha profissão com lisura), para as fontes (que puderam falar com a segurança de estar diante de um profissional ético) e, sobretudo, para os leitores (que receberam informação menos tisnadas pelo jogo de interesses). Logo, sou grato a Pulitzer e aos mestres do jornalismo com quem convivi, que me reforçaram a convicção de que não se deve escrever notícias para favorecer e tampouco prejudicar ou perseguir alguém.
Rememoro esses ensinamentos a propósito da recente revelação do envolvimento de jornalistas e publicações com personagens do submundo do crime vip.
O episódio não é novidade e foi bem mais presente no jornalismo daqui e de outros países - inclusive os Estados Unidos - no tempo em que fazer jornal era ofício de bêbados, politiqueiros e visionários inescrupulosos. No caso em foco, porém, parece-me que estamos diante de uma tragicomédia em que profissionais e publicações, na ânsia do “furo” e no desvio do fervor ideológico, acabaram enredados na armadilha de mafiosos hábeis em contracenar com a mídia no palco dos interesses imediatos, algo mais frequente do que se imagina no cotidiano da imprensa.
É um preço alto e amargo que nós, jornalistas, podemos pagar quando esquecemos a lição básica. A relação entre os jornalistas e as fontes deve ser cordial e honesta, com a troca legítima baseada no interesse de cada parte - a fonte querendo dar a informação que a beneficia e o jornalista querendo obter a notícia relevante para o leitor - mas não deve ir além disso. Uma relação entre jornalista e fonte, não uma relação entre amigos.
A aparência do preconceito
Publicado na edição de 08/05/12
Na lanchonete frequentada pela classe média, percebo olhares entediados em direção à minha mesa. Logo imagino que o motivo é a minha companhia: um pedreiro, de corpo calejado e vestimenta simples, que eu fora buscar na vila distante para orçar um serviço de reforma na sede do Sapiens. Depois me dou conta de que eu, de bermudão surrado e tênis popular, poderia ser a causa da reação blasé. Não importa. Em ocasiões como essa eu até me divirto. Quando sinto que minha aparência incomoda alguém que “se acha”, tenho vontade de dizer, sorrindo: “Siga em frente. A gente se encontra no cemitério”. Contenho-me por achar que um preconceituoso também merece curtir sua mesquinhez e seu medo, desde que isso não ameace o direito do outro.
A cena da lanchonete é dissimulada. Nada que se compare, por exemplo, ao ato patético de motoristas elevando rápido os vidros de seus carrões ante a proximidade de meninos esfarrapados que, nos cruzamentos, imploram por moedas em troca da lavagem rápida do parabrisa. Na cultura do medo, passada de pai para filho e sustentada pela mídia inconsequente, a aparência humilde e sofrida de uma pessoa passou a ser encarada como uma sinalização de despreparo, desonestidade e violência. É como se o pobre e, sobretudo o desvalido, estivesse sempre pronto a assaltar o patrimônio, e até a suposta nobreza, de quem se fechou para a riqueza do afeto e da solidariedade.
Bastaria uma expressão de gentileza para desfazer esse equívoco, gerando a resposta de um sorriso ou de um “vai com Deus”, com ou sem moeda. Mas... quem se lembra?
A intolerância com a aparência seria cômica, se não fosse trágica em seus efeitos. Ela ergue muros e sustenta guetos, separando pessoas que se enriqueceriam mutuamente nas trocas da convivência desarmada. Também torna nossa vida limitada e insegura, ao fomentar o rancor e realimentar o medo. E, além disso, nos deixa cegos ante da realidade.
Não há um só dia em que os jornais, em suas páginas nobres de política e economia, não nos relatem casos de corrupção no serviço público, fraudes milionárias em empresas e bancos e todo um leque de trapaças praticadas por uma gente bonita e inteligente, que usa ternos e vestidos assinados por estilistas da moda e posa de arautos da cidadania, do empreendedorismo e até da dignidade.
Figurões (e figurinhas) dos poderes executivo, legislativo e judiciário enterrados até o pescoço na lama dos assaltos ao erário que resultam na miséria e morte de milhares, milhões de pessoas... Espertalhões que manipulam números e lesam multidões, na banca e no comércio, em negócios que pareciam lícitos...
E nós aqui, cegos pelo preconceito, com medo do moleque faminto do próximo semáforo.
A cena da lanchonete é dissimulada. Nada que se compare, por exemplo, ao ato patético de motoristas elevando rápido os vidros de seus carrões ante a proximidade de meninos esfarrapados que, nos cruzamentos, imploram por moedas em troca da lavagem rápida do parabrisa. Na cultura do medo, passada de pai para filho e sustentada pela mídia inconsequente, a aparência humilde e sofrida de uma pessoa passou a ser encarada como uma sinalização de despreparo, desonestidade e violência. É como se o pobre e, sobretudo o desvalido, estivesse sempre pronto a assaltar o patrimônio, e até a suposta nobreza, de quem se fechou para a riqueza do afeto e da solidariedade.
Bastaria uma expressão de gentileza para desfazer esse equívoco, gerando a resposta de um sorriso ou de um “vai com Deus”, com ou sem moeda. Mas... quem se lembra?
A intolerância com a aparência seria cômica, se não fosse trágica em seus efeitos. Ela ergue muros e sustenta guetos, separando pessoas que se enriqueceriam mutuamente nas trocas da convivência desarmada. Também torna nossa vida limitada e insegura, ao fomentar o rancor e realimentar o medo. E, além disso, nos deixa cegos ante da realidade.
Não há um só dia em que os jornais, em suas páginas nobres de política e economia, não nos relatem casos de corrupção no serviço público, fraudes milionárias em empresas e bancos e todo um leque de trapaças praticadas por uma gente bonita e inteligente, que usa ternos e vestidos assinados por estilistas da moda e posa de arautos da cidadania, do empreendedorismo e até da dignidade.
Figurões (e figurinhas) dos poderes executivo, legislativo e judiciário enterrados até o pescoço na lama dos assaltos ao erário que resultam na miséria e morte de milhares, milhões de pessoas... Espertalhões que manipulam números e lesam multidões, na banca e no comércio, em negócios que pareciam lícitos...
E nós aqui, cegos pelo preconceito, com medo do moleque faminto do próximo semáforo.
A espinhela e a bioquímica
Publicado na edição de 17/04/12
Vovó Apolônia era evangélica fervorosa, mas por amor ao seu neto predileto não hesitava em cometer heresias.
Lembro-me do dia em que, escondendo-se do pastor, ela levou-me a uma benzedeira, preocupada com meu desânimo e insônia aos seis anos de idade. A xamã pesou-me, mediu-me e, finalmente, diagnosticou: era espinhela caída (lumbago), um mal que no seu manual de doenças se curava com uma boa reza e toques de galhos de arruda. No dia seguinte acordei esperto e voltei às traquinagens.
Sorte minha que nasci nos anos 50, não tive plano de saúde na infância e contei com a proteção de uma avó transgressora. Se eu fosse criança hoje e me entristecesse por testemunhar uma crise na relação entre meus pais, talvez até a minha querida velhinha me conduziria ao consultório de um psiquiatra de onde, provavelmente, eu sairia rotulado de deprimido ou estressado, carente de algum antidepressivo ou ansiolítico entre tantos que fazem a dependência química de bilhões de pessoas e a fortuna dos laboratórios.
A psiquiatria tornou-se a vitrine daquilo que o psiquiatra paulistano Wilhelm Kenzler aponta como os três prontos críticos da medicina atual: a despersonalização, a tecnificação e a mercantilização. E, por sua vez, os desvios desse segmento espelham um paradigma no qual o homem é encarado como mera máquina, passível de ajustes pela bioquímica, sem levar em conta sua dimensão espiritual e as implicações éticas que dela decorrem, inclusive a autoaceitação e a liberdade.
Não se trata, aqui, de crucificar os médicos - eles próprios vítimas de um sistema de crenças e de interesses - e, tampouco, amaldiçoar toda receita de fármacos, que a experiência e o bom senso dizem ser razoáveis em situações de emergência e nos casos em que desequilíbrios bioquímicos dificultam o acesso ao ponto onde emerge a maioria das doenças: a alma humana. O mal está no abuso, que mascara a realidade e instala o vício.
No jargão médico, 90% dos diagnósticos não passam de NDN (nada digno de nota) ou DNV (distúrbio neurovegetativo), mas a regra é que o paciente saia do consultório com a indicação de um remédio químico que, no fundo, tomou o lugar do ritual da benzedeira, acompanhado, porém, da ameaça das chamadas doenças iatrogênicas, causadas por medicamentos. Por que, então, descartar o uso da medicina cultural e seu poder terapêutico através da palavra e do reequilíbrio holístico?
Penso nisso a propósito do livro “A Tragicomédia da Medicalização: a Psiquiatria e a Morte do Sujeito”, do filósofo e doutor em psicologia José Ramos Coelho, que será lançado nesta quarta-feira (18 de abril), às 19h, na Saraiva do Midway Mall. Ramos retoma a trilha de pensadores respeitáveis e nos convence: a comédia da medicalização da vida traz embutida a tragédia da morte do ser e da liberdade.
Lembro-me do dia em que, escondendo-se do pastor, ela levou-me a uma benzedeira, preocupada com meu desânimo e insônia aos seis anos de idade. A xamã pesou-me, mediu-me e, finalmente, diagnosticou: era espinhela caída (lumbago), um mal que no seu manual de doenças se curava com uma boa reza e toques de galhos de arruda. No dia seguinte acordei esperto e voltei às traquinagens.
Sorte minha que nasci nos anos 50, não tive plano de saúde na infância e contei com a proteção de uma avó transgressora. Se eu fosse criança hoje e me entristecesse por testemunhar uma crise na relação entre meus pais, talvez até a minha querida velhinha me conduziria ao consultório de um psiquiatra de onde, provavelmente, eu sairia rotulado de deprimido ou estressado, carente de algum antidepressivo ou ansiolítico entre tantos que fazem a dependência química de bilhões de pessoas e a fortuna dos laboratórios.
A psiquiatria tornou-se a vitrine daquilo que o psiquiatra paulistano Wilhelm Kenzler aponta como os três prontos críticos da medicina atual: a despersonalização, a tecnificação e a mercantilização. E, por sua vez, os desvios desse segmento espelham um paradigma no qual o homem é encarado como mera máquina, passível de ajustes pela bioquímica, sem levar em conta sua dimensão espiritual e as implicações éticas que dela decorrem, inclusive a autoaceitação e a liberdade.
Não se trata, aqui, de crucificar os médicos - eles próprios vítimas de um sistema de crenças e de interesses - e, tampouco, amaldiçoar toda receita de fármacos, que a experiência e o bom senso dizem ser razoáveis em situações de emergência e nos casos em que desequilíbrios bioquímicos dificultam o acesso ao ponto onde emerge a maioria das doenças: a alma humana. O mal está no abuso, que mascara a realidade e instala o vício.
No jargão médico, 90% dos diagnósticos não passam de NDN (nada digno de nota) ou DNV (distúrbio neurovegetativo), mas a regra é que o paciente saia do consultório com a indicação de um remédio químico que, no fundo, tomou o lugar do ritual da benzedeira, acompanhado, porém, da ameaça das chamadas doenças iatrogênicas, causadas por medicamentos. Por que, então, descartar o uso da medicina cultural e seu poder terapêutico através da palavra e do reequilíbrio holístico?
Penso nisso a propósito do livro “A Tragicomédia da Medicalização: a Psiquiatria e a Morte do Sujeito”, do filósofo e doutor em psicologia José Ramos Coelho, que será lançado nesta quarta-feira (18 de abril), às 19h, na Saraiva do Midway Mall. Ramos retoma a trilha de pensadores respeitáveis e nos convence: a comédia da medicalização da vida traz embutida a tragédia da morte do ser e da liberdade.
A régua da felicidade
Publicado na edição de 10/04/12
Todo homem que ser feliz, certo? Mas o que é felicidade?
Até hoje, não conheci pessoa que não concordasse com a frase inicial deste artigo. Já a pergunta que a sucede... Nem que eu tivesse ao meu dispor todas as páginas do NJ não conseguiria contemplar as inúmeras abordagens filosóficas, religiosas, psicológicas e agora também mercadológicas do tema.
A gente não se entende sobre o que é felicidade, mas, apesar disso, muitos cedem à tentação de quantificá-la, na esperança de, assim, determinar e administrar o que, penso, é incontrolável e imensurável por sua natureza. Há diversas metodologias e técnicas desenvolvidas por pesquisadores nesse sentido, geralmente apoiadas na comparação de fatores físicos e psicológicos.
O mais famoso desses instrumentos é o chamado Questionário de Oxford, aplicado a indivíduos e composto de 30 perguntas que abrangem da intensidade do riso à visão do futuro. Há ainda propostas de medição da felicidade coletiva, inspiradas mais recentemente naquilo que, em 1972, o rei do Butão, Jigme Singya Wangchuck, chamou pela primeira vez de Felicidade Interna Bruta (FIB), uma fórmula alternativa à do PIB, a qual, embora mensure apenas a atividade econômica, é erroneamente adotada como principal indicador de desenvolvimento. Nesse caso, são levados em conta fatores como educação, ambiente, uso do tempo, bem-estar psicológico e vitalidade comunitária.
É tudo bonitinho e organizado, mas para mim, com todo o respeito aos estudiosos, não passa de exercícios inócuos que perpetuam, no nível individual, a ilusão de que a felicidade é condicionada por fatores externos. Obviamente, essa é uma opinião que decorre do conceito de felicidade que endosso, cujos fundamentos estão na filosofia grega e em tradições sapienciais do oriente e do ocidente, aí incluída a tradição cristã.
A felicidade, nessa perspectiva, é um estado de plenitude que nos instala na serenidade e, por vezes, no êxtase. Ou melhor, é uma percepção da plenitude que somos, cujos subprodutos são a satisfação e o equilíbrio psíquico e físico, com ausência de sofrimento e inquietude. Felicidade é quando nos sentimos completos. Mas quem há de sentir-se completo sem transcender o desejo, essa avalanche de carência que nos isola e nos impede de enxergar a totalidade imensurável?
Um velho ditado diz que a felicidade sempre está onde a pomos, mas nunca a pomos onde estamos. O resultado disso é sempre carência, insatisfação, busca desesperada e ímpeto de mensuração. Ao contrário, quando pomos a felicidade onde estamos, o senso de plenitude aflora e, enfim, compreendemos que ela está aqui e agora, nos fluxos e refluxos da vida, sem busca e sem medições.
Até hoje, não conheci pessoa que não concordasse com a frase inicial deste artigo. Já a pergunta que a sucede... Nem que eu tivesse ao meu dispor todas as páginas do NJ não conseguiria contemplar as inúmeras abordagens filosóficas, religiosas, psicológicas e agora também mercadológicas do tema.
A gente não se entende sobre o que é felicidade, mas, apesar disso, muitos cedem à tentação de quantificá-la, na esperança de, assim, determinar e administrar o que, penso, é incontrolável e imensurável por sua natureza. Há diversas metodologias e técnicas desenvolvidas por pesquisadores nesse sentido, geralmente apoiadas na comparação de fatores físicos e psicológicos.
O mais famoso desses instrumentos é o chamado Questionário de Oxford, aplicado a indivíduos e composto de 30 perguntas que abrangem da intensidade do riso à visão do futuro. Há ainda propostas de medição da felicidade coletiva, inspiradas mais recentemente naquilo que, em 1972, o rei do Butão, Jigme Singya Wangchuck, chamou pela primeira vez de Felicidade Interna Bruta (FIB), uma fórmula alternativa à do PIB, a qual, embora mensure apenas a atividade econômica, é erroneamente adotada como principal indicador de desenvolvimento. Nesse caso, são levados em conta fatores como educação, ambiente, uso do tempo, bem-estar psicológico e vitalidade comunitária.
É tudo bonitinho e organizado, mas para mim, com todo o respeito aos estudiosos, não passa de exercícios inócuos que perpetuam, no nível individual, a ilusão de que a felicidade é condicionada por fatores externos. Obviamente, essa é uma opinião que decorre do conceito de felicidade que endosso, cujos fundamentos estão na filosofia grega e em tradições sapienciais do oriente e do ocidente, aí incluída a tradição cristã.
A felicidade, nessa perspectiva, é um estado de plenitude que nos instala na serenidade e, por vezes, no êxtase. Ou melhor, é uma percepção da plenitude que somos, cujos subprodutos são a satisfação e o equilíbrio psíquico e físico, com ausência de sofrimento e inquietude. Felicidade é quando nos sentimos completos. Mas quem há de sentir-se completo sem transcender o desejo, essa avalanche de carência que nos isola e nos impede de enxergar a totalidade imensurável?
Um velho ditado diz que a felicidade sempre está onde a pomos, mas nunca a pomos onde estamos. O resultado disso é sempre carência, insatisfação, busca desesperada e ímpeto de mensuração. Ao contrário, quando pomos a felicidade onde estamos, o senso de plenitude aflora e, enfim, compreendemos que ela está aqui e agora, nos fluxos e refluxos da vida, sem busca e sem medições.
Um homem, um símbolo
Publicado na edição de 03/04/12
A páscoa é, originalmente, uma comemoração judaica. Relembra o êxodo dos hebreus, livres da escravidão no Egito. Significa passagem e libertação. No Cristianismo, que nasceu no seio do judaísmo (Lembre-se: Jesus nasceu, viveu e morreu judeu.), foi associada ao episódio da ressurreição e à promessa de uma nova vida, liberta de vícios e sofrimentos. É uma pena, a meu ver, que por esses dias se dê tanta ênfase aos aspectos dolorosos da crucificação e, consequentemente, ao sentimento de culpa que muita gente vincula ao exercício da fé cristã. Mas isso tem raízes históricas, na eleição da cruz como principal símbolo cristão.
No primeiro século, os seguidores de Jesus eram identificados pela figura de um peixe formado por duas meia luas, o chamado ictus. A cruz só surgiria na iconografia cristã no século seguinte, talvez pelo fato de os cristãos, submetidos a suplícios físicos em Roma, sentirem-se ainda mais identificados com o sofrimento final de seu mestre.
A cruz aparece em várias culturas, com diferentes conotações. Estava presente nos hieróglifos egípcios, simbolizando a vida. Celtas, persas e fenícios a conheciam. No império romano, no entanto, era instrumento de tortura e morte. Naquele tempo, associar alguém à cruz era algo indesejável e vergonhoso, mas o sacrifício de Jesus - condenado injustamente - atribuiu ao símbolo de horror uma acepção honrosa. A cruz então tornou-se ícone do milagre do amor.
O problema começa quando, ao focarmos a cruz, esquecemos o resto. Isto é, a vida de Jesus e as lições de seu pensamento e atitudes. Em Jesus encontramos a expressão da mais genuína humanidade, dos eventos triviais à transcendência de limites até o ápice em que o homem e o Cristo (cósmico) se fundem. Fixar o nosso olhar apenas no evento da cruz, simbólico da solidão e da dor que fazem parte da experiência de ser homem, é perder de vista o leque de possibilidades em que o amor realiza seus prodígios.
A imagem de Jesus crucificado inspira profunda reflexão, mas, penso, não ofusca a do homem que celebra a vida e encara as suas contradições.
Que tal um profeta que vai a festas e jantares e se preocupa com o estoque de vinho? E um homem que desmascara a hipocrisia dos líderes religiosos e, literalmente, chuta a barraca no templo? E um líder que, naturalmente, convive com os excluídos e lhes concede trabalho e responsabilidade? E um santo que compreende a pecadora? E um mestre que recomenda assistência a prisioneiros e discriminados?
Imitar esses gestos, muitas vezes, pode nos levar à cruz. Mas não repeti-los, nos limites de nossa condição, pode custar o sentido de uma vida.
No primeiro século, os seguidores de Jesus eram identificados pela figura de um peixe formado por duas meia luas, o chamado ictus. A cruz só surgiria na iconografia cristã no século seguinte, talvez pelo fato de os cristãos, submetidos a suplícios físicos em Roma, sentirem-se ainda mais identificados com o sofrimento final de seu mestre.
A cruz aparece em várias culturas, com diferentes conotações. Estava presente nos hieróglifos egípcios, simbolizando a vida. Celtas, persas e fenícios a conheciam. No império romano, no entanto, era instrumento de tortura e morte. Naquele tempo, associar alguém à cruz era algo indesejável e vergonhoso, mas o sacrifício de Jesus - condenado injustamente - atribuiu ao símbolo de horror uma acepção honrosa. A cruz então tornou-se ícone do milagre do amor.
O problema começa quando, ao focarmos a cruz, esquecemos o resto. Isto é, a vida de Jesus e as lições de seu pensamento e atitudes. Em Jesus encontramos a expressão da mais genuína humanidade, dos eventos triviais à transcendência de limites até o ápice em que o homem e o Cristo (cósmico) se fundem. Fixar o nosso olhar apenas no evento da cruz, simbólico da solidão e da dor que fazem parte da experiência de ser homem, é perder de vista o leque de possibilidades em que o amor realiza seus prodígios.
A imagem de Jesus crucificado inspira profunda reflexão, mas, penso, não ofusca a do homem que celebra a vida e encara as suas contradições.
Que tal um profeta que vai a festas e jantares e se preocupa com o estoque de vinho? E um homem que desmascara a hipocrisia dos líderes religiosos e, literalmente, chuta a barraca no templo? E um líder que, naturalmente, convive com os excluídos e lhes concede trabalho e responsabilidade? E um santo que compreende a pecadora? E um mestre que recomenda assistência a prisioneiros e discriminados?
Imitar esses gestos, muitas vezes, pode nos levar à cruz. Mas não repeti-los, nos limites de nossa condição, pode custar o sentido de uma vida.
O que é o que é?
Publicado na edição de 13/03/12
Os jornais trazem notícias sobre a nova movimentação em Brasília no sentido da descriminalização do aborto. Leio e fico perplexo. Agora não são apenas grupos de ativistas que propõem a legalização pura e simples da prática repulsiva, mas uma comissão de juristas, nomeada pelo Senado, que surpreende pela habilidade em manejar artifícios.
A legislação vigente é razoável e sensata ao permitir o aborto nos casos em que a mãe corre risco de vida ou a gravidez for resultado de estupro. Que mais justificaria a interrupção do fluxo da vida, exceto se levarmos em conta o egoísmo de mães e pais e a resistência da sociedade em assumir o ônus de seu próprio modelo? Mas a comissão, a pretexto de flexibilizar a abordagem legal do tema, acaba abrindo uma brecha para o aborto incondicional. Seu texto sugere a possibilidade de aborto nos casos de emprego não consentido de técnica de reprodução assistida e, por vontade da gestante e até a 12ª semana de gravidez, se um médico ou um psicólogo atestar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Isto é: duas situações em que a possibilidade de fraudes e a motivação ideológica podem produzir a aparência de licitude para um ato cruel e antiético. Além disso, alivia a punição dos aborteiros e cria a figura do aborto consensual provocado por terceiro, penalizado apenas com detenção de 6 meses a 2 anos, o que não levaria o infrator à cadeia.
A julgar pelo noticiário, a comissão enredou-se nos sofismas sustentados por grupos que se proclamam vanguardistas e de feministas apressadinhas, para os quais o direito da mulher de dispor do próprio corpo e a exigência de um padrão dignidade apoiado basicamente em conforto e consumo se impõem ao maior de todos os direitos - o direito à vida, alicerce de nosso edifício ético. Talvez a maioria de seus membros compartilhe a percepção dos ativistas de que, tendo sido adotada em países desenvolvidos, a descriminalização do aborto mereça ser tão somente transplantada para aqui, sem maiores considerações de natureza ética e cultural.
O que dizer diante do veredicto de tão doutos especialistas? Como um cidadão comum e nada erudito, como eu, pode argumentar contra essa armadilha eufemística? Se me faltarem as palavras que revelem a pantomima, ainda assim poderei recorrer à autoevidência da verdade, tão bem expressada no samba “O que é o que é?”, de Gonzaguinha: “Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita. E é bonita.”
A discussão sobre o aborto, repito, não é mero embate entre “conservadores” e “progressistas”. Ela é, antes de tudo, a prova de nossa dificuldade de pensar a vida além do nível de nossas pulsões egóicas.
A legislação vigente é razoável e sensata ao permitir o aborto nos casos em que a mãe corre risco de vida ou a gravidez for resultado de estupro. Que mais justificaria a interrupção do fluxo da vida, exceto se levarmos em conta o egoísmo de mães e pais e a resistência da sociedade em assumir o ônus de seu próprio modelo? Mas a comissão, a pretexto de flexibilizar a abordagem legal do tema, acaba abrindo uma brecha para o aborto incondicional. Seu texto sugere a possibilidade de aborto nos casos de emprego não consentido de técnica de reprodução assistida e, por vontade da gestante e até a 12ª semana de gravidez, se um médico ou um psicólogo atestar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Isto é: duas situações em que a possibilidade de fraudes e a motivação ideológica podem produzir a aparência de licitude para um ato cruel e antiético. Além disso, alivia a punição dos aborteiros e cria a figura do aborto consensual provocado por terceiro, penalizado apenas com detenção de 6 meses a 2 anos, o que não levaria o infrator à cadeia.
A julgar pelo noticiário, a comissão enredou-se nos sofismas sustentados por grupos que se proclamam vanguardistas e de feministas apressadinhas, para os quais o direito da mulher de dispor do próprio corpo e a exigência de um padrão dignidade apoiado basicamente em conforto e consumo se impõem ao maior de todos os direitos - o direito à vida, alicerce de nosso edifício ético. Talvez a maioria de seus membros compartilhe a percepção dos ativistas de que, tendo sido adotada em países desenvolvidos, a descriminalização do aborto mereça ser tão somente transplantada para aqui, sem maiores considerações de natureza ética e cultural.
O que dizer diante do veredicto de tão doutos especialistas? Como um cidadão comum e nada erudito, como eu, pode argumentar contra essa armadilha eufemística? Se me faltarem as palavras que revelem a pantomima, ainda assim poderei recorrer à autoevidência da verdade, tão bem expressada no samba “O que é o que é?”, de Gonzaguinha: “Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita. E é bonita.”
A discussão sobre o aborto, repito, não é mero embate entre “conservadores” e “progressistas”. Ela é, antes de tudo, a prova de nossa dificuldade de pensar a vida além do nível de nossas pulsões egóicas.
A vez do Brasil
Publicado na edição de 14/02/12
Quem já viveu pelo menos 50 anos conheceu três cenários de geopolítica e sabe que, num mundo marcado pela abundância de informação, o poder jamais voltará a ser concentrado sem que se pague um alto preço de caos, sangue e retrocesso.
Nasci pouco depois de o planeta ser divido pelos dois países que assumiram o espólio da grande guerra, ruminando desejos de hegemonia que continuariam a promover a tirania e o medo, sobretudo em nações subjugadas ao interesse econômico e ideológico. Era o tempo em que, sob o maniqueísmo da “guerra fria” entre os Estados Unidos e a falecida União Soviética, pensávamos o Brasil pela bitola estreita do nacionalismo ou do entreguismo, descrentes das possibilidades criativas de nossa essência mestiça.
Mais tarde, atuando em jornalões e revistas conservadores, vivi a delícia e a dor de um mundo de potência única (os Estados Unidos) ditando tendências e deslumbrando as elites, aí incluídos os gestores da mídia. Copiar, pura e simplesmente, as experiências de fora era a regra. Quem se atreveria a contestar os gurus da nova economia, os bambas da reengenharia, os arautos do mercado financeiro? Quase ninguém. Pelo menos até que os castelos começassem a ruir, as fraudes abalassem fundamentos e espertalhões fossem varridos por crises geradas na ganância e no egoísmo.
Não é que essas etapas nada tenham acrescentado à evolução da humanidade. Pelo contrário. Em nenhuma outra época tivemos tantos saltos de desenvolvimento econômico, tecnológico e mesmo social. Mas em outro quadro político certamente teríamos pagado um preço menor em insalubridade física e emocional.
Agora vemos emergir um mundo multipolar, sem potências hegemônicas, o que é promissor para as relações internacionais, a criatividade e as condições sociais. E nesse contexto cresce o papel e a responsabilidade do Brasil e dos brasileiros. Por nossa expressão econômica, nosso bom desempenho diplomático e pela imagem positiva de nossas peculiaridades étnicas somos, hoje, um dos polos dessa nova geopolítica com grandes possibilidades de gerar mudanças.
Nos países do Mercosul, nossa influência cultural e nossa presença econômica já são avassaladoras. Na Europa e nos Estados Unidos a marca Brasil é vista com respeito e nossa cultura há muito deixou de ser um item exótico. Então, cabe perguntar: que tipo de potência queremos ser? Queremos tão somente acumular tesouros ou compartilhar oportunidades com nossos parceiros? Queremos interagir com outras culturas, reconhecendo o valor da diversidade, ou simplesmente impor a nossa? Queremos ser amados, como somos agora, ou temidos e odiados?
É saudável nos sentirmos relevantes no mundo... desde que isso não nos tire a paz, a liberdade de ir e vir e a alegria de conviver.
Nasci pouco depois de o planeta ser divido pelos dois países que assumiram o espólio da grande guerra, ruminando desejos de hegemonia que continuariam a promover a tirania e o medo, sobretudo em nações subjugadas ao interesse econômico e ideológico. Era o tempo em que, sob o maniqueísmo da “guerra fria” entre os Estados Unidos e a falecida União Soviética, pensávamos o Brasil pela bitola estreita do nacionalismo ou do entreguismo, descrentes das possibilidades criativas de nossa essência mestiça.
Mais tarde, atuando em jornalões e revistas conservadores, vivi a delícia e a dor de um mundo de potência única (os Estados Unidos) ditando tendências e deslumbrando as elites, aí incluídos os gestores da mídia. Copiar, pura e simplesmente, as experiências de fora era a regra. Quem se atreveria a contestar os gurus da nova economia, os bambas da reengenharia, os arautos do mercado financeiro? Quase ninguém. Pelo menos até que os castelos começassem a ruir, as fraudes abalassem fundamentos e espertalhões fossem varridos por crises geradas na ganância e no egoísmo.
Não é que essas etapas nada tenham acrescentado à evolução da humanidade. Pelo contrário. Em nenhuma outra época tivemos tantos saltos de desenvolvimento econômico, tecnológico e mesmo social. Mas em outro quadro político certamente teríamos pagado um preço menor em insalubridade física e emocional.
Agora vemos emergir um mundo multipolar, sem potências hegemônicas, o que é promissor para as relações internacionais, a criatividade e as condições sociais. E nesse contexto cresce o papel e a responsabilidade do Brasil e dos brasileiros. Por nossa expressão econômica, nosso bom desempenho diplomático e pela imagem positiva de nossas peculiaridades étnicas somos, hoje, um dos polos dessa nova geopolítica com grandes possibilidades de gerar mudanças.
Nos países do Mercosul, nossa influência cultural e nossa presença econômica já são avassaladoras. Na Europa e nos Estados Unidos a marca Brasil é vista com respeito e nossa cultura há muito deixou de ser um item exótico. Então, cabe perguntar: que tipo de potência queremos ser? Queremos tão somente acumular tesouros ou compartilhar oportunidades com nossos parceiros? Queremos interagir com outras culturas, reconhecendo o valor da diversidade, ou simplesmente impor a nossa? Queremos ser amados, como somos agora, ou temidos e odiados?
É saudável nos sentirmos relevantes no mundo... desde que isso não nos tire a paz, a liberdade de ir e vir e a alegria de conviver.
Mensagem dos Andes
Publicado na edição de 07/02/12
Finalmente, Machupicchu. Foi bom chegar aqui após rodar quase 10 mil quilômetros entre paisagens brasileiras, paraguaias, bolivianas e peruanas. Este momento não teria o mesmo significado para mim se eu não estivesse sensibilizado pelo contato com a alma do continente.
Observo o tesouro arqueológico do ponto mais alto da cidadela e me pergunto se o mundo não seria hoje bem melhor se a ganância e o preconceito dos conquistadores europeus não tivessem sufocado uma cultura tão rica e - por que não dizer? - refinada. Os incas foram o ápice de civilizações andinas que se perdem no tempo e Machupicchu, ao que tudo indica, era uma espécie de laboratório onde uma elite pensante desenvolvia técnicas agrícolas e de engenharia, realizava estudos astronômicos e filosóficos e praticava uma espiritualidade que, hoje sabemos, integrava mais o homem à Terra e ao universo do que o materialismo de nossas crenças utilitaristas.
A construção monumental na montanha de 2500 metros impressiona, mas, para mim, ainda mais importante é o fato de nenhuma pedra utilizada na obra ter sido movida com trabalho escravo. Os incas praticavam uma meritocracia invejável em nossos dias. Sua elite era formada por homens de saber e sensibilidade que retribuíam à sociedade com trabalho, inclusive braçal - o jeito inca de pagar imposto. Havia entre eles a convicção de que a vida é um eterno renascer, como sugere o simbolismo das múmias, sempre em posição fetal e voltadas para o nascente.
Caminhando pelas vielas e escadarias de Machupicchu, a cidadela na forma de um condor (símbolo inca da relação com o divino) vem à minha mente as imagens fortes do que eu vira um dia antes em Cusco, a cidade na forma de um puma (símbolo do poder e da concretude terrena), esmagada pelos espanhóis. Penso nas ruínas de Saqsaywaman, a colossal construção na forma de um raio, em cujo campo se deu a batalha final de 1540, e na Qorikancha, o portentoso templo inca onde os conquistadores comemoraram a vitória pilhando ouro e prata (que para os nativos tinham apenas valor estético) e depois erguendo sobre os escombros uma igreja dedicada a Santo Domingo de Gusmão. Ainda há vida ali. Não se matam idéias.
Então, a chuva que cai insistentemente sobre a montanha me parece lágrimas que lavam o passado e fazem a catarse de nossos erros...
É possível resgatar, em parte, o que o impulso predatório menosprezou, vilipendiou e fez diluir-se no esquecimento que virou mistério. A sabedoria ancestral, remanescente na tradição de povos indígenas como os quechuas peruanos, tem muito a nos ensinar e pode, sim, nos ajudar a salvar a Terra.
Viver ou sobreviver?
Publicado na edição de 31/01/12
No café da manhã em Assunção, o som romântico da velha guarânia que fala do lago azul de Ipacaraí faz-me meditar sobre o país em que me encontro, na sequência de meu mochilão tropical.
Você já pensou em passear no Paraguai? Se conseguir livrar-se dos preconceitos, descobrirá que esse renegado país irmao é muito mais que a zorra de muambas de Ciudad del Este e o corredor de impunidade de Pedro Juan Caballero. Assunção, por exemplo, é um otimo lugar para descansar, curtir a história e até para fazer compras de um jeito mais confiável. E se você for um sortudo, como eu, poderá, de repente, ser premiado com o conforto de uma suíte de cinco ambientes, na cobertura de um hotel clássico - onde eu descobrira pela internet a pechincha de um AP a 100 reais -, graças ao overbooking provocado por uma invasão de gringos.
Na última vez em que estive aqui, o Paraguai ainda era governado pelo ditador Alfredo Stroessner e seus intelectuais se divertiam ao parafreasar o que dissera, já no século 19, o mexicano Porfírio Díaz em relação à proximidade com os Estados Unidos. "Pobre Paraguai. Tão longe de Deus, tão perto do Brasil", diziam para mim, na epoca repórter da revista “Veja” garimpando para uma reportagem sobre contrabando de armas.
Desde então, Assunção, uma capital com jeito interiorano, ergueu bairros de classe média repletos de shopping centers, virou metrópole de 2,3 milhões de pessoas, mas não perdeu um certo ar brejeiro. Na sofisticação da Villa Morra, a área chique, ou no romantismo do centro histórico, junto ao rio Paraguai, a vida ainda corre tranquila, em meio a moringas e cuias de tereré, o chimarrão gelado, e as deliciosas chipas, pães feitos com quatro queijos.
Há também mais edificíos e mais carros, mas a favela ao lado do palácio presidencial inspirado no de Versailles, que pertenceu a Solano López (aquele das aulas de história), é um ícone do enorme desafio social de um país que há dois séculos chegou a ser modelo mundial nessa área.
O que falta ao Paraguai? "Clientelismo e corrupção impediram a industrialização e nos tiraram a credibilidade", disse-me o cocheiro que, no meio da noite, conduziu-me pelos sítios históricos em sua carruagem turística por apenas 8 reais. Sua fala e sua vida são simbólicos. Advogado e filho de jornalista, ele faz bicos na noite para complementar a renda. Seu discurso politizado é sensato e ético, mas no final ele me mostra o que pode acontecer com indivíduos e países quando o argumento da sobrevivência faz perder o foco na vida, onde cabem princípios que lhe dão sentido e a tornam mais justa.
"E então? Estás buscando uma menina?", insinua o homem, com o ar de quem pode facilitar as coisas. Sorrio, sem me surpreender. Na baía de Assunção, apenas escuto o que costumo ouvir em Natal, nas minhas caminhadas noturnas na enseada de Ponta Negra...
Lição de vida na casa da morte
Publicado na edição de 24/01/12
Não costumo visitar cemitérios. Nem mesmo no Dia de Finados. Minha relação com os mortos, apoiada na crença na manifestação contínua da vida sob a variedade das formas, sugere-me que o túmulo não é o lugar ideal para nos religarmos aos que partiram. Ainda assim, reconheço o poder do símbolo e em situações especiais acabo visitando tumbas, geralmente em viagem. Aí prefiro estar sozinho para meditar sobre a finitude de nossas vaidades.
Foi assim quando desci às grutas do Vaticano em 1982 - época em que ainda se podia percorrê-las até o nível mais baixo - às 8h da manhã, antes da chegada dos turistas e em silenciosa soledade. E também quando fui ao famoso cemitério do Père Lachaise, em Paris, onde estão sepultadas figuras como Balzac, Oscar Wilde, Proust, Chopin, Allan Kardec e Édith Piaf.
Estive ainda em cemitérios menos cotados e deles sempre retornei com um saldo de reflexões e epifanias que influenciam a minha vida. Mas nada se compara à experiência por que passei na última quinta-feira no cemitério São João Batista, em Uberaba, MG.
Diante do túmulo de Chico Xavier, sob chuva e num cenário desértico, eu lembrava da única vez em que estivera com o médium, em 1973, e de como um simples abraço seu, seguido de um "Deus o abençoe", fizera-me entender a força milagrosa do amor, quando, de súbito, surgiu à minha frente um jovem de aparência estranha, um jeitão de bicho louco chapado que, olhando em minha direção, começou a sacar algo de uma velha mochila. Imaginei tratar-se uma arma e, por impulso, interrompi a minha oração, protegendo-me junto à parede do túmulo vizinho. A consciência, no entanto, advertiu-me: "Faz com ele o que o Chico fez contigo".
Retornei a tempo de ver o rapaz guardando na mochila um simples maço de cigarros e de perceber naquele olhar excêntrico um traço de resignada tristeza. Iniciei uma breve conversação. "Sou espírita", disse-me o moço. "Estou aqui para rogar ao Chico que me ajude a receber uma mensagem de minha mãe. Ela morreu e eu me sinto só". Abençoei-o com carinho de pai e despedi-me.
Então, enquanto caminhava de volta pela alameda molhada, a ficha caiu e vi-me nu em minha prisão de egoísmo e medo. Como pude negar a um ser humano angustiado a cortesia gratuita de um olhar e de uma palavra gentil, apenas motivado por preconceito e avareza?
A clareza do insight foi seguida de forte emoção. Como uma criança, chorei descontrolado, em princípio sob o peso da culpa, depois pela alegria da dádiva. Pela segunda vez em minha vida, Chico Xavier iluminara-me o espírito, não através de um fenômeno retumbante mas por meio da força suave e demolidora de um pequeno gesto de compaixão.
Brasil, mostra as tuas caras
Publicado na edição de 17/01/12
É um erro alguém dizer que conhece os Estados Unidos só porque passou as férias em Nova York. Metrópole cosmopolita, a Big Apple não representa, com suas cores e liberalidades, os milhões de americanos que habitam cidades e vilarejos pacatos onde a bandeira nacional tremula nos jardins das residências e normas conservadoras guiam uma rotina modorrenta, muitas vezes inspiradas por seitas fundamentalistas e pela obsessão de gerar fortunas.
O mesmo raciocínio serve para quem visita Paris e imagina ter entrado em contato com a alma francesa, embora tenha ficado a léguas das regiões vinícolas e da França mediterrânea, onde a vida segue outros ritmos e valores. Aplica-se ainda a qualquer gringo que, do "continente" brasileiro, sabe apenas de São Paulo, Rio ou alguma capital turística, como Natal.
"O Brazil não conhece o Brasil", já dizia, nos anos 70, a canção de Maurício Tapajós e Aldir Blanc na voz incomparável de Elis Regina. Sob a ditadura, essa era uma maneira de afirmar que os gestores da Guerra Fria e as empresas estrangeiras não conheciam a nossa realidade e, portanto, não deviam apontar-nos caminhos. Hoje, com o país na condição de sexta economia do planeta e a gringalhada aprendendo a respeitar nossas especificidades, imagino que o verso adequado seria mesmo "o Brasil não conhece o Brasil", tal a distância que ainda existe entre o Brasil urbano, das metrópoles e capitais litorâneas, e o interiorzão das vilas rurais e das cidades emergentes povoadas por caipiras ainda não transmutados completamente pela TV e os shoppings centers.
Penso nisso enquanto estou em Palmas, no Tocantins, na sequência de um mochilão que me levará ao Paraguai e, se as chuvas deixarem, até Cusco e Machupicchu, no Peru. Mais precisamente, penso nisso diante do memorial do movimento tenentista e da Coluna Prestes, cujos líderes redigiram há 75 anos, a 60 quilômetros daqui, o seu manifesto contra a República Velha e pela modernização do país. E penso nisso saboreando e me assustando com essa capital planejada que abriga, principalmente, forasteiros de pequenos municípios unidos pelo ritmo tranquilo - e até tedioso -, a cortesia desconfiada e uma boa dose de conservadorismo.
Surpreendo-me aqui com as redes armadas nos quiosques de postos de taxi onde motoristas aguardam o cliente tardio, com as ruas desertas já as 7 da noite e com a escassez de serviços.
Palmas está entre as cinco capitais mais seguras do país e nos jornais quase não há notícias de crimes. Mas que ninguém se engane: o Tocantins, diz a imprensa local, lidera o ranking da homofobia, com o assassinato de 27 gays desde 2002.
Isso também é a cara do Brasil.
Já é. Então, viva.
Publicado na edição de 27/12/11
A convenção do calendário faz desses dias uma abundância de esperanças. O homem é um animal de desejo e de esperança, esses corcéis que nos arrastam da bem-aventurança para o vir-a-ser, a permanente transformação na qual conhecemos o crescimento e também a incompletude.
A esperança serve ao progresso do mundo e à marcha da civilização, mas se o seu foco é a felicidade seria bom descartá-la de sua rotina. Não há possibilidade de contentamento se trocarmos o desfrute da dádiva que está aí, o presente, pela espera, essa companheira dos aflitos.
Como disse o poeta francês Nicolas de Chamfort, no século 18, a frase que Dante inscreveu na porta do inferno - “Abandonai toda esperança, vós que entrais!” - caberia melhor na do paraíso. São os bem-aventurados que dispensam a expectativa. O que têm lhes basta. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino já diziam que no Reino não haverá esperança.
Viver o presente, no entanto, não significa apoiar a vida no instante, uma forma de sofreguidão - outra filha da espera -, ou na imobilidade. Aspirações e planos cabem no movimento real do presente e podem ser desfrutados como dádivas do agora, às quais respondemos com alegria e gratidão, livres da tortura da ansiedade e do medo.
Isso vale para os eventos corriqueiros e para aquilo que colocamos no patamar da realização essencial. E aí me curvo ao ensinamento de um anônimo franciscano, repartido por Leonardo Boff no excelente livro “Terapeutas do Deserto”:
“Se você tiver o chamado do Espírito, atenda e procure ser santo com toda sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças.
Se, porém, por sua humana fraqueza, não conseguir ser santo, procure então ser perfeito com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças.
Se, contudo, você não conseguir ser perfeito por causa da vaidade da sua vida, procure então ser bom com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças.
Se ainda não conseguir ser bom por causa das insídias do maligno, então procure ser razoável com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças.
Se, por fim, você não conseguir nem ser santo, nem perfeito, nem bom, nem razoável por causa do peso dos seus pecados, então procure carregar isso diante de Deus e entregue a sua vida à divina misericórdia.
Se você fizer isso, irmão, sem amargura, com toda humildade e com jovialidade de espírito, por causa da ternura de Deus que ama os ingratos e maus, então você começará a sentir o que é ser razoável, aprenderá o que é ser bom, lentamente aspirará a ser perfeito e, por fim, suspirará por ser santo.”
Feliz Ano Novo!
A esperança serve ao progresso do mundo e à marcha da civilização, mas se o seu foco é a felicidade seria bom descartá-la de sua rotina. Não há possibilidade de contentamento se trocarmos o desfrute da dádiva que está aí, o presente, pela espera, essa companheira dos aflitos.
Como disse o poeta francês Nicolas de Chamfort, no século 18, a frase que Dante inscreveu na porta do inferno - “Abandonai toda esperança, vós que entrais!” - caberia melhor na do paraíso. São os bem-aventurados que dispensam a expectativa. O que têm lhes basta. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino já diziam que no Reino não haverá esperança.
Viver o presente, no entanto, não significa apoiar a vida no instante, uma forma de sofreguidão - outra filha da espera -, ou na imobilidade. Aspirações e planos cabem no movimento real do presente e podem ser desfrutados como dádivas do agora, às quais respondemos com alegria e gratidão, livres da tortura da ansiedade e do medo.
Isso vale para os eventos corriqueiros e para aquilo que colocamos no patamar da realização essencial. E aí me curvo ao ensinamento de um anônimo franciscano, repartido por Leonardo Boff no excelente livro “Terapeutas do Deserto”:
“Se você tiver o chamado do Espírito, atenda e procure ser santo com toda sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças.
Se, porém, por sua humana fraqueza, não conseguir ser santo, procure então ser perfeito com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças.
Se, contudo, você não conseguir ser perfeito por causa da vaidade da sua vida, procure então ser bom com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças.
Se ainda não conseguir ser bom por causa das insídias do maligno, então procure ser razoável com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças.
Se, por fim, você não conseguir nem ser santo, nem perfeito, nem bom, nem razoável por causa do peso dos seus pecados, então procure carregar isso diante de Deus e entregue a sua vida à divina misericórdia.
Se você fizer isso, irmão, sem amargura, com toda humildade e com jovialidade de espírito, por causa da ternura de Deus que ama os ingratos e maus, então você começará a sentir o que é ser razoável, aprenderá o que é ser bom, lentamente aspirará a ser perfeito e, por fim, suspirará por ser santo.”
Feliz Ano Novo!
Feliz Natal
Publicado na edição de 20/12/11
Eu queria lhe dizer Feliz Natal, mas, pensando melhor, o que lhe desejo agora é que você volte a ser criança. Pelo menos por uma noite - a Noite de Natal. Haverá outro jeito de alguém ser feliz no Natal, e na vida inteira, sem resgatar a criança que existe nas profundezas de cada um de nós? Hoje tenho certeza que não.
Só a criança pode entender plenamente a realidade do sonho e adornar de cores e ritmos a paisagem cinza e árida de nosso mundo tão lógico, tão concreto... e tão vazio. Só a criança é capaz de ouvir anjos, viver o mito e lidar sem medo com as poções de sentimento que reencantam o universo.
Se na sua felicidade não há lugar para um menino desarmado e ingênuo, eternamente a brincar com quimeras, desconfie. Talvez tudo não passe de euforia enganosa, disfarce calculado para ocultar a carência que nada “real” pode mitigar.
Neste Natal eu lhe desejo o sonho infantil diante do presépio tosco, a fantasia dos sapatinhos na janela, a imaginação em disparada enquanto as mãos agitam brinquedos feitos de pau e lata... Desejo-lhe a busca das pegadas da mula que transportou o menino Jesus, na manhã natalina, numa época em que Papai Noel ainda nem existia.
Eu lhe desejo o deslumbramento e a inquietação do garoto na Missa do Galo quando ainda havia missas do galo, ninguém se importando em transitar à meia noite pelas ruas engalanadas com enfeites artesanais. Desejo-lhe um conto de Natal piegas e verdadeiro, daqueles que fazem jorrar lágrimas sinceras e desinibidas. E, claro, desejo-lhe também a ceia farta, pois que ninguém é de ferro, mas que ela venha temperada com a algazarra na cozinha e aquele dedo transgressor provando escondido as guloseimas caseiras.
Ah! A criança que sufocamos na racionalidade fria, na estupidez da ganância, no receio de ser como somos no correnteza incerta da vida e, sobretudo, em nosso terrível medo de amar.
Eu sei que o Natal pode ser triste por evocar laços de família e, com eles, marcas de dor e trauma. E tristeza, numa sociedade que criou a máscara da alegria perene, tornou-se erroneamente um sinal de falência a ser evitado, mesmo ao custo de dependência química. Ainda assim estaremos no nível da racionalidade e dos padrões aprendidos que só a nossa criança pode transcender na liberdade do sonho.
O Natal em si é a evocação da criança e de seu simbolismo de renovação e pureza: um menino despojado, na manjedoura, totalmente disponível para os desígnios de Deus, o amor essencial. Um brincante sob estrelas a celebrar a vida, entre sorrisos e lágrimas.
Se eu e você, amigo, formos capazes de acordar o menino Jesus que fomos um dia, não terei dúvida: o nosso Natal será feliz num esplendoroso renascimento.
Todo poder é gasoso. Isso é tão evidente quanto a luz do sol, mas, enredado em sua sedução, dificilmente percebemos sua natureza volátil. Tal ilusão de ótica é inversamente proporcional à distância que nos separa do centro do poder e, claro, ao grau de consciência acima do materialismo e do utilitarismo que regem o cotidiano das multidões - das elites dominantes à plebe.
Na vida, tudo passa. O poder, contudo, parece ainda mais vulnerável. As páginas da história em que heróis nos inspiram bravura e sagacidade e inescrupulosos nos revelam a escuridão do despotismo e da corrupção são as mesmas que nos ensinam a lei de impermanência. Não há forma que não se dissolva, não há poder que, no fundo, não seja miragem.
Mas, se os registros da história nos parecem insípidos e impessoais, a simples consulta a uma velha agenda pode nos chamar à realidade. Neste final de semana, por exemplo, revi minha agenda telefônica dos anos 80, época em que atuei na “Veja” e nos jornais “Folha de S. Paulo” e “Jornal do Brasil”, e mais uma vez constatei a inclinação da vida para puxar tapetes e dissolver fantasias.
O caderninho elegante adquirido na Harrods, de Londres, sinaliza que aquelas anotações tinham enorme importância para mim e, por que não dizer, para muitos jornalistas e as pessoas comuns sem acesso a nomes e números tão poderosos. Nele pode-se ler, entre tantas raridades:
Aureliano Chaves: 035-9412398(R) / 061-2262850 (Palácio Jaburu); Tancredo Neves: 021-2570515; Ulysses Guimarães: 011-2119432 (R); Fernando Henrique Cardoso: 061-2264475(R); Paulo Maluf: 011-8830977(R); Heitor Ferreira: 011-8130031; Leitão de Abreu: 011-5531611(R); Lula: 011-4194451(R); José Serra: 011-2242174; Mário Andreazza: 021-2480020(R); Alfredo Karam: 061-2486311(R); Aluízio Alves: 021-5111062(R); Mário Covas: 011-8133818; Antônio Carlos Magalhães: 071-2473287(R); Waldir Pires: 061-2310503(R); Dilermando Monteiro: 061-5711139; Nelson Marchezan: 061-2245074(R); Humberto Lucena: 061-5774900(R); Miguel Arraes: 081-2417622; Marco Maciel: 061-2431083(R); Romeu Tuma: 011-5714795(R); Franco Montoro - 01-8520417(R); Antonio Ermírio de Morais: 011-2113478(R); Fernando Lyra: 061-224-6024(R)...
Qual o valor de minha velha agenda hoje? Ainda seria disputada por algum jornalista, lobista ou algum deslumbrado interessado em simular prestígio? Nem os números telefônicos sobreviveram à morte física ou política de seus detentores. Mudaram com o fim do monopólio estatal e a expansão da telefonia no país.
E daí? A que aproveita lembrar disso?
Recordar a impermanência de todas as coisas pode nos tornar pessoas mais centradas e tolerantes, mais abertas e mais amáveis.
Na vida, tudo passa. O poder, contudo, parece ainda mais vulnerável. As páginas da história em que heróis nos inspiram bravura e sagacidade e inescrupulosos nos revelam a escuridão do despotismo e da corrupção são as mesmas que nos ensinam a lei de impermanência. Não há forma que não se dissolva, não há poder que, no fundo, não seja miragem.
Mas, se os registros da história nos parecem insípidos e impessoais, a simples consulta a uma velha agenda pode nos chamar à realidade. Neste final de semana, por exemplo, revi minha agenda telefônica dos anos 80, época em que atuei na “Veja” e nos jornais “Folha de S. Paulo” e “Jornal do Brasil”, e mais uma vez constatei a inclinação da vida para puxar tapetes e dissolver fantasias.
O caderninho elegante adquirido na Harrods, de Londres, sinaliza que aquelas anotações tinham enorme importância para mim e, por que não dizer, para muitos jornalistas e as pessoas comuns sem acesso a nomes e números tão poderosos. Nele pode-se ler, entre tantas raridades:
Aureliano Chaves: 035-9412398(R) / 061-2262850 (Palácio Jaburu); Tancredo Neves: 021-2570515; Ulysses Guimarães: 011-2119432 (R); Fernando Henrique Cardoso: 061-2264475(R); Paulo Maluf: 011-8830977(R); Heitor Ferreira: 011-8130031; Leitão de Abreu: 011-5531611(R); Lula: 011-4194451(R); José Serra: 011-2242174; Mário Andreazza: 021-2480020(R); Alfredo Karam: 061-2486311(R); Aluízio Alves: 021-5111062(R); Mário Covas: 011-8133818; Antônio Carlos Magalhães: 071-2473287(R); Waldir Pires: 061-2310503(R); Dilermando Monteiro: 061-5711139; Nelson Marchezan: 061-2245074(R); Humberto Lucena: 061-5774900(R); Miguel Arraes: 081-2417622; Marco Maciel: 061-2431083(R); Romeu Tuma: 011-5714795(R); Franco Montoro - 01-8520417(R); Antonio Ermírio de Morais: 011-2113478(R); Fernando Lyra: 061-224-6024(R)...
Qual o valor de minha velha agenda hoje? Ainda seria disputada por algum jornalista, lobista ou algum deslumbrado interessado em simular prestígio? Nem os números telefônicos sobreviveram à morte física ou política de seus detentores. Mudaram com o fim do monopólio estatal e a expansão da telefonia no país.
E daí? A que aproveita lembrar disso?
Recordar a impermanência de todas as coisas pode nos tornar pessoas mais centradas e tolerantes, mais abertas e mais amáveis.
Isto é novo. Isto é plural
Publicado na edição de 29/11/11
Um jornal que publica o que escrevo tem de ser plural. Meus textos tratam de temas contemporâneos, porém de um jeito, digamos, heterodoxo, quase sempre na contra-mão do senso comum. E senso comum, diz o dicionário, é o conjunto de opiniões e modos de sentir que, impostos pela tradição, acabam assumindo ares de verdades e comportamentos naturais. É a voz da maioria, a voz do movimento instintivo, ainda que, muitas vezes, manipulado por quem lida com as emoções humanas com intenções utilitárias.
O que escrevo não agrada a maioria, não dá pico de audiência. Mas um jornal democrático e plural sempre há de reconhecer a diversidade da vida e a legitimidade das minorias, essas vozes dissonantes que, ao longo da história, sempre constituíram o fermento da mudança e a vacina antiestagnação.
O NOVO JORNAL é plural - e não apenas pelo mosaico desta página 6 por onde transitam pontos de vista e interesses tão variados. Ao priorizar a reportagem e a narrativa inteligente, esquecidas nesses dias de mídia impressa em crise emulando, desesperadamente, a incompletude e a fragmentação dos blogs e tweets, o NJ pôde colher em dois anos de atividade um resultado promissor: devolveu ao noticiário cotidiano a excelência da profundidade, associada à pluralidade de abordagens e à criatividade da forma. É uma receita simples e eficaz, coerente com o perfil multifacetado de um país agora complexo e democrático, potência emergente cuja força decorre, sobretudo, de sua enorme diversidade.
Quando comecei no jornalismo, nos anos 60, acreditava-se que notícias e um certo tipo de reportagem, então rotulada de “reportagem informativa”, eram textos objetivos, sem nenhum envolvimento da emoção e das crenças do repórter. O tempo e a ciência se encarregaram de mostrar que isso era uma ilusão: a de que o autor e sua obra, o sujeito e o objeto, existem separadamente. Todo relato expressa um ponto de vista, a carga de significado e sentido atribuídos aos fatos por aquele que os relata. Mas isso não se confunde com o desvio ético da manipulação de dados e a omissão deliberada de outros para enganar o leitor sob motivação inconfessável. O nome disso é desonestidade.
A pluralidade de abordagens e a licença para a criatividade, de outro lado, não excluem o direito de o jornal ter seu próprio posicionamento político e propor rumos à sociedade. Um veículo que não esconde sua opinião, como é o caso do NJ, torna-se transparente e ganha o respeito do leitor. Em contrapartida, terá razões ainda mais fortes para reconhecer e respeitar a diversidade dos indivíduos e das expressões sociais.
Então... Parabéns, equipe talentosa do NJ. Vida longa no bom caminho.
O que escrevo não agrada a maioria, não dá pico de audiência. Mas um jornal democrático e plural sempre há de reconhecer a diversidade da vida e a legitimidade das minorias, essas vozes dissonantes que, ao longo da história, sempre constituíram o fermento da mudança e a vacina antiestagnação.
O NOVO JORNAL é plural - e não apenas pelo mosaico desta página 6 por onde transitam pontos de vista e interesses tão variados. Ao priorizar a reportagem e a narrativa inteligente, esquecidas nesses dias de mídia impressa em crise emulando, desesperadamente, a incompletude e a fragmentação dos blogs e tweets, o NJ pôde colher em dois anos de atividade um resultado promissor: devolveu ao noticiário cotidiano a excelência da profundidade, associada à pluralidade de abordagens e à criatividade da forma. É uma receita simples e eficaz, coerente com o perfil multifacetado de um país agora complexo e democrático, potência emergente cuja força decorre, sobretudo, de sua enorme diversidade.
Quando comecei no jornalismo, nos anos 60, acreditava-se que notícias e um certo tipo de reportagem, então rotulada de “reportagem informativa”, eram textos objetivos, sem nenhum envolvimento da emoção e das crenças do repórter. O tempo e a ciência se encarregaram de mostrar que isso era uma ilusão: a de que o autor e sua obra, o sujeito e o objeto, existem separadamente. Todo relato expressa um ponto de vista, a carga de significado e sentido atribuídos aos fatos por aquele que os relata. Mas isso não se confunde com o desvio ético da manipulação de dados e a omissão deliberada de outros para enganar o leitor sob motivação inconfessável. O nome disso é desonestidade.
A pluralidade de abordagens e a licença para a criatividade, de outro lado, não excluem o direito de o jornal ter seu próprio posicionamento político e propor rumos à sociedade. Um veículo que não esconde sua opinião, como é o caso do NJ, torna-se transparente e ganha o respeito do leitor. Em contrapartida, terá razões ainda mais fortes para reconhecer e respeitar a diversidade dos indivíduos e das expressões sociais.
Então... Parabéns, equipe talentosa do NJ. Vida longa no bom caminho.
Personal styler
Publicado na edição de 08/11/11
O bate-papo seguia animado na Casa de Cultura Popular de Santa Cruz, onde amigos, escritores e poetas regionais acolheram-me para uma conversa sobre o meu livro “Viver”, quando alguém disparou a pergunta: “Mas por que você decidiu escrever um livro assim?”. O eixo do questionamento é o advérbio “assim”.
Certamente o interlocutor se surpreendera ao confrontar meu currículo de jornalista que durante décadas escreveu sobre a rotina do poder com o conteúdo heterodoxo de minhas crônicas atuais, sempre fluindo na contramão do materialismo, do pragmatismo e do nonsense de nosso tempo.
Ora, por que eu deveria fidelidade ao que escrevi anos atrás?
Disse aqui mesmo que, ao rever muitas matérias assinadas por mim em jornais e revistas, já não me reconheço nas velhas páginas pelo simples fato de que ninguém é hoje a mesma pessoa que foi ontem. No eterno movimento do universo, a experiência altera continuamente nossas crenças e valores e, dependendo da velocidade e profundidade desse processo, é possível que constatemos, ao cotejar duas fases de uma mesma vida, uma espécie de salto quântico de significado e sentido. Nas biografias de sábios e santos isso nos parece aceitável, mas temos dificuldade em lidar com esse fenômeno natural quando o percebemos em nossos contemporâneos e, sobretudo, em nós próprios.
Em meu lugar, em Santa Cruz, Gandhi teria respondido: meu compromisso é com a verdade. E da verdade vamos percebendo aspectos que se revelam em etapas, na experimentação diária e no exercício da observação. Fixarmo-nos em papéis sociais, ou nos conceitos gerados sob sua influência, é negar esse fluxo de criatividade e expansão da consciência. É estagnar a vida e instalar-se numa contradição que tem fundamento em nossas pulsões egóicas recheadas de medo - a contradição libertária.
As pessoas querem ser livres, mas também querem ser “normais”, o que pressupõe submissão a padrões e normas. Querem ser únicas, mas receiam ficar fora das “tendências”. Querem ser afirmativas, mas temem ficar sem a carícia do aplauso. Todos queremos liberdade, mas, na prática, optamos por segurança, uma zona de conforto em que possamos garantir ao ego inflado uma massagem permanente.
Isso explica, em parte, por que multidões trocam a possibilidade de fazer escolhas - assumindo a responsabilidade por suas conseqüências - pela busca de proteção nas receitas de tantos especialistas, mestres, gurus e instrutores particulares, profissionais cuja expertise, quase sempre, se resume à arte de dar palpite em linguagem empolada. Isso explica, talvez, por que, nesse tempo libertário, haja lugar para um tal personal styler, o palpiteiro que vai lhe dizer que camisa você deve vestir hoje.
Certamente o interlocutor se surpreendera ao confrontar meu currículo de jornalista que durante décadas escreveu sobre a rotina do poder com o conteúdo heterodoxo de minhas crônicas atuais, sempre fluindo na contramão do materialismo, do pragmatismo e do nonsense de nosso tempo.
Ora, por que eu deveria fidelidade ao que escrevi anos atrás?
Disse aqui mesmo que, ao rever muitas matérias assinadas por mim em jornais e revistas, já não me reconheço nas velhas páginas pelo simples fato de que ninguém é hoje a mesma pessoa que foi ontem. No eterno movimento do universo, a experiência altera continuamente nossas crenças e valores e, dependendo da velocidade e profundidade desse processo, é possível que constatemos, ao cotejar duas fases de uma mesma vida, uma espécie de salto quântico de significado e sentido. Nas biografias de sábios e santos isso nos parece aceitável, mas temos dificuldade em lidar com esse fenômeno natural quando o percebemos em nossos contemporâneos e, sobretudo, em nós próprios.
Em meu lugar, em Santa Cruz, Gandhi teria respondido: meu compromisso é com a verdade. E da verdade vamos percebendo aspectos que se revelam em etapas, na experimentação diária e no exercício da observação. Fixarmo-nos em papéis sociais, ou nos conceitos gerados sob sua influência, é negar esse fluxo de criatividade e expansão da consciência. É estagnar a vida e instalar-se numa contradição que tem fundamento em nossas pulsões egóicas recheadas de medo - a contradição libertária.
As pessoas querem ser livres, mas também querem ser “normais”, o que pressupõe submissão a padrões e normas. Querem ser únicas, mas receiam ficar fora das “tendências”. Querem ser afirmativas, mas temem ficar sem a carícia do aplauso. Todos queremos liberdade, mas, na prática, optamos por segurança, uma zona de conforto em que possamos garantir ao ego inflado uma massagem permanente.
Isso explica, em parte, por que multidões trocam a possibilidade de fazer escolhas - assumindo a responsabilidade por suas conseqüências - pela busca de proteção nas receitas de tantos especialistas, mestres, gurus e instrutores particulares, profissionais cuja expertise, quase sempre, se resume à arte de dar palpite em linguagem empolada. Isso explica, talvez, por que, nesse tempo libertário, haja lugar para um tal personal styler, o palpiteiro que vai lhe dizer que camisa você deve vestir hoje.
As marchas, eu e você
Publicado na edição de 18/10/11
Na semana passada vi, em São Paulo, a expressão real de dois movimentos que, nos últimos meses, tem ocupado mais e mais espaço no noticiário, reacendendo a esperança de quem clama por mudanças no Brasil e no mundo.
No feriado do dia 12, cerca de 2 mil pessoas, a maioria jovens de cara pintada, marcharam pelas ruas do centro para protestar contra a corrupção no país, pedir a extensão da lei da Ficha Limpa a todas as esferas de poder e exigir o fim do voto secreto no Congresso, uma garantia da independência do parlamentar que acabou desvirtuada no jogo entre corrompidos e corruptores. Três dias depois, pouco mais de 200 manifestantes, sob chuva, ecoaram no Anhagabaú o grito dos ativistas que ocuparam a Wall Street, o coração financeiro de Nova York, para dizer à banca internacional e aos especuladores profissionais que não é justo que o mundo pague o preço de crises geradas na irresponsabilidade e na ganância dos agentes do mercado.
As duas marchas estão interligadas no conteúdo e na forma. Os que acamparam em Wall Street também querem o fim das práticas corruptoras - nos bancos e empresas. Seu grito se junta ao dos "indignados" europeus, em sua maioria jovens alcançados pelo desemprego, que pedem nas praças uma nova ordem mundial menos vulnerável à ambição e ao despudor. E todas as marchas, que acontecem sincronizadas em várias cidades do planeta, exibem a característica de terem surgido nas redes sociais da internet, sem vínculos a partidos políticos ou a interesses corporativos. A inspiração mais próxima é o recente movimento na Irlanda e sua proposta de plebiscitos para barrar leis injustas aprovadas pelo Parlamento, o que evitou que o governo torrasse dinheiro público em bancos falidos. Em vez disso, levas de executivos financeiros envolvidos em golpes contábeis foram presos e apresentados à Justiça.
Quando vi em Sampa a pequena multidão pedindo compostura e transparência no poder, apostei na idéia, não pela expressão numérica da manifestação, mas por seu perfil radical e inovador e o seu compromisso com a não-violência. Isso pode fazer florescer uma era de mudanças profundas na política e na economia, a partir do ponto de mutação que toda idéia nova repetida e compartilhada acaba forjando.
Mas que ninguém se iluda: as marchas atuais, ainda que dissociadas das estruturas obsoletas e viciadas, logo serão mais uma revolução sabotada, se a mudança que se propõe para sociedade não começar pelo indivíduo. Se na vida pessoal, eu e você acreditamos mais no dinheiro que em princípios e se não hesitamos em "molhar" a mão do guarda para escapar da multa, então o mundo continuará injusto e corrompido.
Steve e as conexões
Publicado na edição de 11/10/11
Na morte, Steve Jobs foi agraciado com a reverência do mundo. Justa homenagem. Não há como não reconhecer a importância de um homem que ajudou a moldar as novas relações humanas sobre uma base tecnológica que nos deu - para o bem e para o mal - mobilidade, velocidade, interação global e conforto. Steve foi saudado como gênio, tal o impacto na vida de bilhões de pessoas de seus Iphone, Ipad, Ipod, Macintosh e toda a revolução que esses conceitos de design e funcionalidade provocaram na indústria da computação. Mas, como sempre acontece sob o impacto da emoção, nessas homenagens também nos perdemos em superlativos.
Máquinas que facilitam nossa rotina e distraem nossos sentidos são remates de processos iniciados, quase sempre, com intuições em mentes contemplativas e reflexivas, capazes de enxergar a simplicidade das coisas, atribuir novos significados aos eventos e conceber novas possibilidades criativas. Isso abrange cientistas, filósofos, artistas, místicos e até inventores.
Um Iphone carrega em sua tela os insights de Newton, ícone da física clássica, e os de Niels Bohr, Eisenberg, Schrödinger e o próprio Einstein, pais da moderna física quântica. Os vôos espaciais levam embutida a ficção de Júlio Verne. A internet inteira deve seu reinado ao telefone de Graham Bell e Antonio Meucci, ponto de partida tecnológico que permitiu o cenário atual das comunicações e da informação no planeta.
O universo funciona em rede e há algo, além de nossa capacidade de elaboração, que assegura as conexões entre eventos aparentemente distantes e isolados, sempre com um propósito evolutivo. Disso tinha consciência o próprio Steve Jobs, como se pode perceber em sua fala na Universidade Stanford, em 2005, agora resgatada em vídeos que circulam na internet. Seu senso de observação e sua relação com a filosofia levaram-no a identificar em sua vida a ligação entre três momentos de perdas (o abandono da faculdade por falta de recursos, a demissão da Apple e a descoberta do câncer) e o seu estrondoso sucesso profissional, com repercussão no mundo dos computadores e no das pessoas. Tais infortúnios o conduziram a novas trilhas e tentativas sem as quais nossos micros e celulares continuariam feios e menos ágeis.
As conexões do universo estão aí, mas só as distinguimos quando olhamos para trás, ensina Steve. É impossível vislumbrá-las olhando para frente. O futuro será sempre uma jogada de risco, uma aposta que se faz no próprio sonho e na força insondável que move o cosmo, a que chamamos Deus.
Máquinas que facilitam nossa rotina e distraem nossos sentidos são remates de processos iniciados, quase sempre, com intuições em mentes contemplativas e reflexivas, capazes de enxergar a simplicidade das coisas, atribuir novos significados aos eventos e conceber novas possibilidades criativas. Isso abrange cientistas, filósofos, artistas, místicos e até inventores.
Um Iphone carrega em sua tela os insights de Newton, ícone da física clássica, e os de Niels Bohr, Eisenberg, Schrödinger e o próprio Einstein, pais da moderna física quântica. Os vôos espaciais levam embutida a ficção de Júlio Verne. A internet inteira deve seu reinado ao telefone de Graham Bell e Antonio Meucci, ponto de partida tecnológico que permitiu o cenário atual das comunicações e da informação no planeta.
O universo funciona em rede e há algo, além de nossa capacidade de elaboração, que assegura as conexões entre eventos aparentemente distantes e isolados, sempre com um propósito evolutivo. Disso tinha consciência o próprio Steve Jobs, como se pode perceber em sua fala na Universidade Stanford, em 2005, agora resgatada em vídeos que circulam na internet. Seu senso de observação e sua relação com a filosofia levaram-no a identificar em sua vida a ligação entre três momentos de perdas (o abandono da faculdade por falta de recursos, a demissão da Apple e a descoberta do câncer) e o seu estrondoso sucesso profissional, com repercussão no mundo dos computadores e no das pessoas. Tais infortúnios o conduziram a novas trilhas e tentativas sem as quais nossos micros e celulares continuariam feios e menos ágeis.
As conexões do universo estão aí, mas só as distinguimos quando olhamos para trás, ensina Steve. É impossível vislumbrá-las olhando para frente. O futuro será sempre uma jogada de risco, uma aposta que se faz no próprio sonho e na força insondável que move o cosmo, a que chamamos Deus.
OK, Steve. Agora entendo porque você disse à revista Newsweek em 2001: “Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates.”
Poder, ação e compaixão
Publicado na edição de 27/09/11
Certa vez, ao falar sobre a sua experiência como presidente da República, o atual presidente do Senado, José Sarney, revelou um segredo dos bastidores da política: um presidente da República manda bem menos do que supõe a imaginação popular. Cerca de 70% de suas ordens, segundo Sarney, se perdem no labirinto da burocracia e das sabotagens. Jamais se transformam em mudanças concretas em benefício do cidadão. Em muitos episódios, inclusive em alguns escândalos de corrupção, o presidente é o último a saber, o que realça o papel de uma imprensa independente para a boa gestão do estado.
Lembrei disso ao receber, a propósito de meu texto da semana passada, um email do secretário de Justiça e Cidadania do RN, Thiago Cortez, no qual ele lamenta os episódios de incivilidade e desrespeito à lei que culminaram na interrupção do trabalho da Pastoral Penitenciária no Presídio Estadual de Parnamirim (PEP). O texto sugere que o secretário desconhecia os fatos que se sucederam durante meses. Ao lembrar Sarney em seu desabafo, não tenho motivos para duvidar de sua sinceridade. Gentil, Thiago se propõe a discutir a retomada do trabalho reeducativo junto aos presos, manifestando a crença de que “essas ações fortalecem e são necessárias em nossas unidades prisionais”.
Encaminhei a correspondência aos coordenadores da Pastoral e torço para que providências eficazes sejam adotadas, não apenas no PEP - onde o trabalho interrompido contribuiu para a relativa tranquilidade das relações no presídio, nos últimos anos - mas em todo o sistema de prisões da SEJUC, cujas rebeliões em série sinalizam equívocos administrativos e a falência do objetivo maior de ressocialização do delinquente.
Por causa da coluna passada, reproduzida em blogs e no Twitter, recebi outra mensagem exemplar, dessa vez do ativista dos direitos humanos Marcos Dionísio. Dela extraio uma reflexão antológica: “Ariano Suassuna, emocionado ao assistir a uma encenação do Auto da Compadecida por presidiários em São Paulo, lembrou que na sua infância, no sertão paraibano , era orientado por sua avó a visitar o cárcere da sua cidade. Pedagogicamente sua avó demonstrava-lhe que quem delinquia poderia ser preso, mas ensinava-lhe, igualmente, a necessidade de se levar o sentimento da compaixão aos encarcerados. Nos dias que correm, talvez resida aí a razão do beco sem saída no qual está encalacrado o sistema penitenciário brasileiro: poucas pessoas fazem o que Ariano fazia na sua infância.”
Concordo. Não haverá solução para o problema da violência e da criminalidade enquanto a sociedade não assumir a sua responsabilidade no problema e na solução.
Lembrei disso ao receber, a propósito de meu texto da semana passada, um email do secretário de Justiça e Cidadania do RN, Thiago Cortez, no qual ele lamenta os episódios de incivilidade e desrespeito à lei que culminaram na interrupção do trabalho da Pastoral Penitenciária no Presídio Estadual de Parnamirim (PEP). O texto sugere que o secretário desconhecia os fatos que se sucederam durante meses. Ao lembrar Sarney em seu desabafo, não tenho motivos para duvidar de sua sinceridade. Gentil, Thiago se propõe a discutir a retomada do trabalho reeducativo junto aos presos, manifestando a crença de que “essas ações fortalecem e são necessárias em nossas unidades prisionais”.
Encaminhei a correspondência aos coordenadores da Pastoral e torço para que providências eficazes sejam adotadas, não apenas no PEP - onde o trabalho interrompido contribuiu para a relativa tranquilidade das relações no presídio, nos últimos anos - mas em todo o sistema de prisões da SEJUC, cujas rebeliões em série sinalizam equívocos administrativos e a falência do objetivo maior de ressocialização do delinquente.
Por causa da coluna passada, reproduzida em blogs e no Twitter, recebi outra mensagem exemplar, dessa vez do ativista dos direitos humanos Marcos Dionísio. Dela extraio uma reflexão antológica: “Ariano Suassuna, emocionado ao assistir a uma encenação do Auto da Compadecida por presidiários em São Paulo, lembrou que na sua infância, no sertão paraibano , era orientado por sua avó a visitar o cárcere da sua cidade. Pedagogicamente sua avó demonstrava-lhe que quem delinquia poderia ser preso, mas ensinava-lhe, igualmente, a necessidade de se levar o sentimento da compaixão aos encarcerados. Nos dias que correm, talvez resida aí a razão do beco sem saída no qual está encalacrado o sistema penitenciário brasileiro: poucas pessoas fazem o que Ariano fazia na sua infância.”
Concordo. Não haverá solução para o problema da violência e da criminalidade enquanto a sociedade não assumir a sua responsabilidade no problema e na solução.
Paz no presídio e na cidade
Publicado na edição de 20/09/11
Após três anos de atividade, interrompi na semana passada a minha prática meditativa na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP). Não foi uma decisão espontânea, mas o desfecho de circunstâncias lamentáveis que acabaram por sufocar ali a atuação da Pastoral Penitenciária, na qual se integrava a minha colaboração como estudioso de temas da mente e praticante de espiritualidade. E esse é o detalhe mais deplorável: o impedimento da ação educativa da Pastoral, que há sete anos era sustentada por um grupo constituído em sua maioria por mulheres, sob o comando da médica Regina Medeiros e de Zilma Souza.
O estrangulamento desse trabalho foi lento e gradual, mediante a restrição de horários e de movimentação e a transformação em celas da área dedicada a práticas espirituais, instalada na gestão do secretário de Justiça Leonardo Arruda, sensibilizado com a proposta do então presidiário Luiz Gusson, que encontrara um novo sentido para sua vida na prática do Yoga. Sem alternativa, Regina e Zilma, responsáveis também pela assistência médica voluntária aos detentos, bateram em retirada, literalmente sob os aplausos dos atuais gestores. Em todo o sistema prisional de Natal, não há um só núcleo da Pastoral Penitenciária em ação por falta de condições de trabalho e boa vontade das autoridades, o que é uma ofensa à lei e ao bom senso.
A Lei de Execução Penal garante a assistência religiosa ao preso. Além disso, concede à cidadania o direito de fiscalizar o sistema prisional por meio de um Conselho da Comunidade que, implantado em Parnamirim, também se encontra cerceado pelos gestores penitenciários, segundo um de seus integrantes, Cleber Pinheiro Costa.
Não é preciso ser gênio para perceber que a assistência religiosa e a meditação são mais eficazes na reeducação do deliquente do que espancamentos e humilhações, estimulantes de ódios e vinganças. É agindo nas profundezas da mente e do coração, alterando crenças e valores, que se promove a libertação de homens que a sociedade ensinou a amar a posse e a fatuidade e, depois de isolá-los em guetos de miséria material ou moral, se surpreende ao vê-los reagir como feras.
Isso é fato, como prova o sistema APAC de penitenciárias, gerado na experiência pastoral e hoje com mais de 100 unidades no país, inclusive uma em Macau, no RN. Um abismo separa os resultados da APAC - com suas prisões sem grades, sem fugas, sem drogas e sem rebeliões - e os dos presídios oficiais, com suas condições desumanas e violentas. Na APAC, o índice de reincidência entre egressos é de apenas 10%; no sistema oficial, chega a 90%, embora o custo por detento seja cinco vezes maior que no sistema alternativo.
Prisões que resgatassem a dignidade do homem seriam um golpe mortal na indústria da violência, aquela que, além das comissões de praxe, manifesta-se também na face sombria das milícias e grupos de extermínio. Mas isso, sabemos, contraria muitos interesses - poderosos interesses, que se alimentam do caos e da ignorância.
O estrangulamento desse trabalho foi lento e gradual, mediante a restrição de horários e de movimentação e a transformação em celas da área dedicada a práticas espirituais, instalada na gestão do secretário de Justiça Leonardo Arruda, sensibilizado com a proposta do então presidiário Luiz Gusson, que encontrara um novo sentido para sua vida na prática do Yoga. Sem alternativa, Regina e Zilma, responsáveis também pela assistência médica voluntária aos detentos, bateram em retirada, literalmente sob os aplausos dos atuais gestores. Em todo o sistema prisional de Natal, não há um só núcleo da Pastoral Penitenciária em ação por falta de condições de trabalho e boa vontade das autoridades, o que é uma ofensa à lei e ao bom senso.
A Lei de Execução Penal garante a assistência religiosa ao preso. Além disso, concede à cidadania o direito de fiscalizar o sistema prisional por meio de um Conselho da Comunidade que, implantado em Parnamirim, também se encontra cerceado pelos gestores penitenciários, segundo um de seus integrantes, Cleber Pinheiro Costa.
Não é preciso ser gênio para perceber que a assistência religiosa e a meditação são mais eficazes na reeducação do deliquente do que espancamentos e humilhações, estimulantes de ódios e vinganças. É agindo nas profundezas da mente e do coração, alterando crenças e valores, que se promove a libertação de homens que a sociedade ensinou a amar a posse e a fatuidade e, depois de isolá-los em guetos de miséria material ou moral, se surpreende ao vê-los reagir como feras.
Isso é fato, como prova o sistema APAC de penitenciárias, gerado na experiência pastoral e hoje com mais de 100 unidades no país, inclusive uma em Macau, no RN. Um abismo separa os resultados da APAC - com suas prisões sem grades, sem fugas, sem drogas e sem rebeliões - e os dos presídios oficiais, com suas condições desumanas e violentas. Na APAC, o índice de reincidência entre egressos é de apenas 10%; no sistema oficial, chega a 90%, embora o custo por detento seja cinco vezes maior que no sistema alternativo.
Prisões que resgatassem a dignidade do homem seriam um golpe mortal na indústria da violência, aquela que, além das comissões de praxe, manifesta-se também na face sombria das milícias e grupos de extermínio. Mas isso, sabemos, contraria muitos interesses - poderosos interesses, que se alimentam do caos e da ignorância.
O sertão não é mais espera
Publicado na edição de 13/09/11
Na semana passada, voltei ao sertão. Tenho feito isso com frequência, a convite de amigos que me apóiam, mas, dessa vez, cercado pelo carinho de tantos que levaram o lançamento de meu livro “Viver” em Currais Novos e Assu a exceder a proposta de encontros singelos, transformando-se em eventos regionais, a emoção foi mais forte e as recordações também.
Minha origem é urbana, cresci na capital. O sertão, porém, logo se abancou na varanda de minha memória, marca indelével de aventuras adolescentes. A Natal desse tempo, pequena e provinciana, era retocada de traços sertanejos aqui exibidos por “coronéis” da caatinga e seus herdeiros e, sobretudo, pelas levas de desvalidos da seca implorando nas ruas migalhas de pão. Ainda assim, avançar para o interior era descobrir outro mundo, antigo e estranho, celeiro de tradições que evocavam a ingenuidade e a força de uma gente num cenário árido ou selvagem.
Jamais esqueci episódios simples e marcantes dessa minha pré-história de mochileiro. E quem poderia esquecê-los?
O “misto” - o emblemático caminhão “pau-de-arara” -, em sua marcha arrastada, a menos de 20 quilômetros por hora, vencendo a trilha esburacada que então ligava Assu, Pendências e Alto do Rodrigues. Eu lá em cima, na carroceria, menino perplexo, aboletado entre homens e mulheres que sobraçavam fardos sem se impacientarem com o rangido da madeira se contorcendo num interminável passar das horas no vale do Piranhas...
Os vaqueiros sob o sol tórrido da paisagem rochosa, invadindo as ruas de Currais Novos vestidos a caráter em silenciosa disputa por espaço com uma espécie de classe média mineira emergente... As queijeiras nas encruzilhadas, a carne-de-sol exposta, os chapéus de palha usados com orgulho, rendeiras às portas produzindo sua arte despretensiosa...
O sertão de minha memória ainda cabia com precisão na frase definitiva de Guimarães Rosa: “O sertão é uma espera enorme”. Carência e sofrimento no cenário inóspito, inocência e fortaleza alimentando-se de sabedoria telúrica. A felicidade da desesperança nos fazendo amar o que temos.
Não, não é esse o sertão que revisitei na semana passada e nem poderia sê-lo, a menos que se parasse o mundo e se recolhesse toda a tecnologia da informação e os apelos da loucura consumista. Urbanizado, já não sabe esperar e, ansioso, se perde na própria ânsia de consumo e fatuidade, desconectado de sua raiz. Ainda assim, sou grato aos amigos Fernando de Sá Leitão (Assu) e Aldenir e Anunciada Dantas e João Antonio (Currais Novos) que me levaram a rever algumas trilhas do passado e a resgatar uma parte de minha própria essência.
Minha origem é urbana, cresci na capital. O sertão, porém, logo se abancou na varanda de minha memória, marca indelével de aventuras adolescentes. A Natal desse tempo, pequena e provinciana, era retocada de traços sertanejos aqui exibidos por “coronéis” da caatinga e seus herdeiros e, sobretudo, pelas levas de desvalidos da seca implorando nas ruas migalhas de pão. Ainda assim, avançar para o interior era descobrir outro mundo, antigo e estranho, celeiro de tradições que evocavam a ingenuidade e a força de uma gente num cenário árido ou selvagem.
Jamais esqueci episódios simples e marcantes dessa minha pré-história de mochileiro. E quem poderia esquecê-los?
O “misto” - o emblemático caminhão “pau-de-arara” -, em sua marcha arrastada, a menos de 20 quilômetros por hora, vencendo a trilha esburacada que então ligava Assu, Pendências e Alto do Rodrigues. Eu lá em cima, na carroceria, menino perplexo, aboletado entre homens e mulheres que sobraçavam fardos sem se impacientarem com o rangido da madeira se contorcendo num interminável passar das horas no vale do Piranhas...
Os vaqueiros sob o sol tórrido da paisagem rochosa, invadindo as ruas de Currais Novos vestidos a caráter em silenciosa disputa por espaço com uma espécie de classe média mineira emergente... As queijeiras nas encruzilhadas, a carne-de-sol exposta, os chapéus de palha usados com orgulho, rendeiras às portas produzindo sua arte despretensiosa...
O sertão de minha memória ainda cabia com precisão na frase definitiva de Guimarães Rosa: “O sertão é uma espera enorme”. Carência e sofrimento no cenário inóspito, inocência e fortaleza alimentando-se de sabedoria telúrica. A felicidade da desesperança nos fazendo amar o que temos.
Não, não é esse o sertão que revisitei na semana passada e nem poderia sê-lo, a menos que se parasse o mundo e se recolhesse toda a tecnologia da informação e os apelos da loucura consumista. Urbanizado, já não sabe esperar e, ansioso, se perde na própria ânsia de consumo e fatuidade, desconectado de sua raiz. Ainda assim, sou grato aos amigos Fernando de Sá Leitão (Assu) e Aldenir e Anunciada Dantas e João Antonio (Currais Novos) que me levaram a rever algumas trilhas do passado e a resgatar uma parte de minha própria essência.
Aprendendo a escrever
Publicado na edição de 06/09/11
Nos meus contatos com as pessoas, é comum me pedirem fórmulas para escrever bem. Meu currículo de jornalista acaba inspirando no interlocutor a crença de que eu posso apontar-lhe o caminho das pedras, mas perguntas desse tipo me deixam um tanto constrangido. Que dizer, além de citar normas clássicas ou dicas de grandes escritores? Mas até isso, às vezes, me escapa, pois, não me apego a mandamentos e, cada vez mais, acredito na exclusividade do talento. No fundo, eu queria ter a fórmula de tornar a escrita um momento muito mais de inspiração do que transpiração, mas todo “pedreiro” intelectual sabe que essa utopia é irrealizável.
Jornalistas produzem “literatura apressada”, já dizia, no século de 19, o crítico inglês Matthew Arnold. Exceto os que se destacam por sua genialidade e acabam produzindo obras densas fora das páginas dos jornais e revistas, somos mais escrevinhadores que escritores. Em nosso ritmo sôfrego, costumamos abrir mão da inspiração, que produz a beleza, aprisionando-nos às técnicas, que servem à velocidade. Dificilmente poderemos bradar, com o poeta Pessoa, sem medo e sem culpa: “Não escrevo em português. Escrevo eu mesmo.”
As pessoas pedem regras. Prefiro remetê-las a reflexões sensatas, como as do filósofo Schoppenhauer, um cultor do estilo, sintetizadas pelo jornalista Paulo Nogueira em seu blog diariodocentrodomundo.com.br :
"1) Usar muitas palavras para comunicar poucos pensamentos é o sinal inconfundível da mediocridade. O homem inteligente resume, ao contrário, muitos pensamentos em poucas palavras. 2) Um bom cozinheiro pode dar gosto até a uma sola de sapato. Da mesma forma, um bom escritor pode tornar interessante o assunto mais árido. 3) Existem três classes de autores. Primeiro, aqueles que escrevem sem pensar. Escrevem a partir da memória, de reminiscências, ou diretamente a partir de livros alheios. Essa classe é a mais numerosa. Em segundo lugar, há os que pensam para escrever. Eles pensam justamente para escrever. São numerosos. Em terceiro lugar, há os que pensaram antes de se pôr a escrever. Escrevem exatamente porque pensaram. Estes são raros. 4) Não há nenhum erro maior do que imaginar que a última palavra usada é a melhor, que algo escrito mais recentemente constitui um aprimoramento do que foi escrito antes, que toda mudança é um progresso. 5) Não há nada mais fácil do que escrever de maneira que ninguém entenda. Em compensação, nada é tão difícil quanto expressar pensamentos significativos de modo que todos os compreendam. 6) Como alguém que de tanto cavalgar desaprende de andar, alguns eruditos de tanto ler livros se tornam burros."
Jornalistas produzem “literatura apressada”, já dizia, no século de 19, o crítico inglês Matthew Arnold. Exceto os que se destacam por sua genialidade e acabam produzindo obras densas fora das páginas dos jornais e revistas, somos mais escrevinhadores que escritores. Em nosso ritmo sôfrego, costumamos abrir mão da inspiração, que produz a beleza, aprisionando-nos às técnicas, que servem à velocidade. Dificilmente poderemos bradar, com o poeta Pessoa, sem medo e sem culpa: “Não escrevo em português. Escrevo eu mesmo.”
As pessoas pedem regras. Prefiro remetê-las a reflexões sensatas, como as do filósofo Schoppenhauer, um cultor do estilo, sintetizadas pelo jornalista Paulo Nogueira em seu blog diariodocentrodomundo.com.br :
"1) Usar muitas palavras para comunicar poucos pensamentos é o sinal inconfundível da mediocridade. O homem inteligente resume, ao contrário, muitos pensamentos em poucas palavras. 2) Um bom cozinheiro pode dar gosto até a uma sola de sapato. Da mesma forma, um bom escritor pode tornar interessante o assunto mais árido. 3) Existem três classes de autores. Primeiro, aqueles que escrevem sem pensar. Escrevem a partir da memória, de reminiscências, ou diretamente a partir de livros alheios. Essa classe é a mais numerosa. Em segundo lugar, há os que pensam para escrever. Eles pensam justamente para escrever. São numerosos. Em terceiro lugar, há os que pensaram antes de se pôr a escrever. Escrevem exatamente porque pensaram. Estes são raros. 4) Não há nenhum erro maior do que imaginar que a última palavra usada é a melhor, que algo escrito mais recentemente constitui um aprimoramento do que foi escrito antes, que toda mudança é um progresso. 5) Não há nada mais fácil do que escrever de maneira que ninguém entenda. Em compensação, nada é tão difícil quanto expressar pensamentos significativos de modo que todos os compreendam. 6) Como alguém que de tanto cavalgar desaprende de andar, alguns eruditos de tanto ler livros se tornam burros."
Uma receita antiestresse
Vi na televisão um especialista dizer que viver com estresse é bom. Não raro, especialistas são figuras que, a exemplo de um operário da linha de produção, sabem tudo sobre a parte que fabricam ou montam, e nada sobre o resto, o todo onde a peça se encaixa conforme um propósito muito além de sua especificidade.
Não quero, com isso, dizer que o especialista da TV está completamente errado. Talvez eu pudesse só esclarecer que a minha parte eu prefiro em tranquilidade. Isso, porém, seria perder-me no egoísmo, essa obsessão pelo interesse próprio que está na base de nosso mundo de gente exaurida, correndo o tempo todo. Talvez pudéssemos, eu e o especialista, concordar em que a ocorrência do estresse é inevitável, e até mesmo necessária, na hora e na dose certas, como estimulante da ação. Mas afirmar que viver com estresse é bom não me parece razoável, embora disso dependam egos inflados e inseguros.
Estresse é a reação do organismo a agressões físicas e psíquicas que lhe perturbam o equilíbrio. Uma resposta que se apresenta sob a forma de fadiga, ansiedade, palpitações, hiperacidez, dificuldade de respirar e até doenças graves, como as insuficiências cardíacas. Mas não se trata de uma novidade da civilização. Convivemos com o estresse desde o nosso estágio na caverna, tempo em que a nossa vida era ameaçada por predadores. Inédito é o estresse de base emocional e social, que diz respeito aos nossos egos, nossas crenças e condicionamentos.
Atribui-se a Freud a afirmação de que não há nada mais difícil de suportar do que a sucessão de três dias lindos. É uma carga por demais pesada para quem vive de esperança, em constante correria para o futuro. Imagino que, se vivo fosse, o próprio Freud encurtaria esse prazo. Para muita gente, apenas minutos de um dia lindo - sem “problemas” para resolver - são o suficiente para instalar o tédio ou florescer o pavor. Estressados exibem incompatibilidade com o presente, detestam curtir o que tem e, na expectativa de coisas “importantes”, estão sempre em busca de uma felicidade aninhada no depois. Renunciam ao aqui e agora, onde a vida se apresenta como dádiva, e se aprisionam à carência de quem tudo espera. Definitivamente, descartam a capacidade de fruir a vida como uma divina brincadeira.
O que fazer nesse caso? Parar, para mudar o olhar e alterar crenças e valores, é fundamental. Mas, para começar, duas regrinhas bastam: 1) Não se preocupe com ninharias. 2) Tudo é ninharia.
-------------------------------------------
PS: obrigado aos amigos e leitores que, sem estresse, fizeram do lançamento do meu livro “Viver”, na Livraria Siciliano, uma festa inesquecível.
Não quero, com isso, dizer que o especialista da TV está completamente errado. Talvez eu pudesse só esclarecer que a minha parte eu prefiro em tranquilidade. Isso, porém, seria perder-me no egoísmo, essa obsessão pelo interesse próprio que está na base de nosso mundo de gente exaurida, correndo o tempo todo. Talvez pudéssemos, eu e o especialista, concordar em que a ocorrência do estresse é inevitável, e até mesmo necessária, na hora e na dose certas, como estimulante da ação. Mas afirmar que viver com estresse é bom não me parece razoável, embora disso dependam egos inflados e inseguros.
Estresse é a reação do organismo a agressões físicas e psíquicas que lhe perturbam o equilíbrio. Uma resposta que se apresenta sob a forma de fadiga, ansiedade, palpitações, hiperacidez, dificuldade de respirar e até doenças graves, como as insuficiências cardíacas. Mas não se trata de uma novidade da civilização. Convivemos com o estresse desde o nosso estágio na caverna, tempo em que a nossa vida era ameaçada por predadores. Inédito é o estresse de base emocional e social, que diz respeito aos nossos egos, nossas crenças e condicionamentos.
Atribui-se a Freud a afirmação de que não há nada mais difícil de suportar do que a sucessão de três dias lindos. É uma carga por demais pesada para quem vive de esperança, em constante correria para o futuro. Imagino que, se vivo fosse, o próprio Freud encurtaria esse prazo. Para muita gente, apenas minutos de um dia lindo - sem “problemas” para resolver - são o suficiente para instalar o tédio ou florescer o pavor. Estressados exibem incompatibilidade com o presente, detestam curtir o que tem e, na expectativa de coisas “importantes”, estão sempre em busca de uma felicidade aninhada no depois. Renunciam ao aqui e agora, onde a vida se apresenta como dádiva, e se aprisionam à carência de quem tudo espera. Definitivamente, descartam a capacidade de fruir a vida como uma divina brincadeira.
O que fazer nesse caso? Parar, para mudar o olhar e alterar crenças e valores, é fundamental. Mas, para começar, duas regrinhas bastam: 1) Não se preocupe com ninharias. 2) Tudo é ninharia.
-------------------------------------------
PS: obrigado aos amigos e leitores que, sem estresse, fizeram do lançamento do meu livro “Viver”, na Livraria Siciliano, uma festa inesquecível.
Toda palavra é uma semente
Publicado na edição de 16/08/11
Março de 1967. Eu era um menino jornalista e um jornalista menino. Aos 14 anos de idade, há dois meses na reportagem, exultava ante o desafio das “pretinhas”, apelido carinhoso do teclado da Olivetti. Orgulhava-me de minha credencial de repórter, então uma simples declaração em folha A4 assinada pelo secretário de Redação de “A Ordem”, Tarcísio Monte. Lambia meu nome nas páginas impressas. E foi assim, nesse estado de êxtase, que levei a primeira bronca do chefe.
Na verdade, nem era o chefe, era o chefão, o todo-poderoso, nada menos que o bispo, pois o jornal era um semanário de propriedade da Igreja católica que fizera história no jornalismo potiguar e naquela época vivia o seu ocaso. E a bronca... Bem, a rigor, nem foi um carão, mas a lição terna de um homem espiritualizado, o bispo Nivaldo Monte, a uma criança que se iniciava na arte escorregadia de lidar com as palavras.
Tarcísio, que cometera a ousadia de transformar em repórter um garoto que lhe pedira apenas um emprego de mensageiro, conduziu-me à sala de D. Nivaldo, seu tio, e recomendou-me tranquilidade. O bispo olhou em meus olhos e sapecou a primeira de um longo interrogatório: “Foi você mesmo quem escreveu a matéria ou alguém fez isso pra você?”. Respondi, tímido: “Foi eu, sim senhor”. O estopim da crise era a entrevista com o psiquiatra Quinho Chaves e a psicóloga Vanilda Chaves sobre liberdade sexual, o top dos temas polêmicos naqueles dias ainda influenciados por beatniks e hippies. Era um texto cândido e superficial, mais inocente que qualquer programa da Xuxa, mas, à época, e por ser publicado num jornal da Igreja, suficiente para escandalizar setores de uma Natal pacata e provinciana.
Com jornalismo na veia, ouvi os argumentos do bispo e, em silêncio, discordei da censura. Mas o encontro com D. Nivaldo iria marcar a minha vida. Foi ele o primeiro a ensinar-me sobre a importância da palavra como agente de construção e destruição e sobre o cuidado necessário ao tecermos nossas falas. No final, presenteou-me com o livro “Toda palavra é uma semente”, de sua autoria, um texto singelo sobre a magia do verbo criador que até hoje, sempre que me permito recordá-lo, salva-me dos julgamentos apressados e da cegueira do orgulho no momento de escrever.
Não sou um intelectual, sou povo. Mas, como homem e jornalista, tive sempre na palavra minha ferramenta de trabalho e participação. Ao lançar, amanhã (17/08), o meu terceiro livro, “Viver - Outro olhar sobre o amor, a dor e o prazer”, escrito, em parte, neste canto de página do NOVO JORNAL, peço a Deus que as sementes de suas páginas possam gerar, senão frutos, pelo menos sombra para quem busca um sentido maior na jornada.
Na verdade, nem era o chefe, era o chefão, o todo-poderoso, nada menos que o bispo, pois o jornal era um semanário de propriedade da Igreja católica que fizera história no jornalismo potiguar e naquela época vivia o seu ocaso. E a bronca... Bem, a rigor, nem foi um carão, mas a lição terna de um homem espiritualizado, o bispo Nivaldo Monte, a uma criança que se iniciava na arte escorregadia de lidar com as palavras.
Tarcísio, que cometera a ousadia de transformar em repórter um garoto que lhe pedira apenas um emprego de mensageiro, conduziu-me à sala de D. Nivaldo, seu tio, e recomendou-me tranquilidade. O bispo olhou em meus olhos e sapecou a primeira de um longo interrogatório: “Foi você mesmo quem escreveu a matéria ou alguém fez isso pra você?”. Respondi, tímido: “Foi eu, sim senhor”. O estopim da crise era a entrevista com o psiquiatra Quinho Chaves e a psicóloga Vanilda Chaves sobre liberdade sexual, o top dos temas polêmicos naqueles dias ainda influenciados por beatniks e hippies. Era um texto cândido e superficial, mais inocente que qualquer programa da Xuxa, mas, à época, e por ser publicado num jornal da Igreja, suficiente para escandalizar setores de uma Natal pacata e provinciana.
Com jornalismo na veia, ouvi os argumentos do bispo e, em silêncio, discordei da censura. Mas o encontro com D. Nivaldo iria marcar a minha vida. Foi ele o primeiro a ensinar-me sobre a importância da palavra como agente de construção e destruição e sobre o cuidado necessário ao tecermos nossas falas. No final, presenteou-me com o livro “Toda palavra é uma semente”, de sua autoria, um texto singelo sobre a magia do verbo criador que até hoje, sempre que me permito recordá-lo, salva-me dos julgamentos apressados e da cegueira do orgulho no momento de escrever.
Não sou um intelectual, sou povo. Mas, como homem e jornalista, tive sempre na palavra minha ferramenta de trabalho e participação. Ao lançar, amanhã (17/08), o meu terceiro livro, “Viver - Outro olhar sobre o amor, a dor e o prazer”, escrito, em parte, neste canto de página do NOVO JORNAL, peço a Deus que as sementes de suas páginas possam gerar, senão frutos, pelo menos sombra para quem busca um sentido maior na jornada.
Amy vive em Wall Street
Publicado na edição de 26/07/11
Quando a polícia de Londres encontrou o corpo de Amy Winehouse, no sábado passado, a Noruega ainda contava as vítimas do duplo atentado que, na véspera, matara 76 pessoas em Oslo e Utoya. A morte anunciada da cantora, cujas overdoses de álcool e drogas já não lhe permitiam exercer plenamente o seu ofício, logo deslocou a tragédia norueguesa para o segundo plano do noticiário. O drama de um artista talentoso que se deixa destruir pelo vício no ápice da fama já não surpreende, tal a recorrência de eventos do gênero, mas continua a ser glamourizada pela mídia e pelas multidões em catarse.
Foi dito que Amy agora integra o seleto grupo de artistas geniais que morreram aos 27 anos, um certo Clube 27 do qual fazem parte Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones e Kurt Cobain. Ainda bem que se teve o cuidado de lembrar que participar desse clube não se trata de um privilégio, mas de uma “maldição” que não tem a ver com a idade e nem com a música, mas com o vício. Na internet, alguém teve a lucidez de afirmar que “Amy já estava morta e, provavelmente, precisava de um ‘teco’ para se sentir viva.”
Por que tantos artistas acabam se suicidando na dependência química? Uma psiquiatra disse na TV que todos eles são portadores de conflitos que, em vez de serem aplacados, acabam se intensificando na relação com o sucesso. Uma obviedade que não responde à pergunta sobre a natureza desses conflitos e esquece outros territórios da fama e do poder onde vítimas como Amy Winehouse poderiam se sentir em casa com o seu drama.
É o caso do mundo, igualmente glamourizado, dos homens que controlam o sistema financeiro americano na Wall Street, em Nova York. Em entrevista à revista “Alfa”, o psicoterapeuta Jonathan Alpert, o preferido de corretores, operadores e gerentes de fundos, revelou toda a carência e sofrimento do lado oculto dessa gente montada em dinheiro que trabalha até 18 horas por dia. Eles chegam numa “situação terrível”, diz Alpert. Ao preço de 2 mil dólares por sessão, o terapeuta os vê chorar enquanto relatam o uso contínuo de álcool e drogas pesadas, a incapacidade de dormir sem tranquilizantes, as escapadas com prostitutas de 1 000 dólares a hora - às vezes só para conversar e expor os sentimentos -, a frequencia quase diária a casas de massagens, os constrangimentos no emprego e o medo de a mulher pedir a separação e “levar tudo” na partilha.
O dinheiro e o sucesso podem levar ao vício e o vício, à destruição? Isso seria simplificar a questão. Afinal, na raiz dessa tragédia está uma visão de mundo egóica e materialista que, descartando a transcendência, nos sufoca na escassez de sentido e na abundância de tédio.
Foi dito que Amy agora integra o seleto grupo de artistas geniais que morreram aos 27 anos, um certo Clube 27 do qual fazem parte Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones e Kurt Cobain. Ainda bem que se teve o cuidado de lembrar que participar desse clube não se trata de um privilégio, mas de uma “maldição” que não tem a ver com a idade e nem com a música, mas com o vício. Na internet, alguém teve a lucidez de afirmar que “Amy já estava morta e, provavelmente, precisava de um ‘teco’ para se sentir viva.”
Por que tantos artistas acabam se suicidando na dependência química? Uma psiquiatra disse na TV que todos eles são portadores de conflitos que, em vez de serem aplacados, acabam se intensificando na relação com o sucesso. Uma obviedade que não responde à pergunta sobre a natureza desses conflitos e esquece outros territórios da fama e do poder onde vítimas como Amy Winehouse poderiam se sentir em casa com o seu drama.
É o caso do mundo, igualmente glamourizado, dos homens que controlam o sistema financeiro americano na Wall Street, em Nova York. Em entrevista à revista “Alfa”, o psicoterapeuta Jonathan Alpert, o preferido de corretores, operadores e gerentes de fundos, revelou toda a carência e sofrimento do lado oculto dessa gente montada em dinheiro que trabalha até 18 horas por dia. Eles chegam numa “situação terrível”, diz Alpert. Ao preço de 2 mil dólares por sessão, o terapeuta os vê chorar enquanto relatam o uso contínuo de álcool e drogas pesadas, a incapacidade de dormir sem tranquilizantes, as escapadas com prostitutas de 1 000 dólares a hora - às vezes só para conversar e expor os sentimentos -, a frequencia quase diária a casas de massagens, os constrangimentos no emprego e o medo de a mulher pedir a separação e “levar tudo” na partilha.
O dinheiro e o sucesso podem levar ao vício e o vício, à destruição? Isso seria simplificar a questão. Afinal, na raiz dessa tragédia está uma visão de mundo egóica e materialista que, descartando a transcendência, nos sufoca na escassez de sentido e na abundância de tédio.
Deus, o Palmeiras e os ateus
Publicado na edição de 19/07/11
A revista Alfa deste mês traz uma reportagem do jornalista Antonio Regalado sobre Miguel Nicolelis, o gênio brasileiro da neurobiologia cotado para o Prêmio Nobel. A matéria é puro jornalismo. Apresenta os dois lados do médico. Ou, para ser preciso, os seus vários lados, como é normal a qualquer homem, gênio ou não. A chamada de capa (“O gênio encrenqueiro”) realça uma dessas facetas: a de cientista bom de briga que dispara contra colegas enciumados, políticos e jornalistas, inclusive o repórter da Alfa, hoje “persona non grata” ao entrevistado. Mas é um Nicolelis à altura de suas qualidades que salta do texto da revista e impressiona o cérebro dos leitores.
O meu foi tocado por um detalhe dissociado da fama do cientista. Ele virou ateu durante a primeira comunhão. “Naquele dia, o Palmeiras perdeu um jogo. Portanto, deduziu o jovem Nicolelis, ´não é possível Deus existir`”. É uma brincadeira do pesquisador, conhecido por sua paixão pelo time paulistano, ao referir-se a uma de suas convicções que, suponho, deve ter fundamento racional. Mas poderia ser verdade.
Argumentos dessa natureza estão na base do ateísmo da maioria dos intelectuais que costumam expor seu desconforto com a ideia de Deus, assim como no desencanto dos não eruditos.
O meu foi tocado por um detalhe dissociado da fama do cientista. Ele virou ateu durante a primeira comunhão. “Naquele dia, o Palmeiras perdeu um jogo. Portanto, deduziu o jovem Nicolelis, ´não é possível Deus existir`”. É uma brincadeira do pesquisador, conhecido por sua paixão pelo time paulistano, ao referir-se a uma de suas convicções que, suponho, deve ter fundamento racional. Mas poderia ser verdade.
Argumentos dessa natureza estão na base do ateísmo da maioria dos intelectuais que costumam expor seu desconforto com a ideia de Deus, assim como no desencanto dos não eruditos.
São poucos os que se converteram ao ateísmo - sim, ser ateu é também uma questão de crença! - apoiados em proposições filosóficas e reflexões. Em geral, abjura-se a divindade em meio a frustrações ou perdas que maculam a imagem de um deus pessoal, protetor e provedor a quem se pode invocar nos embates da vida, em busca de superação e satisfação egoística. Mesmo quando a perda da fé vem de uma decepção com fundamento ético, como o questionamento da justiça divina nas tragédias naturais, é sempre a imagem de um deus enquadrado em nossas preferências e caprichos que se dissolve na mente inapta a lidar com a transcendência e a ressignificar a imanência do mistério em nossos contextos existenciais.
Deus, a palavra, é só uma seta que aponta para a incognoscível totalidade. Para algo além de nossos conceitos, inclusive os de bem e mal. O deus pessoal e protetor que nos enleva e decepciona é apenas o primeiro estágio de uma percepção que se completa quando, finalmente, entendemos que a noção de Deus se altera e se refina na medida que nos percebemos parte e não o centro ou o propósito maior do cosmo.
Nesse ponto, podemos então fazer coro com o filósofo André Comte-Sponville, um ateu respeitável: “Crença e descrença não tem prova, e é isso que as define: quando sabemos, não há mais por que crer ou não”. Ou, pelo menos, não há mais por que nos perdermos no dogmatismo das religiões ou do cientificismo.
Deus, a palavra, é só uma seta que aponta para a incognoscível totalidade. Para algo além de nossos conceitos, inclusive os de bem e mal. O deus pessoal e protetor que nos enleva e decepciona é apenas o primeiro estágio de uma percepção que se completa quando, finalmente, entendemos que a noção de Deus se altera e se refina na medida que nos percebemos parte e não o centro ou o propósito maior do cosmo.
Nesse ponto, podemos então fazer coro com o filósofo André Comte-Sponville, um ateu respeitável: “Crença e descrença não tem prova, e é isso que as define: quando sabemos, não há mais por que crer ou não”. Ou, pelo menos, não há mais por que nos perdermos no dogmatismo das religiões ou do cientificismo.
A pesquisa
Publicado na edição de 12/07/11
Até Jesus recorreu a pesquisa de opinião. Na cidade de Cesaréia de Felipe, reuniu seus discípulos e indagou: “quem dizem as multidões que eu sou?”. As respostas revelaram a crença popular de que ele era um dos antigos profetas retornado em novo corpo. Ninguém cravou a alternativa “é o Cristo”.
O resultado da sondagem certamente estimulou Jesus e o colégio apostólico a esclarecerem a massa em toda a Judéia e até na capital, Jerusalém. Mas faltou ao núcleo inicial do Cristianismo investigar as multidões sobre como viam a novidade, o que esperavam dela e se estavam dispostas a aceitar a missão cristã e suas consequências radicais sobre indivíduos e sociedades. Mais tarde, os fatos dramáticos de Jerusalém, que levaram Jesus da aclamação triunfal à crucificação em curtíssimo tempo, atestariam essa lacuna e também a fugacidade e vulnerabilidade da opinião pública, essa entidade forjada sobre emoções egoísticas, manipuláveis pelos inescrupulosos de todas as épocas, com ou sem a ajuda da ciência estatística e das táticas de marketing.
Jesus errou? Não. Nem ele e nem qualquer outro reformador daria conta de seu trabalho sem a coragem de nadar contra a corrente. Nenhuma utopia seguiria o seu curso rumo à realidade se mestres e heróis se permitissem acatar o interesse imediato das massas. Foi bom para o mundo que da sondagem de Cesaréia constasse apenas a uma pergunta.
As pesquisas de opinião até podem ser confiáveis, mas jamais serão sinalizações indiscutíveis pela natureza instável e imprevisível das multidões. E quando a isso se soma a incompetência técnica, a irresponsabilidade ou a desonestidade na apuração dos dados, estamos diante de uma farsa nociva a pessoas, empresas, o mercado, os governos, a democracia, a educação e a ética, cujos processos levam em conta a suposta opinião coletiva.
Lembrei disso ao assistir recentemente, numa praça do Recife, a atuação de um grupo de pesquisadores, a maioria mulheres, que mensuravam a popularidade do medicamento Amidalin, usado contra infecções da boca e da garganta. A praça estava repleta de gente, mas os entrevistadores preferiram se aboletar em um banco e ali preencher alguns formulários a esmo, para “fechar a cota do dia”, tendo o cuidado de completá-los com dados pessoais de familiares e amigos que eram contatados via celular e instruídos sobre como responder, caso fossem procurados pela equipe de checagem da pesquisa. “Não esqueça, você usa Amidalin. A-mi-da-lin, certo?”, dizia ao telefone uma lépida “pesquisadora”.
Ninguém teve a iniciativa de me entrevistar, embora eu estivesse ao lado. Era hora do almoço e todos queriam seguir para o restaurante...
O resultado da sondagem certamente estimulou Jesus e o colégio apostólico a esclarecerem a massa em toda a Judéia e até na capital, Jerusalém. Mas faltou ao núcleo inicial do Cristianismo investigar as multidões sobre como viam a novidade, o que esperavam dela e se estavam dispostas a aceitar a missão cristã e suas consequências radicais sobre indivíduos e sociedades. Mais tarde, os fatos dramáticos de Jerusalém, que levaram Jesus da aclamação triunfal à crucificação em curtíssimo tempo, atestariam essa lacuna e também a fugacidade e vulnerabilidade da opinião pública, essa entidade forjada sobre emoções egoísticas, manipuláveis pelos inescrupulosos de todas as épocas, com ou sem a ajuda da ciência estatística e das táticas de marketing.
Jesus errou? Não. Nem ele e nem qualquer outro reformador daria conta de seu trabalho sem a coragem de nadar contra a corrente. Nenhuma utopia seguiria o seu curso rumo à realidade se mestres e heróis se permitissem acatar o interesse imediato das massas. Foi bom para o mundo que da sondagem de Cesaréia constasse apenas a uma pergunta.
As pesquisas de opinião até podem ser confiáveis, mas jamais serão sinalizações indiscutíveis pela natureza instável e imprevisível das multidões. E quando a isso se soma a incompetência técnica, a irresponsabilidade ou a desonestidade na apuração dos dados, estamos diante de uma farsa nociva a pessoas, empresas, o mercado, os governos, a democracia, a educação e a ética, cujos processos levam em conta a suposta opinião coletiva.
Lembrei disso ao assistir recentemente, numa praça do Recife, a atuação de um grupo de pesquisadores, a maioria mulheres, que mensuravam a popularidade do medicamento Amidalin, usado contra infecções da boca e da garganta. A praça estava repleta de gente, mas os entrevistadores preferiram se aboletar em um banco e ali preencher alguns formulários a esmo, para “fechar a cota do dia”, tendo o cuidado de completá-los com dados pessoais de familiares e amigos que eram contatados via celular e instruídos sobre como responder, caso fossem procurados pela equipe de checagem da pesquisa. “Não esqueça, você usa Amidalin. A-mi-da-lin, certo?”, dizia ao telefone uma lépida “pesquisadora”.
Ninguém teve a iniciativa de me entrevistar, embora eu estivesse ao lado. Era hora do almoço e todos queriam seguir para o restaurante...
O shopping e a praça
Publicado na edição de 05/07/11
Não curto shopping centers. Se me encontrar nas alamedas de um desses templos da religião do consumo, tenha certeza de que estarei ali quase que por obrigação. Talvez eu esteja acompanhando um familiar ou um amigo ou, sem alternativa, tenha sido levado a realizar alguma compra indispensável nessas dependências para mim asfixiantes. Mas admito: o shopping é hoje uma aquarela que revela a alma dos que lá transitam e o traço psicológico de nosso tempo.
Obtive a prova final dessa ilação ao revisitar, na semana passada, o maior centro de compras do Recife. Durante duas horas, pela primeira vez me permiti percorrer suas galerias e esparramar-me em suas poltronas e bancos com a intenção de observar a paisagem e os indivíduos, comparando-os ao que nos oferece a velha praça, hoje um logradouro pouco usado pela população. Esse cotejo é razoável, já que os shoppings, embora sejam lugares dedicados ao consumo por impulso, cada vez mais funcionam como pontos de encontro e passarelas de corpos e expectativas.
Um shopping já não é só um point de jovens e dondocas. Velhinhos se acomodam e cochilam em suas cadeiras confortáveis. Garanhões aposentados, inflando a barriga em seus bares e restaurantes, evocam o charme perdido, olhos grudados em gatinhas e coroas turbinadas. Gays experientes ou recém-saídos do armário dão o ar da graça com uma algaravia capaz de provocar chiliques no deputado Bolsonaro. A baixa classe média se mistura aos mais abastados, todos unidos pelas grifes famosas, originais ou pirateadas, que parecem compensar carências e inseguranças enquanto transformam corpos em outdoors ambulantes e gratuitos.
Apesar do pelotão de guardas e das normas à altura de uma propriedade privada, o shopping avança sobre o espaço antes ocupado pela praça pública, deixando-se pintar com as muitas cores da democracia e do pluralismo. Pena que, como manda a regra não escrita de uma sociedade movida pelo medo e pela fatuidade, suas passarelas sirvam ao desfile de personagens que ocultam as pessoas, impedindo a transparência, único jeito de nos deliciarmos em relações autênticas, profundas e prazerosas. Ali somos mais solitários que na praça, em cujo palco a dança das máscaras parece esconder menos a realidade, sob a inspiração do céu, do sol, das estrelas e do ar puro que nos faltam nas alamedas assépticas de um shopping.
Não sou contra shopping center e seu jeito de abrigo nuclear luxuoso, onde gente assustada se imagina protegida de um mundo hostil que apenas reflete nosso egoísmo e avareza. Mas prefiro a praça onde, penso, a vida ainda pulsa com mais beleza e espontaneidade.
Obtive a prova final dessa ilação ao revisitar, na semana passada, o maior centro de compras do Recife. Durante duas horas, pela primeira vez me permiti percorrer suas galerias e esparramar-me em suas poltronas e bancos com a intenção de observar a paisagem e os indivíduos, comparando-os ao que nos oferece a velha praça, hoje um logradouro pouco usado pela população. Esse cotejo é razoável, já que os shoppings, embora sejam lugares dedicados ao consumo por impulso, cada vez mais funcionam como pontos de encontro e passarelas de corpos e expectativas.
Um shopping já não é só um point de jovens e dondocas. Velhinhos se acomodam e cochilam em suas cadeiras confortáveis. Garanhões aposentados, inflando a barriga em seus bares e restaurantes, evocam o charme perdido, olhos grudados em gatinhas e coroas turbinadas. Gays experientes ou recém-saídos do armário dão o ar da graça com uma algaravia capaz de provocar chiliques no deputado Bolsonaro. A baixa classe média se mistura aos mais abastados, todos unidos pelas grifes famosas, originais ou pirateadas, que parecem compensar carências e inseguranças enquanto transformam corpos em outdoors ambulantes e gratuitos.
Apesar do pelotão de guardas e das normas à altura de uma propriedade privada, o shopping avança sobre o espaço antes ocupado pela praça pública, deixando-se pintar com as muitas cores da democracia e do pluralismo. Pena que, como manda a regra não escrita de uma sociedade movida pelo medo e pela fatuidade, suas passarelas sirvam ao desfile de personagens que ocultam as pessoas, impedindo a transparência, único jeito de nos deliciarmos em relações autênticas, profundas e prazerosas. Ali somos mais solitários que na praça, em cujo palco a dança das máscaras parece esconder menos a realidade, sob a inspiração do céu, do sol, das estrelas e do ar puro que nos faltam nas alamedas assépticas de um shopping.
Não sou contra shopping center e seu jeito de abrigo nuclear luxuoso, onde gente assustada se imagina protegida de um mundo hostil que apenas reflete nosso egoísmo e avareza. Mas prefiro a praça onde, penso, a vida ainda pulsa com mais beleza e espontaneidade.
O essencial
Publicado na edição de 14/06/11
Num email cortês, o diretor de Redação Carlos Magno comunicou-me a sentença: o espaço “Plural” foi redimensionado e se espera de seus colaboradores que digam o que têm a dizer em 2 600 toques, aí incluídos os espaços entre as palavras. Foi um corte modesto, cerca de 10% sobre os 2 900 toques a que estávamos acostumados (algo como 40 linhas numa velha lauda de Olivetti). Mas para mim tem a aparência de desafio.
Explico. Há poucos dias, ouvi do amigo Fernando de Sá Leitão, de Assu, que chama a atenção em meus textos o fato de eu sintetizar temas complexos e polêmicos com tão poucas palavras, sem perder a clareza. Coisa de amigo, pensei, pois a qualidade citada não é virtude minha, mas do jornalismo, escola onde fui treinado e militei profissionalmente por quase 40 anos. Mas nunca se deve afagar o ego já inflado de um jornalista, mesmo aposentado. Agora terei de dar pulinhos para que Fernando não mude sua opinião.
A nova regra do NJ também me obriga a resolver, ainda que só aparentemente, um paradoxo do universo que ronda minha relação com o teclado. Se, como diria o filósofo Karl Popper, o real, por ser transcendente e infinito, jamais pode ser apreendido, mas dele apenas podemos nos aproximar por meio da realidade dos sentidos e da realidade das idéias, de quantas palavras (quantos toques!) preciso para expressar, como idéia, o essencial que não cabe em palavras?
Deus, vida, amor, espírito, matéria, o universo, o início, o fim... Como abordar esses aspectos essenciais senão mediante a tosca aproximação dos conceitos mutáveis com a experiência? Na verdade, que teoria explica qualquer coisa em definitivo? O real, como sugere a marcha da ciência, parece ser mais fantástico do que a mais delirante de nossas fantasias. Fazer ciência exige do cientista a humildade e o despojamento do físico Niels Bohr ao encarar, certa vez, uma idéia nada ortodoxa. Na ocasião, ele afirmou que a questão não era saber se a idéia era maluca, mas se era suficientemente maluca para ser verdade.
Quantas palavras?... O ponto não é a quantidade, mas a natureza finita da palavra. O ponto, em se tratando de comunicação, é a inquietude de nossa mente, que nos impede de ver o essencial e nos atira à verborragia febril.
Hoje, quando sentei diante do computador, tudo o que eu queria dizer era: “O essencial é invisível aos olhos. Só se ver bem com o coração.” Minha coluna em 62 toques brilhantes do escritor Antoine de Saint-Exupéry. O essencial pede menos que os 140 toques do Twitter! Mas que fazer? Eu tinha 2 600 e, de novo, me enredei, brincando com as palavras.
E quem não gosta de brincar?
Explico. Há poucos dias, ouvi do amigo Fernando de Sá Leitão, de Assu, que chama a atenção em meus textos o fato de eu sintetizar temas complexos e polêmicos com tão poucas palavras, sem perder a clareza. Coisa de amigo, pensei, pois a qualidade citada não é virtude minha, mas do jornalismo, escola onde fui treinado e militei profissionalmente por quase 40 anos. Mas nunca se deve afagar o ego já inflado de um jornalista, mesmo aposentado. Agora terei de dar pulinhos para que Fernando não mude sua opinião.
A nova regra do NJ também me obriga a resolver, ainda que só aparentemente, um paradoxo do universo que ronda minha relação com o teclado. Se, como diria o filósofo Karl Popper, o real, por ser transcendente e infinito, jamais pode ser apreendido, mas dele apenas podemos nos aproximar por meio da realidade dos sentidos e da realidade das idéias, de quantas palavras (quantos toques!) preciso para expressar, como idéia, o essencial que não cabe em palavras?
Deus, vida, amor, espírito, matéria, o universo, o início, o fim... Como abordar esses aspectos essenciais senão mediante a tosca aproximação dos conceitos mutáveis com a experiência? Na verdade, que teoria explica qualquer coisa em definitivo? O real, como sugere a marcha da ciência, parece ser mais fantástico do que a mais delirante de nossas fantasias. Fazer ciência exige do cientista a humildade e o despojamento do físico Niels Bohr ao encarar, certa vez, uma idéia nada ortodoxa. Na ocasião, ele afirmou que a questão não era saber se a idéia era maluca, mas se era suficientemente maluca para ser verdade.
Quantas palavras?... O ponto não é a quantidade, mas a natureza finita da palavra. O ponto, em se tratando de comunicação, é a inquietude de nossa mente, que nos impede de ver o essencial e nos atira à verborragia febril.
Hoje, quando sentei diante do computador, tudo o que eu queria dizer era: “O essencial é invisível aos olhos. Só se ver bem com o coração.” Minha coluna em 62 toques brilhantes do escritor Antoine de Saint-Exupéry. O essencial pede menos que os 140 toques do Twitter! Mas que fazer? Eu tinha 2 600 e, de novo, me enredei, brincando com as palavras.
E quem não gosta de brincar?
Justiça e vingança
Publicado na edição de 07/06/11
Na semana passada, vi no UOL uma notícia que fortaleceu minha fé na bondade intrínseca à condição humana. Eis um trecho da nota:
“O ano era 2001. Alguns dias depois do atentado de 11 de setembro, em Nova York, o americano Mark Stroman queria se vingar dos ataques e, no que chamou de "missão", matou a tiros dois imigrantes asiáticos e ainda feriu uma terceira pessoa no rosto. A terceira vítima era o muçulmano Rais Bhuiyan, que acabou perdendo a visão do olho atingido pelo tiro.
Preso sob acusação de cometer crimes de ódio, Stroman foi condenado à pena de morte no Texas (EUA). Agora, curiosamente, Bhuiyan está tentando invalidar a condenação do atirador. Bhuiyan criou a campanha "Mundo sem Ódio" na internet -- cujo slogan é "Odeie o pecado, mas não o pecador. Salve a vida de Mark Stroman" -- e está reunindo assinaturas para entregar uma petição à Justiça do Texas. "Eu perdoei Mark Stroman anos atrás. Acredito que ele foi ignorante e incapaz de distinguir entre o certo e o errado, do contrário, não teria feito o que fez", diz Bhuiyan.”
Terminada a leitura, corri ao site da campanha - http://worldwithouthate.org -, onde encontrei argumentos que revelam a grandeza de caráter desse jovem imigrante paquistanês.
Sua maior motivação surgiu do sofrimento imposto pelo gesto insano de seu algoz. “Tive muitos anos para crescer espiritualmente”, afirma Bhuiyan. “Agora tento fazer o melhor para impedir a perda de mais uma vida”. Perdoar, liberando-se do ódio, fez mais do que livrá-lo de uma existência condenada ao inferno do trauma e do rancor. Concedeu-lhe a visão clara de que crimes contra a vida - especialmente os crimes de ódio, estimulados por preconceitos - apenas acrescentam mais medo, sofrimento, ressentimentos e tragédias à rotina das pessoas. Sua ação é igualmente inspirada na melhor tradição do direito: justiça não é vingança. A petição com que pretende obter a comutação da pena de morte imposta a Stroman em pena de prisão de perpétua segue no fluxo dos que defendem a sacralidade da vida e o aspecto reeducativo da punição legal.
É auspicioso que se faça luz sobre o exemplo de Bhuiyan num momento em que mesmo estados formalmente defensores da ética e do direito que fundamentam a civilização sancionam, na prática, a vindita, como o foi o caso recente do assassinato a sangue frio do terrorista Osama bin Laden pelos Estados Unidos. Em que pese a retórica ds interesses estratégicos, a lógica por trás desses eventos é a mesma do policial embrutecido para quem “bandido bom é bandido morto” - ou seja, a mesma atitude reativa das multidões iradas, subjugadas pela emoção.
Que ganhamos com isso? A degradação de nossa dignidade e de nossa qualidade de vida. Séculos de vingança têm sustentado o círculo do ódio e do medo e acobertado a teia corruptora que impede a justiça de educar e redimir. “É preciso romper esse círculo”, diz Bhuiyan. E isso se faz, primeiro, dando uma chance ao amor, cuja natureza contém a justiça, e à justiça, que sem amor é tão somente desforra.
“O ano era 2001. Alguns dias depois do atentado de 11 de setembro, em Nova York, o americano Mark Stroman queria se vingar dos ataques e, no que chamou de "missão", matou a tiros dois imigrantes asiáticos e ainda feriu uma terceira pessoa no rosto. A terceira vítima era o muçulmano Rais Bhuiyan, que acabou perdendo a visão do olho atingido pelo tiro.
Preso sob acusação de cometer crimes de ódio, Stroman foi condenado à pena de morte no Texas (EUA). Agora, curiosamente, Bhuiyan está tentando invalidar a condenação do atirador. Bhuiyan criou a campanha "Mundo sem Ódio" na internet -- cujo slogan é "Odeie o pecado, mas não o pecador. Salve a vida de Mark Stroman" -- e está reunindo assinaturas para entregar uma petição à Justiça do Texas. "Eu perdoei Mark Stroman anos atrás. Acredito que ele foi ignorante e incapaz de distinguir entre o certo e o errado, do contrário, não teria feito o que fez", diz Bhuiyan.”
Terminada a leitura, corri ao site da campanha - http://worldwithouthate.org -, onde encontrei argumentos que revelam a grandeza de caráter desse jovem imigrante paquistanês.
Sua maior motivação surgiu do sofrimento imposto pelo gesto insano de seu algoz. “Tive muitos anos para crescer espiritualmente”, afirma Bhuiyan. “Agora tento fazer o melhor para impedir a perda de mais uma vida”. Perdoar, liberando-se do ódio, fez mais do que livrá-lo de uma existência condenada ao inferno do trauma e do rancor. Concedeu-lhe a visão clara de que crimes contra a vida - especialmente os crimes de ódio, estimulados por preconceitos - apenas acrescentam mais medo, sofrimento, ressentimentos e tragédias à rotina das pessoas. Sua ação é igualmente inspirada na melhor tradição do direito: justiça não é vingança. A petição com que pretende obter a comutação da pena de morte imposta a Stroman em pena de prisão de perpétua segue no fluxo dos que defendem a sacralidade da vida e o aspecto reeducativo da punição legal.
É auspicioso que se faça luz sobre o exemplo de Bhuiyan num momento em que mesmo estados formalmente defensores da ética e do direito que fundamentam a civilização sancionam, na prática, a vindita, como o foi o caso recente do assassinato a sangue frio do terrorista Osama bin Laden pelos Estados Unidos. Em que pese a retórica ds interesses estratégicos, a lógica por trás desses eventos é a mesma do policial embrutecido para quem “bandido bom é bandido morto” - ou seja, a mesma atitude reativa das multidões iradas, subjugadas pela emoção.
Que ganhamos com isso? A degradação de nossa dignidade e de nossa qualidade de vida. Séculos de vingança têm sustentado o círculo do ódio e do medo e acobertado a teia corruptora que impede a justiça de educar e redimir. “É preciso romper esse círculo”, diz Bhuiyan. E isso se faz, primeiro, dando uma chance ao amor, cuja natureza contém a justiça, e à justiça, que sem amor é tão somente desforra.
Meu reino por um verso
Publicado na edição de 31/05/11
Sim, eu um trocaria meus quase 40 anos de jornalismo, há cinco atracados no porto sossegado da aposentadoria, pela destreza de escrever um verso. Um único verso. Um verso definitivo, carregado de surpresa, conciso e belo, que revelasse ao mundo o meu sentir. Milagre de luz e sutileza que, no passado, jamais emergiu de minha barulhenta Olivetti e hoje é prodígio negado às teclas caladas de meu computador.
Acordei pensando nisso. Meu reino por um verso. Um verso singelo, mas tocante, no qual, seguindo os passos de Fernando Pessoa, eu ousasse fingir, e fingir tão completamente, a dor e a delícia que deveras sinto, que deveras sou... É devaneio, eu sei. Vã heresia na prisão de meus textos duros e inodoros, onde a quimera da objetividade sufoca e oculta o meu canto de pássaro. Que fazer? Esse o meu limite. Como consolo, resta-me o deleite de sussurrar para a relva o canto de outros em que me identifico.
Tolice, talvez dissesse o poeta Pessoa: “Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso”. Eu sei, eu sei. Mas o mundo certamente seria outro, e bem melhor que este, se em versos todo homem falasse, abrindo o coração onde o discurso utilitário insiste em amordaçá-lo. Em versos, parece, há mais sentir ou há só sentir. E sentir, diria Pessoa - sempre ele - é criar. “Sentir é pensar sem ideias e, por isso, compreender, visto que o universo não tem ideias”. Como a multidão, perdido em pensamentos que me aprisionam a normas, apenas sonho em imitar-lhe o brado: “Não escrevo em português. Escrevo eu mesmo”.
Segunda-feira de céu azul. Sol dourado reluzindo em meu quintal. Intervalo breve nesses dias de nuvens cinzas e chuvas invernosas? Que importa... Acordei pensando em versos nos versos de outros. Versos de poetas que seguem ao lado, juntinho a nós, mas nem sempre são percebidos por nossas almas embriagadas de lógica e pragmatismo. Ganhei meu dia.
Abro-me em Resina, antologia de Diva Cunha: “Que gesto é esse que me abraça / puro e alastrado / sobre a carne passageira? / Que corpo é esse onde habito? / De quem a voz que me devora / quando não digo o inomeável nome? / Como conter num mínimo ponto no espaço / esse deus que cresce incontido?”
Danço em Destino de Pássaros, de Francisco de Assis Câmara: “Será mais belo o pássaro pousando / ou quando cumpre o ofício de voar? / A pergunta, um enigma a decifrar. / A resposta, um soneto se formando. / E nas asas do pensar, imaginando / vejo-me pássaro, solto, em pleno ar. / Quando regresso, o pouso é meu penar. / Exercício de sofrer, se estou sonhando”.
Enfim, escondo-me, misturando-me outra vez à resina cortante da poeta Diva: “Quando Deus me habita / cresço para todos os lados. / Quando Deus me fala / apuro os ouvidos. / Quando somos um só / desapareço na luz”.
Num canto de jornal, meu canto. Meu sentir no sentimento deles, nossos poetas tão próximos e tão distantes.
Acordei pensando nisso. Meu reino por um verso. Um verso singelo, mas tocante, no qual, seguindo os passos de Fernando Pessoa, eu ousasse fingir, e fingir tão completamente, a dor e a delícia que deveras sinto, que deveras sou... É devaneio, eu sei. Vã heresia na prisão de meus textos duros e inodoros, onde a quimera da objetividade sufoca e oculta o meu canto de pássaro. Que fazer? Esse o meu limite. Como consolo, resta-me o deleite de sussurrar para a relva o canto de outros em que me identifico.
Tolice, talvez dissesse o poeta Pessoa: “Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso”. Eu sei, eu sei. Mas o mundo certamente seria outro, e bem melhor que este, se em versos todo homem falasse, abrindo o coração onde o discurso utilitário insiste em amordaçá-lo. Em versos, parece, há mais sentir ou há só sentir. E sentir, diria Pessoa - sempre ele - é criar. “Sentir é pensar sem ideias e, por isso, compreender, visto que o universo não tem ideias”. Como a multidão, perdido em pensamentos que me aprisionam a normas, apenas sonho em imitar-lhe o brado: “Não escrevo em português. Escrevo eu mesmo”.
Segunda-feira de céu azul. Sol dourado reluzindo em meu quintal. Intervalo breve nesses dias de nuvens cinzas e chuvas invernosas? Que importa... Acordei pensando em versos nos versos de outros. Versos de poetas que seguem ao lado, juntinho a nós, mas nem sempre são percebidos por nossas almas embriagadas de lógica e pragmatismo. Ganhei meu dia.
Abro-me em Resina, antologia de Diva Cunha: “Que gesto é esse que me abraça / puro e alastrado / sobre a carne passageira? / Que corpo é esse onde habito? / De quem a voz que me devora / quando não digo o inomeável nome? / Como conter num mínimo ponto no espaço / esse deus que cresce incontido?”
Danço em Destino de Pássaros, de Francisco de Assis Câmara: “Será mais belo o pássaro pousando / ou quando cumpre o ofício de voar? / A pergunta, um enigma a decifrar. / A resposta, um soneto se formando. / E nas asas do pensar, imaginando / vejo-me pássaro, solto, em pleno ar. / Quando regresso, o pouso é meu penar. / Exercício de sofrer, se estou sonhando”.
Enfim, escondo-me, misturando-me outra vez à resina cortante da poeta Diva: “Quando Deus me habita / cresço para todos os lados. / Quando Deus me fala / apuro os ouvidos. / Quando somos um só / desapareço na luz”.
Num canto de jornal, meu canto. Meu sentir no sentimento deles, nossos poetas tão próximos e tão distantes.
Educação para a paz
Publicado na edição de 17/05/11
Deu nos jornais: nos últimos 15 anos, os Estados Unidos torraram 3 trilhões de dólares no combate ao terrorismo, aí incluídas as guerras do Iraque e do Afeganistão. Uma montanha de dinheiro suficiente para acabar com a fome na África. Mas esse número escandaloso espelha só a face menos onerosa dessa “guerra permanente”. Nele não estão computados os reflexos negativos do conflito na atividade econômica dos Estados Unidos e aliados e, principalmente, o preço pago pelos americanos e o resto do mundo sob a forma de medo, constrangimentos e restrições.
O Brasil não tem inimigos externos mas a violência urbana aqui já exibe um custo exorbitante, sem que isso, a exemplo da cruzada americana, resulte em solução eficaz e duradoura. Os gastos com segurança no país chegaram a cerca de 37 bilhões de reais no ano passado, dos quais 18 bilhões saíram dos cofres públicos. Obviamente, tais números não refletem o custo inestimável de dor, medo e restrições que aviltam a qualidade de vida de pobres e ricos.
A julgar pelo que assistimos até agora, a guerra por segurança não tem limites e pouco se pode esperar em benefícios efetivos pelo simples fato de, como toda guerra, esta também atuar sobre efeitos, deixando intocados os agentes que, no interior do homem, geram e sustentam todas as formas de violência. A resolução do problema pede educação e, sobretudo, educação do sentimento, aí incluído o resgate da espiritualidade reprimida por nosso ponto de vista materialista.
Existem, sim, alternativas às viciadas e danosas políticas de segurança, algumas já aplicadas em comunidades periféricas por organizações independentes. O pensamento conservador da sociedade, no entanto, as impede de avançar. Que governo ou empresa apostaria em um programa como o das escolas de perdão e reconciliação, executado com êxito em áreas conflituosas do Quênia e da Colômbia e no violento bairro do Campo Limpo, em São Paulo? Isso dispensa os bilhões gastos com armas e treinamento para o uso da força, mas exige uma difícil revisão de nossos valores éticos. O perdão é fundamental à paz e ao desarmamento e indispensável na reconstrução de vidas despedaçadas pela violência.
As escolas citadas trabalham a visão do perdão como uma libertação do passado, expressada por Hannah Arendt e outros pensadores, mas no fundo retomam a sabedoria das tradições espirituais, destrinçando-a num passo a passo para aplicação individual e coletiva. O perdão é mais que uma decisão. É uma atitude, um processo e uma forma de vida que se sustentam sobre uma percepção da condição humana, o que abrange a necessidade de perdoar a si mesmo, liberando-se de traumas e condicionamentos. Não é a aprovação de ações negativas ou a submissão à injustiça. É uma mudança interior que não reclama sequer a comunicação direta com aquele que é perdoado, embora quase sempre isso se torne possível.
Um mundo no qual o perdão se tornasse prática comum certamente seria menos violento e mais seguro que o atual, onde medo e rancor realimentam continuamente nossa rotina de pânico e agressões.
O Brasil não tem inimigos externos mas a violência urbana aqui já exibe um custo exorbitante, sem que isso, a exemplo da cruzada americana, resulte em solução eficaz e duradoura. Os gastos com segurança no país chegaram a cerca de 37 bilhões de reais no ano passado, dos quais 18 bilhões saíram dos cofres públicos. Obviamente, tais números não refletem o custo inestimável de dor, medo e restrições que aviltam a qualidade de vida de pobres e ricos.
A julgar pelo que assistimos até agora, a guerra por segurança não tem limites e pouco se pode esperar em benefícios efetivos pelo simples fato de, como toda guerra, esta também atuar sobre efeitos, deixando intocados os agentes que, no interior do homem, geram e sustentam todas as formas de violência. A resolução do problema pede educação e, sobretudo, educação do sentimento, aí incluído o resgate da espiritualidade reprimida por nosso ponto de vista materialista.
Existem, sim, alternativas às viciadas e danosas políticas de segurança, algumas já aplicadas em comunidades periféricas por organizações independentes. O pensamento conservador da sociedade, no entanto, as impede de avançar. Que governo ou empresa apostaria em um programa como o das escolas de perdão e reconciliação, executado com êxito em áreas conflituosas do Quênia e da Colômbia e no violento bairro do Campo Limpo, em São Paulo? Isso dispensa os bilhões gastos com armas e treinamento para o uso da força, mas exige uma difícil revisão de nossos valores éticos. O perdão é fundamental à paz e ao desarmamento e indispensável na reconstrução de vidas despedaçadas pela violência.
As escolas citadas trabalham a visão do perdão como uma libertação do passado, expressada por Hannah Arendt e outros pensadores, mas no fundo retomam a sabedoria das tradições espirituais, destrinçando-a num passo a passo para aplicação individual e coletiva. O perdão é mais que uma decisão. É uma atitude, um processo e uma forma de vida que se sustentam sobre uma percepção da condição humana, o que abrange a necessidade de perdoar a si mesmo, liberando-se de traumas e condicionamentos. Não é a aprovação de ações negativas ou a submissão à injustiça. É uma mudança interior que não reclama sequer a comunicação direta com aquele que é perdoado, embora quase sempre isso se torne possível.
Um mundo no qual o perdão se tornasse prática comum certamente seria menos violento e mais seguro que o atual, onde medo e rancor realimentam continuamente nossa rotina de pânico e agressões.
O príncipe e o casamento
Publicado na edição de 26/04/11
Trinta anos depois do espetáculo de Charles e Diana, a realeza britânica encanta o mundo com um novo conto de fadas da era midiática. O enredo é perfeito: um príncipe, herdeiro do trono, apaixona-se por uma plebéia e oferece-lhe o reino em troca de seu amor. No enlace de William de Gales e Kate Middleton, esse ingrediente mítico é o que fascina os súditos, o milhão de turistas que irão a Londres por causa do casório e os 2,5 bilhões de pessoas que em todo o mundo acompanharão a cerimônia pela TV. Não importa se na vida ordinária a condição humana quase sempre borre a cena primorosa.
Charles e Diana logo conheceram o reverso da magia. Talvez sejam mais suaves os próximos capítulos da fairytale de William e Kate. Há sinais dos tempos nessa união. A eleita do príncipe não é virgem e, mesmo comedida, não parece inclinada a encarnar uma personagem. O príncipe é despojado, tem o espírito de sua geração e vai viver a milhas de distância da prisão ritualística do palácio. O evento londrino, de algum modo, nos leva a pensar sobre o futuro dos matrimônios.
Passei a juventude ouvindo profecias sobre o fim do casamento. Inspirada pelos hippies e pela liberação sexual, parte de minha tribo não via como conciliar a liberdade do indivíduo com uma instituição que atira sobre criaturas imperfeitas a responsabilidade de uma perfeição inalcançável. De lá para cá, muita água rolou, a crise nos relacionamentos mostrou sua face mais feia, mas o casamento sobreviveu.
Há mais gente casando, ou querendo casar, do que sugere a aparência de um tempo que exalta a “ficada” e o divórcio. O impulso natural de acasalamento duradouro, característica de pouquíssimas espécies, impõe-se sobre o discurso libertário, fechando os olhos dos apaixonados - e até dos interesseiros - ao contraponto das formalidades implacáveis. Não importa se aqui, como na fairytale dos príncipes, a história possa ter um final amargo. O sonho não morreu, mas a realidade alterou, e certamente há de alterar ainda mais nas próximas décadas, o contrato das uniões formais, um velho instrumento de coesão social e crescimento pessoal e coletivo.
O caminho já percorrido sinaliza casamentos mais flexíveis e compatíveis com as limitações humanas. E, em que pese a atual corrupção dos sentimentos e o traço de prostituição implícita ou explícita de muitas uniões, a tendência é de matrimônios mais apoiados no afeto que nos interesses materiais de cônjuges ou famílias, uma prática milenar que o romantismo enfraqueceu.
Restará ainda a cegueira egóica, alimentada pelo próprio romantismo, ligeira em forjar algemas e promover indignidades em nome do amor. Mas talvez seja mais fácil ao amante, em sua aflição depuradora, finalmente entender e aceitar a liberdade inerente ao amor verdadeiro. Se descartarem a fantasia do romance ideal, os casais estarão livres da expectativa de desempenho e segurança que os aprisiona a um relacionamento entre imagens, não entre humanos reais. Será um salto de qualidade. Sem imagens não há conflito. O amor não tem imagem. O amor é pura abertura para a vida, seu fluxo e suas surpresas.
Charles e Diana logo conheceram o reverso da magia. Talvez sejam mais suaves os próximos capítulos da fairytale de William e Kate. Há sinais dos tempos nessa união. A eleita do príncipe não é virgem e, mesmo comedida, não parece inclinada a encarnar uma personagem. O príncipe é despojado, tem o espírito de sua geração e vai viver a milhas de distância da prisão ritualística do palácio. O evento londrino, de algum modo, nos leva a pensar sobre o futuro dos matrimônios.
Passei a juventude ouvindo profecias sobre o fim do casamento. Inspirada pelos hippies e pela liberação sexual, parte de minha tribo não via como conciliar a liberdade do indivíduo com uma instituição que atira sobre criaturas imperfeitas a responsabilidade de uma perfeição inalcançável. De lá para cá, muita água rolou, a crise nos relacionamentos mostrou sua face mais feia, mas o casamento sobreviveu.
Há mais gente casando, ou querendo casar, do que sugere a aparência de um tempo que exalta a “ficada” e o divórcio. O impulso natural de acasalamento duradouro, característica de pouquíssimas espécies, impõe-se sobre o discurso libertário, fechando os olhos dos apaixonados - e até dos interesseiros - ao contraponto das formalidades implacáveis. Não importa se aqui, como na fairytale dos príncipes, a história possa ter um final amargo. O sonho não morreu, mas a realidade alterou, e certamente há de alterar ainda mais nas próximas décadas, o contrato das uniões formais, um velho instrumento de coesão social e crescimento pessoal e coletivo.
O caminho já percorrido sinaliza casamentos mais flexíveis e compatíveis com as limitações humanas. E, em que pese a atual corrupção dos sentimentos e o traço de prostituição implícita ou explícita de muitas uniões, a tendência é de matrimônios mais apoiados no afeto que nos interesses materiais de cônjuges ou famílias, uma prática milenar que o romantismo enfraqueceu.
Restará ainda a cegueira egóica, alimentada pelo próprio romantismo, ligeira em forjar algemas e promover indignidades em nome do amor. Mas talvez seja mais fácil ao amante, em sua aflição depuradora, finalmente entender e aceitar a liberdade inerente ao amor verdadeiro. Se descartarem a fantasia do romance ideal, os casais estarão livres da expectativa de desempenho e segurança que os aprisiona a um relacionamento entre imagens, não entre humanos reais. Será um salto de qualidade. Sem imagens não há conflito. O amor não tem imagem. O amor é pura abertura para a vida, seu fluxo e suas surpresas.
Sabedoria ou erudição?
Publicado na edição de 19/04/11
Não é necessário ser gênio para notar que em nós há mais informação que conhecimento e mais conhecimento que sabedoria. Costumamos empregar essas três palavras com a mesma acepção, mas é grande a distância que separa seus reais significados. Informação é o dado em estado bruto, aquilo que captamos através dos sentidos. Conhecimento é o resultado do processamento dos dados, o que pressupõe análises e conexões. Já a sabedoria é o conhecimento digerido em um nível mais profundo, não raro intuitivo, que acaba estruturando um novo modo de pensar.
Nosso tempo febril e a tecnologia produzem montanhas de dados cujo efeito em nossas vidas nem sempre é saudável. Há bilhões de pessoas “antenadas”, em dia com as novidades, que, no entanto, seguem desnorteadas, incapazes de perceber contextos, fazer escolhas e traçar o próprio caminho. Estão simplesmente intoxicadas pela overdose de informação não processada. Ao lado dessa massa caótica, milhões se tornaram aptos a operar no nível do conhecimento, sob a motivação do pragmatismo, sem que isso, necessariamente, se manifeste como criatividade interna - isto é, sabedoria - ou mesmo inteligência, a destreza mental que nos permite aprender e compreender.
É fácil notar a fugacidade do “antenado” perdido em seus dados desconexos, mas é difícil reconhecer a superficialidade de nossa erudição. Muita gente dá show recitando trechos de autores renomados diante de situações assemelhadas às das narrativas, mas é incapaz de elaborar uma opinião ou solução para o problema, uma mostra de que a erudição, embora possa secundar a sabedoria e a inteligência, muitas vezes não passa de exibição de uma memória afiada. Podemos saber de cor textos de grande expressão artística ou filosófica sem que isso altere nossas crenças e ações viciadas.
A sabedoria não decorre do acúmulo de conhecimentos, mas da reflexão e da meditação daquilo que se conhece. É possível alguém ser sábio sem erudição, como provam tantas pessoas que jamais tiveram acesso ao conhecimento acadêmico, muitas vezes em nossas famílias. Quem nunca conviveu com uma bisavó iletrada ou um tio bronco hábeis em fazer associações e extrair de eventos corriqueiros lições óbvias que ninguém enxergou antes? Sua aptidão para lidar com situações adversas nos surpreende, atestando que, mais do que meros portadores, eles são o próprio conhecimento emergindo da mente e do coração.
Sempre que contemplo a sabedoria dos simples, convenço-me do acerto de Lao-Tsé, o sábio do Tao, ao afirmar: “Na busca do conhecimento, cada dia algo é adquirido. Na busca da sabedoria, cada dia algo é abandonado”. Sobrecarregados de informação, temos sufocado a intuição e a sensibilidade em prejuízo da sabedoria que nos presenteia com entendimento pleno e fruição da vida. Ficamos mais pobres, ainda que aparentemente ricos. Um paradoxo que nos leva a indagar com o poeta T. S Eliot: “Onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento?”
Nosso tempo febril e a tecnologia produzem montanhas de dados cujo efeito em nossas vidas nem sempre é saudável. Há bilhões de pessoas “antenadas”, em dia com as novidades, que, no entanto, seguem desnorteadas, incapazes de perceber contextos, fazer escolhas e traçar o próprio caminho. Estão simplesmente intoxicadas pela overdose de informação não processada. Ao lado dessa massa caótica, milhões se tornaram aptos a operar no nível do conhecimento, sob a motivação do pragmatismo, sem que isso, necessariamente, se manifeste como criatividade interna - isto é, sabedoria - ou mesmo inteligência, a destreza mental que nos permite aprender e compreender.
É fácil notar a fugacidade do “antenado” perdido em seus dados desconexos, mas é difícil reconhecer a superficialidade de nossa erudição. Muita gente dá show recitando trechos de autores renomados diante de situações assemelhadas às das narrativas, mas é incapaz de elaborar uma opinião ou solução para o problema, uma mostra de que a erudição, embora possa secundar a sabedoria e a inteligência, muitas vezes não passa de exibição de uma memória afiada. Podemos saber de cor textos de grande expressão artística ou filosófica sem que isso altere nossas crenças e ações viciadas.
A sabedoria não decorre do acúmulo de conhecimentos, mas da reflexão e da meditação daquilo que se conhece. É possível alguém ser sábio sem erudição, como provam tantas pessoas que jamais tiveram acesso ao conhecimento acadêmico, muitas vezes em nossas famílias. Quem nunca conviveu com uma bisavó iletrada ou um tio bronco hábeis em fazer associações e extrair de eventos corriqueiros lições óbvias que ninguém enxergou antes? Sua aptidão para lidar com situações adversas nos surpreende, atestando que, mais do que meros portadores, eles são o próprio conhecimento emergindo da mente e do coração.
Sempre que contemplo a sabedoria dos simples, convenço-me do acerto de Lao-Tsé, o sábio do Tao, ao afirmar: “Na busca do conhecimento, cada dia algo é adquirido. Na busca da sabedoria, cada dia algo é abandonado”. Sobrecarregados de informação, temos sufocado a intuição e a sensibilidade em prejuízo da sabedoria que nos presenteia com entendimento pleno e fruição da vida. Ficamos mais pobres, ainda que aparentemente ricos. Um paradoxo que nos leva a indagar com o poeta T. S Eliot: “Onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento?”
Por trás do massacre
Publicado na edição de 12/04/11
Até agora, além dos mortos e feridos e do sofrimento das famílias atingidas, só há um dado indiscutível na tragédia ocorrida, na semana passada, na Escola Tasso da Silveira, do Rio de Janeiro: a mente doentia do atirador, o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos. Ninguém planeja e executa um massacre de crianças inocentes se não estiver doente da cabeça e da alma. Na verdade, ninguém mata se não estiver, ainda que por um momento, perturbado. Tudo mais que se tem falado sobre antecedentes que levaram à loucura do assassino são ainda conjeturas no esforço para identificar causas e prevenir novas chacinas.
Entre os fatores realçados, quatro me chamam a atenção, não só por sua obviedade, passível de ser constatada por qualquer um, mas também por serem traços de nossa perturbação coletiva, só percebida pelos mais atentos. Vejamos:
Bullying - o assédio e intimidação de alguém por pessoas de seu círculo de convivência. É prática antiga e abominável, apoiada em preconceitos, que tem se intensificado no ambiente escolar nos últimos tempos. Adolescente, Wellington teria sido ridicularizado e humilhado por colegas na Tasso da Silveira. Se isso causaria estragos emocionais numa pessoa normal, imagine o que pode acontecer se a vítima padece de algum distúrbio mental...
Fanatismo religioso - visão retrógrada da divindade e da espiritualidade que conduz a posturas e ações discriminatórias, perpetuando na sociedade pós-moderna o senso das religiões tribais do passado e seus deuses protetores em guerra permanente. É algo que sensibiliza facilmente pessoas inseguras e adolescentes em busca de fortaleza na ação grupal, seja uma religião ou uma torcida de futebol. A mente frágil de Wellington encantou-se com o radicalismo de certos grupos judaico-cristãos e islâmicos.
Sensacionalismo - a divulgação espalhafatosa e repetitiva de escândalos e crimes pela mídia, na disputa por audiência. Sobre pessoas “saudáveis” isso tem um efeito catarse, logo seguido de um reforço do medo, principal causa da violência. Nas mentes desequilibradas de psicopatas e marginais, ao que tudo indica, renova a esperança de sucesso em projetos sombrios e a intenção de serem resgatados do anonimato. Wellington, ao que se sabe, era consumidor voraz de notícias relacionadas ao terrorismo e violência em geral.
Acesso a armas - é tão fácil adquirir uma arma, legal ou ilegalmente, quanto comprar um picolé. Wellington talvez tenha recorrido a atravessadores porque não tinha a idade mínima, 25 anos, para comprar seus dois revólveres e a farta munição numa loja. A ilusão de que uma arma em casa protege a família levou a maioria dos eleitores a dizer não ao desarmamento no plebiscito de 2005. Está na hora de rediscutir o assunto.
Esses fatores estão entrelaçados e compõem, junto com outros, um conjunto de rotinas sustentado por nossas crenças, a base de nosso mundo real. É sobre elas que devemos atuar, se almejamos mudança. Mas isso nunca será fácil. Todos queremos a omelete da paz, mas quem se dispõe a quebrar o ovo?
Entre os fatores realçados, quatro me chamam a atenção, não só por sua obviedade, passível de ser constatada por qualquer um, mas também por serem traços de nossa perturbação coletiva, só percebida pelos mais atentos. Vejamos:
Bullying - o assédio e intimidação de alguém por pessoas de seu círculo de convivência. É prática antiga e abominável, apoiada em preconceitos, que tem se intensificado no ambiente escolar nos últimos tempos. Adolescente, Wellington teria sido ridicularizado e humilhado por colegas na Tasso da Silveira. Se isso causaria estragos emocionais numa pessoa normal, imagine o que pode acontecer se a vítima padece de algum distúrbio mental...
Fanatismo religioso - visão retrógrada da divindade e da espiritualidade que conduz a posturas e ações discriminatórias, perpetuando na sociedade pós-moderna o senso das religiões tribais do passado e seus deuses protetores em guerra permanente. É algo que sensibiliza facilmente pessoas inseguras e adolescentes em busca de fortaleza na ação grupal, seja uma religião ou uma torcida de futebol. A mente frágil de Wellington encantou-se com o radicalismo de certos grupos judaico-cristãos e islâmicos.
Sensacionalismo - a divulgação espalhafatosa e repetitiva de escândalos e crimes pela mídia, na disputa por audiência. Sobre pessoas “saudáveis” isso tem um efeito catarse, logo seguido de um reforço do medo, principal causa da violência. Nas mentes desequilibradas de psicopatas e marginais, ao que tudo indica, renova a esperança de sucesso em projetos sombrios e a intenção de serem resgatados do anonimato. Wellington, ao que se sabe, era consumidor voraz de notícias relacionadas ao terrorismo e violência em geral.
Acesso a armas - é tão fácil adquirir uma arma, legal ou ilegalmente, quanto comprar um picolé. Wellington talvez tenha recorrido a atravessadores porque não tinha a idade mínima, 25 anos, para comprar seus dois revólveres e a farta munição numa loja. A ilusão de que uma arma em casa protege a família levou a maioria dos eleitores a dizer não ao desarmamento no plebiscito de 2005. Está na hora de rediscutir o assunto.
Esses fatores estão entrelaçados e compõem, junto com outros, um conjunto de rotinas sustentado por nossas crenças, a base de nosso mundo real. É sobre elas que devemos atuar, se almejamos mudança. Mas isso nunca será fácil. Todos queremos a omelete da paz, mas quem se dispõe a quebrar o ovo?
Sou grato, sou feliz
Publicado na edição de 05/04/11
Na timeline do twitter encontrei esta pérola sobre a dissintonia entre palavra, sentimento e intenção: “Foi mal não é desculpa. Valeu não é obrigado. E eu também não é eu te amo”. A luz amarela logo acendeu. Eu tenho abusado das gírias nascidas da comunicação superficial e ciclotímica pela Internet, sem notar que, assim, amplio o fosso entre o sentir e o falar, esvaziando ainda mais minha relação com o outro e comigo mesmo.
“Valeu” é a minha preferida. Aparentemente, a palavrinha cunhada pelas galeras soa mais forte que o velho “obrigado”. É um verbo, traduz ação. É um signo carregado de vibração. Seu significado contém uma explosão emocional, algo como um grito na hora do gol. Mas falta-lhe a significação serena da gratidão infundida no adjetivo tradicional com o qual expressamos agradecimento. Esquecer a gratidão é empobrecer a vida, a nossa vida...
A troca de obrigado por valeu até poderia ser vista como um sinal dos tempos. Em nosso tempo de egos inflados, é natural que a euforia pela imposição de vontades e a realização de desejos pessoais sufoque a percepção de que nada nem ninguém existe por si mesmo. A interdependência abrange todos os seres, todos dependemos de uma cadeia de agentes e processos na eterna teia mutante da vida. Não há vencedores nem heróis, nem santos nem sábios sozinhos. Não há obra que não seja coletiva. Apesar disso, a ilusão de que existimos separados do universo, causada pela mente e pelo senso de ego, leva-nos constantemente a eleger autores isolados em um divertido jogo de aparências.
Também essa falha de visão não existe por si. Suas raízes se apóiam na ignorância sobre nossa essência atemporal e ilimitada - a dimensão espiritual, onde há plenitude -, e na carência que permeia a experiência existencial exclusiva na dimensão do ego. A gratidão é um sentimento cuja frequência e intensidade são proporcionais à percepção de nossa plenitude. A ingratidão é associada a um estado de carência sustentado pelo mais puro egoísmo.
O nosso não reconhecimento das dádivas da vida não é de hoje, embora isso se tenha intensificado em nossa cultura individualista e consumista. É exemplar o caso dos dez leprosos que, tendo implorado a Jesus por saúde, receberam dele a orientação para se apresentarem aos sacerdotes. A caminho do templo, todos foram curados, mas apenas um voltou ao mestre para agradecer. A este, Jesus teria dito “a tua fé te salvou”, uma frase emblemática dos benefícios da gratidão.
O místico Meister Eckhart costumava dizer que se a única oração que fizéssemos ao longo da existência se resumisse à palavra “obrigado”, isso já seria suficiente. Ser grato é ser feliz. A gratidão não nos aprisiona, antes liberta-nos da dependência emocional a pessoas e coisas, tornando-nos aptos a enxergar, na perspectiva da unidade, as bênçãos inerentes à interpendência da vida. Ela promove a energia do amor e instala em nós a tão sonhada sensação de suficiência.
Valeu?
Eu prefiro dizer obrigado a todos os que, na infinita cadeia da vida, contribuíram com trabalho e ensinamentos para que este texto chegasse até você.
“Valeu” é a minha preferida. Aparentemente, a palavrinha cunhada pelas galeras soa mais forte que o velho “obrigado”. É um verbo, traduz ação. É um signo carregado de vibração. Seu significado contém uma explosão emocional, algo como um grito na hora do gol. Mas falta-lhe a significação serena da gratidão infundida no adjetivo tradicional com o qual expressamos agradecimento. Esquecer a gratidão é empobrecer a vida, a nossa vida...
A troca de obrigado por valeu até poderia ser vista como um sinal dos tempos. Em nosso tempo de egos inflados, é natural que a euforia pela imposição de vontades e a realização de desejos pessoais sufoque a percepção de que nada nem ninguém existe por si mesmo. A interdependência abrange todos os seres, todos dependemos de uma cadeia de agentes e processos na eterna teia mutante da vida. Não há vencedores nem heróis, nem santos nem sábios sozinhos. Não há obra que não seja coletiva. Apesar disso, a ilusão de que existimos separados do universo, causada pela mente e pelo senso de ego, leva-nos constantemente a eleger autores isolados em um divertido jogo de aparências.
Também essa falha de visão não existe por si. Suas raízes se apóiam na ignorância sobre nossa essência atemporal e ilimitada - a dimensão espiritual, onde há plenitude -, e na carência que permeia a experiência existencial exclusiva na dimensão do ego. A gratidão é um sentimento cuja frequência e intensidade são proporcionais à percepção de nossa plenitude. A ingratidão é associada a um estado de carência sustentado pelo mais puro egoísmo.
O nosso não reconhecimento das dádivas da vida não é de hoje, embora isso se tenha intensificado em nossa cultura individualista e consumista. É exemplar o caso dos dez leprosos que, tendo implorado a Jesus por saúde, receberam dele a orientação para se apresentarem aos sacerdotes. A caminho do templo, todos foram curados, mas apenas um voltou ao mestre para agradecer. A este, Jesus teria dito “a tua fé te salvou”, uma frase emblemática dos benefícios da gratidão.
O místico Meister Eckhart costumava dizer que se a única oração que fizéssemos ao longo da existência se resumisse à palavra “obrigado”, isso já seria suficiente. Ser grato é ser feliz. A gratidão não nos aprisiona, antes liberta-nos da dependência emocional a pessoas e coisas, tornando-nos aptos a enxergar, na perspectiva da unidade, as bênçãos inerentes à interpendência da vida. Ela promove a energia do amor e instala em nós a tão sonhada sensação de suficiência.
Valeu?
Eu prefiro dizer obrigado a todos os que, na infinita cadeia da vida, contribuíram com trabalho e ensinamentos para que este texto chegasse até você.
Vida, morte e... cinema
Publicado na edição de 29/03/11
Dogen Zenji, fundador da escola Soto Zen, do budismo japonês, escreveu a propósito da busca espiritual: “Estudar o caminho é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer-se de si próprio. Esquecer-se de si próprio é tornar-se iluminado por todas as coisas do universo”. Uso esse ensinamento do grande mestre para entender melhor o tema da morte.
Não existe assunto mais recorrente. A noção de nossa finitude é a raiz de nossa angústia existencial e, ao mesmo tempo, um propulsor de nossos movimentos e de nossa criatividade. Apesar disso, desperdiçamos nossa relação com a morte, evitando encará-la antes da hora inevitável, na ilusão de que assim fazendo privilegiamos a vida e aplacamos nossa perplexidade.
É nesse ponto que aplico uma paráfrase da sabedoria de Dogen. Falar sobre a morte é esquecer da morte - esquecer de si mesmo, desse “eu” inseguro, aprisionado a miragens. É descobrir-se vivo numa grande teia, deleite de sentir-se parte, sentir-se meio e não fim.
Não dá para acessar essa dimensão sem antes fazer as pazes com a indesejada, compreendê-la em sua natureza e aceitá-la como um aspecto essencial do próprio fenômeno da vida, que dela carece para manifestar-se. Vida e morte são faces da mesma moeda. A morte está presente na impermanência de todas as coisas, nas mutações de cada segundo. E, no entanto, o que se assiste nessa sucessão de apagar e acender de luzes é a continuidade do mesmo espetáculo - o show da vida - que surpreende a cada ato.
Escrevo esta pensata estimulado pelo lançamento, esta semana, de um novo título do chamado cinema transcendental brasileiro: o filme “As mães de Chico Xavier”. Hollywood já faz isso há alguns anos. O teatro e a arte em geral tratam da morte e da vida no além há séculos. Na cinematografia nacional, a novidade é que o gênero vem florescendo sob a inspiração das idéias espíritas e da vida do médium Chico Xavier, dois ingredientes que abrem a possibilidade de abordagens inéditas e de um jeito brasileiro de entrelaçar a vida de “lá” e a “daqui”. Em “As mães de Chico”, os diretores Glauber Filho e Halder Gomes alcançam esse objetivo com um filme suave, que toca o coração e provoca o pensamento ao relacionar espiritualidade e questões dramáticas do dia a dia, como o suicídio, as drogas e o aborto.
É uma boa notícia que, em meio à sofreguidão materialista, estejamos falando mais sobre a morte e, consequentemente, habilitando-nos a desfrutar serenamente a vida, em qualquer de suas dimensões. Obviamente nossa percepção ainda se ressente da sutileza do olhar do sábio ou do místico, que vêem a vida de uma perspectiva transpessoal. Ela é ainda limitada por desejos egóicos de satisfação pessoal que, não raro, corrompem nossas descobertas com a adição de novos medos e ilusões. Mas isso também passa. Encarar a morte e aceitá-la é um passo largo em direção à humildade. E humildade, como diria o rabino Nilton Bonder, é tão só “o contentamento por sermos parte de algo belo e maravilhoso”.
Não existe assunto mais recorrente. A noção de nossa finitude é a raiz de nossa angústia existencial e, ao mesmo tempo, um propulsor de nossos movimentos e de nossa criatividade. Apesar disso, desperdiçamos nossa relação com a morte, evitando encará-la antes da hora inevitável, na ilusão de que assim fazendo privilegiamos a vida e aplacamos nossa perplexidade.
É nesse ponto que aplico uma paráfrase da sabedoria de Dogen. Falar sobre a morte é esquecer da morte - esquecer de si mesmo, desse “eu” inseguro, aprisionado a miragens. É descobrir-se vivo numa grande teia, deleite de sentir-se parte, sentir-se meio e não fim.
Não dá para acessar essa dimensão sem antes fazer as pazes com a indesejada, compreendê-la em sua natureza e aceitá-la como um aspecto essencial do próprio fenômeno da vida, que dela carece para manifestar-se. Vida e morte são faces da mesma moeda. A morte está presente na impermanência de todas as coisas, nas mutações de cada segundo. E, no entanto, o que se assiste nessa sucessão de apagar e acender de luzes é a continuidade do mesmo espetáculo - o show da vida - que surpreende a cada ato.
Escrevo esta pensata estimulado pelo lançamento, esta semana, de um novo título do chamado cinema transcendental brasileiro: o filme “As mães de Chico Xavier”. Hollywood já faz isso há alguns anos. O teatro e a arte em geral tratam da morte e da vida no além há séculos. Na cinematografia nacional, a novidade é que o gênero vem florescendo sob a inspiração das idéias espíritas e da vida do médium Chico Xavier, dois ingredientes que abrem a possibilidade de abordagens inéditas e de um jeito brasileiro de entrelaçar a vida de “lá” e a “daqui”. Em “As mães de Chico”, os diretores Glauber Filho e Halder Gomes alcançam esse objetivo com um filme suave, que toca o coração e provoca o pensamento ao relacionar espiritualidade e questões dramáticas do dia a dia, como o suicídio, as drogas e o aborto.
É uma boa notícia que, em meio à sofreguidão materialista, estejamos falando mais sobre a morte e, consequentemente, habilitando-nos a desfrutar serenamente a vida, em qualquer de suas dimensões. Obviamente nossa percepção ainda se ressente da sutileza do olhar do sábio ou do místico, que vêem a vida de uma perspectiva transpessoal. Ela é ainda limitada por desejos egóicos de satisfação pessoal que, não raro, corrompem nossas descobertas com a adição de novos medos e ilusões. Mas isso também passa. Encarar a morte e aceitá-la é um passo largo em direção à humildade. E humildade, como diria o rabino Nilton Bonder, é tão só “o contentamento por sermos parte de algo belo e maravilhoso”.
Japão, ação e reação
Publicado na edição de 22/03/11
Pelo menos 15 mil pessoas devem ter perecido no terremoto e no tsumani que devastaram este mês uma parte do Japão e, ao danificar a usina de Fukushima, ameaçaram o mundo com uma nova catástrofe nuclear. É o mesmo número de mortos do grande sismo, também seguido de maremoto, que em 1º de novembro de 1755 destruiu Lisboa, então a quarta maior cidade da Europa. Há outra conexão entre os dois eventos: o tremor no Japão alcançou 8,9 pontos na escala Richter, uma magnitude semelhante a que é estimada para o abalo de Lisboa.
No século XVIII não havia TV nem internet para impactar o mundo com imagens apocalípticas, como as que vimos no caso japonês e no terremoto que arruinou o Haiti no ano passado. A notícia da calamidade lisboeta só chegou a Londres três meses depois. Ainda hoje, porém, as narrativas dramáticas do pavor de sobreviventes ensangüentados, arrastando membros expostos entre metralhas, e do fogo que durante cinco dias transformou em cinzas o que restara de pé na cidade justificam a excitação do imaginário popular e o das elites da época. O que explicaria o fato de Lisboa, uma cidade tão beata, ter sido alvo da fúria da natureza precisamente na data consagrada a todos os santos no calendário católico? Por que seu povo fervoroso e contribuinte fiel da arca da Igreja sofreria um flagelo à altura de Sodoma e Gomorra?
Os tempos são outros, o ocidente tornou-se laico, mas a cada tragédia natural repetimos as mesmas perguntas atônitas, agora disfarçadas pelo verniz intelectual que dá ares de formulação científica à nossa dificuldade de lidar com os incontroláveis movimentos da vida. Por que o Japão, tão preparado, organizado e disciplinado, capaz de comover o mundo com a postura serena e ética de sua gente mesmo em situação tão extrema? Por que o Haiti tão pobre e sofrido, já há séculos abandonado à própria sorte?
Não é simples estabelecer uma relação de causa e efeito entre desastres naturais e a história de um povo. Sempre corremos o risco de cair na resposta simplória da “ira de Deus”, reforçando preconceitos. Mas se é verdade que uma borboleta batendo asas na Ásia tem a ver com o clima aqui, como hoje é aceitável diante de novas teorias científicas, é razoável admitir que pensamentos e atitudes também tomem parte nessa intricada cadeia reativa.
As ilações são mais fáceis quando, em vez do antes, focamos o depois desses eventos inusitados. Catástrofes costumam ser sucedidas por ondas de progresso social, deixando para trás muitas imperfeições e mazelas. A de Lisboa, que levaria à construção dos primeiros prédios resistentes a terremotos e ao surgimento da ciência da sismologia, acabou influenciando até a inconfidência mineira e, mais tarde, a independência do Brasil em razão do aumento de impostos para cobrir o rombo no tesouro português, devido às obras de reconstrução da cidade. A do Japão atual talvez nos leve a repensar o uso da energia nuclear e o nosso próprio modelo econômico.
Há causa e efeito, sim, mas, quando a dor se manifesta, não significa necessariamente que a natureza está aplicando uma punição ao homem. Embora isso não nos agrade, dor é indispensável ao processo evolutivo. É ela que desafia a inteligência e o coração e faz crescer indivíduos e a humanidade.
Onde nasce a frustração
Publicado na edição de 15/03/11
E se, de repente, alguém interrompesse este seu momento de paz e leitura e lhe alvejasse com a pergunta: qual o propósito de sua vida? Imagino que você teria dificuldade em responder, pelo menos com precisão e sinceridade. Eu teria. A maioria da população também. Não é regra, em nossa cultura, estimular uma pessoa a meditar sobre sua finalidade na vida e, por consequência, sobre seus dons ou talentos - aquilo que a torna única e especial e deveria ser base de sua atuação comunitária. Em geral, vivemos no piloto automático, fazendo coisas que nos foram impostas ou buscadas sob a motivação de acumular dinheiro e prestígio, supostamente os garantidores de nossa sobrevivência na selva civilizada e de nossa realização aparente.
Como nossos pais, numa época em que podiam determinar antes do nascimento a profissão de um filho, procuramos induzir nossas crianças ao sucesso financeiro, sem levar em conta suas características psicológicas, desejos e habilidades. Para isso nem é preciso o autoritarismo do passado. A crença corrente no poder do dinheiro, as tendências de mercado, o apelo do marketing e o fetiche da fama ajudam a “fazer a cabeça” de jovens sem ideal, empurrando-os para uma ilusão de alto custo individual e coletivo. Imenso é o malogro de quem faz o que não gosta. E seria ingenuidade debitarmos apenas na coluna dos baixos salários e das precárias condições de trabalho, a enxurrada de profissionais mau-humorados, preguiçosos, relapsos, indiferentes, irresponsáveis, desonestos, arrogantes, incompetentes e sem nenhuma inclinação para servir que encontramos nos mais diferentes ramos de atividade, especialmente no serviço público, onde são escassos ou inexistentes os critérios de avaliação e generosas as cláusulas de estabilidade no emprego.
Quantos artesãos natos estão hoje aprisionados no papel de médico? Quantos cantores estão sufocados na armadura do burocrata? Quantos comerciantes estão paralisados sob a bata do professor? A poda da alma tem efeitos desastrosos. Ela nos transforma em zumbis perdidos nos movimentos vegetativos, eternamente carentes de vida e sentido. É o inferno da frustração, onde caímos pela incapacidade de descobrir nossa missão e onde permanecemos estagnados pelo receio de romper algemas e virar a mesa.
No caminho do crescimento pessoal e da felicidade não existe receita pronta, mas arrisco-me a afirmar que teríamos mais gente feliz e comunidades bem servidas se, desde criança, perscrutássemos o espírito com objetivo de identificar nossos talentos e estabelecer nosso propósito de vida.
O que é que eu faço me divertindo, sem sentir o passar das horas? O que eu faço bem e de um jeito só meu? O que me faz sentir-me útil e acende em mim o desejo de servir à humanidade? Quando conseguimos responder com segurança a perguntas como essas, simples e indispensáveis, é por que, finalmente, encontramos nosso lugar no mundo, aquele no qual estamos sempre plenos e realizados, gratos à vida e disponíveis para os desafios evolutivos.
Como nossos pais, numa época em que podiam determinar antes do nascimento a profissão de um filho, procuramos induzir nossas crianças ao sucesso financeiro, sem levar em conta suas características psicológicas, desejos e habilidades. Para isso nem é preciso o autoritarismo do passado. A crença corrente no poder do dinheiro, as tendências de mercado, o apelo do marketing e o fetiche da fama ajudam a “fazer a cabeça” de jovens sem ideal, empurrando-os para uma ilusão de alto custo individual e coletivo. Imenso é o malogro de quem faz o que não gosta. E seria ingenuidade debitarmos apenas na coluna dos baixos salários e das precárias condições de trabalho, a enxurrada de profissionais mau-humorados, preguiçosos, relapsos, indiferentes, irresponsáveis, desonestos, arrogantes, incompetentes e sem nenhuma inclinação para servir que encontramos nos mais diferentes ramos de atividade, especialmente no serviço público, onde são escassos ou inexistentes os critérios de avaliação e generosas as cláusulas de estabilidade no emprego.
Quantos artesãos natos estão hoje aprisionados no papel de médico? Quantos cantores estão sufocados na armadura do burocrata? Quantos comerciantes estão paralisados sob a bata do professor? A poda da alma tem efeitos desastrosos. Ela nos transforma em zumbis perdidos nos movimentos vegetativos, eternamente carentes de vida e sentido. É o inferno da frustração, onde caímos pela incapacidade de descobrir nossa missão e onde permanecemos estagnados pelo receio de romper algemas e virar a mesa.
No caminho do crescimento pessoal e da felicidade não existe receita pronta, mas arrisco-me a afirmar que teríamos mais gente feliz e comunidades bem servidas se, desde criança, perscrutássemos o espírito com objetivo de identificar nossos talentos e estabelecer nosso propósito de vida.
O que é que eu faço me divertindo, sem sentir o passar das horas? O que eu faço bem e de um jeito só meu? O que me faz sentir-me útil e acende em mim o desejo de servir à humanidade? Quando conseguimos responder com segurança a perguntas como essas, simples e indispensáveis, é por que, finalmente, encontramos nosso lugar no mundo, aquele no qual estamos sempre plenos e realizados, gratos à vida e disponíveis para os desafios evolutivos.
Verdade silenciosa
Publicado na edição de 01/03/11
Abro ao acaso o livro O poder do agora, de Eckhart Tolle, e deparo com uma afirmação que transita na contramão das crenças e valores que sustentam o nosso mundo. “Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico”, diz o autor. No estudo das narrativas, o tempo psicológico, que flui na imaginação, é colocado em contraposição ao tempo cronológico, o tempo “real” medido pelo relógio. No livro de Tolle, é tudo aquilo que está fora do agora, a única instância da realidade. Passado e futuro são ficções. O tempo é uma ficção. Um simples movimento do dedo mindinho ou um pensamento só são possíveis no presente, no agora.
Isso é fato. Mas a cultura nega, a mente nega. Vivemos no tempo psicológico, negando o presente, e o preço pago por essa distração é cada vez mais alto na teia de miragens a que nos aprisionamos. O desconforto, a ansiedade, o estresse e todas as manifestações de medo resultam do excesso de futuro em nossas vidas, lembra Tolle. A culpa, o ressentimento, a tristeza, a injustiça e a impossibilidade do perdão são sintomas do excesso de passado. Não existem problemas no agora, todos eles acontecem no tempo, seja este de 1 minuto ou 10 anos.
É difícil compreender esse conceito quando nos encontramos atolados nas ocupações e obrigações de uma rotina construída na linha do tempo psicológico. Os negócios, a política, os relacionamentos e, principalmente, a salvação da alma - bandeira das religiões predominantes - estão apoiados na expectativa de uma felicidade que está por vir e em nome da qual, muitas vezes, atropelamos a vida e as pessoas com o uso de meios abomináveis. O próprio Tolle, um alemão de carreira brilhante na Universidade Cambridge, na Inglaterra, só percebeu isso ao mergulhar numa crise existencial e saltar para fora do sistema, refazendo o caminho de desapego e introspecção de sábios e loucos até descobrir o seu novo lugar no mundo.
Podemos alegar que o foco no futuro estabelece a esperança. E a esperança nos leva a prosseguir. Foi assim que chegamos até aqui, edificando a civilização. O foco permanente no futuro, no entanto, perpetua a negação do presente e, consequentemente, a infelicidade sinalizada pelas tensões e pela insegurança. A sanidade da humanidade pede o “delírio” de rompermos um padrão mental que nos remete continuamente a outro lugar em busca de uma “situação de vida” enquanto a vida está aqui e agora. Um delírio que nos revele o engano dos sentidos e a loucura do corpo e nos devolva a verdade silenciosa a que se refere o belo poema de Cecília Meireles:
“Os teus ouvidos estão enganados / E os teus olhos / E as tuas mãos / E a tua boca anda mentindo / Enganada pelos teus sentidos / Faze silêncio no teu corpo / E escuta-te / Há uma verdade silenciosa dentro de ti / A verdade sem palavras / Que procuras inutilmente / Há tanto tempo / Pelo teu corpo, que enlouqueceu.”
Isso é fato. Mas a cultura nega, a mente nega. Vivemos no tempo psicológico, negando o presente, e o preço pago por essa distração é cada vez mais alto na teia de miragens a que nos aprisionamos. O desconforto, a ansiedade, o estresse e todas as manifestações de medo resultam do excesso de futuro em nossas vidas, lembra Tolle. A culpa, o ressentimento, a tristeza, a injustiça e a impossibilidade do perdão são sintomas do excesso de passado. Não existem problemas no agora, todos eles acontecem no tempo, seja este de 1 minuto ou 10 anos.
É difícil compreender esse conceito quando nos encontramos atolados nas ocupações e obrigações de uma rotina construída na linha do tempo psicológico. Os negócios, a política, os relacionamentos e, principalmente, a salvação da alma - bandeira das religiões predominantes - estão apoiados na expectativa de uma felicidade que está por vir e em nome da qual, muitas vezes, atropelamos a vida e as pessoas com o uso de meios abomináveis. O próprio Tolle, um alemão de carreira brilhante na Universidade Cambridge, na Inglaterra, só percebeu isso ao mergulhar numa crise existencial e saltar para fora do sistema, refazendo o caminho de desapego e introspecção de sábios e loucos até descobrir o seu novo lugar no mundo.
Podemos alegar que o foco no futuro estabelece a esperança. E a esperança nos leva a prosseguir. Foi assim que chegamos até aqui, edificando a civilização. O foco permanente no futuro, no entanto, perpetua a negação do presente e, consequentemente, a infelicidade sinalizada pelas tensões e pela insegurança. A sanidade da humanidade pede o “delírio” de rompermos um padrão mental que nos remete continuamente a outro lugar em busca de uma “situação de vida” enquanto a vida está aqui e agora. Um delírio que nos revele o engano dos sentidos e a loucura do corpo e nos devolva a verdade silenciosa a que se refere o belo poema de Cecília Meireles:
“Os teus ouvidos estão enganados / E os teus olhos / E as tuas mãos / E a tua boca anda mentindo / Enganada pelos teus sentidos / Faze silêncio no teu corpo / E escuta-te / Há uma verdade silenciosa dentro de ti / A verdade sem palavras / Que procuras inutilmente / Há tanto tempo / Pelo teu corpo, que enlouqueceu.”
Não chore pela Argentina
Publicado na edição de 22/02/11
Numa madrugada de julho de 1976, eu estava em um ônibus que saíra de Mendoza, aos pés da cordilheira dos Andes, para Buenos Aires quando, próximo à cidade de Córdoba, vi a cara da última ditadura militar argentina. Detido num trecho deserto da rodovia, o veículo foi revistado por uma patrulha do Exército, os passageiros arrancados do sono para exibir documentos e pertences tendo apenas as estrelas por testemunhas. Qualquer coisa poderia ter acontecido ali, embora na ocasião eu, ainda jovem, não me tenha dado conta do perigo. Das ditaduras que assolaram o Cone Sul nos estertores da Guerra Fria, a da Argentina foi a mais sanguinolenta, gerando cerca de 30 mil desaparecidos.
Lembrei desse episódio há dez dias quando, de bermuda e camiseta, posei para foto no gabinete da presidenta Cristina Kirchner na Casa Rosada, em Buenos Aires. Foi algo inusitado. Outra vez num ônibus, eu retornava do El Caminito, reduto turístico-boêmio montado em antigos cortiços do bairro de La Boca, quando ao passar pela Plaza de Mayo deparei com turistas cruzando o arco do palácio presidencial. Desci, juntei-me ao grupo e, após submeter-me a um detector de metais, logo estava percorrendo os salões da área térrea - uma galeria de heróis e personalidades latino-americanos na qual o Brasil é representado por Tiradentes e Getúlio Vargas -, sem que ninguém me pedisse sequer um documento. É possível ir além, e eu fui. Os próprios “granaderos” da Presidência, equivalentes aos Dragões da Independência do Exército brasileiro, conduzem os visitantes à pompa e ao esplendor do segundo piso com o seu salão branco das grandes recepções, o salão norte das reuniões ministeriais, o gabinete do chefe do governo e o grande balcão de onde Eva Perón e todos os presidentes civis falaram ao povo e onde, em 1996, Madonna cantou Don´t cry for me, Argentina durante a filmagem da ópera-rock Evita.
Imagino o que se passa na cabeça e no coração de um argentino ao contemplar a Plaza de Mayo dessa varanda histórica, se até um estrangeiro, como eu, emociona-se ao cotejar a praça hoje ocupada pacificamente por grupos de pressão com o logradouro asséptico e lúgubre que conheci há 35 anos, sob a mira de metralhadoras do poder usurpado. A paz de uma ditadura, mesmo na ausência de cadáveres e presos de consciência, é sempre a paz das sepulturas. A vida emerge da diversidade que, no ambito político, é assegurada pela democracia, em que pese suas fragilidades e defeitos em permanente processo de depuração. Nela, sob o império da lei, os interesses contraditórios coexistem debaixo de uma unidade de princípios e a força das armas se curva ao estado de direito.
É emblemático, na visita à Casa Rosada, que a postura marcial dos guardas engalanados se transforme em gentilezas, sorrisos e fotos com os visitantes. E é auspicioso para qualquer um reencontrar Buenos Aires em novo momento de pujança e liberdades que confirmam a metrópole como um dos melhores pólos culturais do mundo e um grande destino turístico.
Lembrei desse episódio há dez dias quando, de bermuda e camiseta, posei para foto no gabinete da presidenta Cristina Kirchner na Casa Rosada, em Buenos Aires. Foi algo inusitado. Outra vez num ônibus, eu retornava do El Caminito, reduto turístico-boêmio montado em antigos cortiços do bairro de La Boca, quando ao passar pela Plaza de Mayo deparei com turistas cruzando o arco do palácio presidencial. Desci, juntei-me ao grupo e, após submeter-me a um detector de metais, logo estava percorrendo os salões da área térrea - uma galeria de heróis e personalidades latino-americanos na qual o Brasil é representado por Tiradentes e Getúlio Vargas -, sem que ninguém me pedisse sequer um documento. É possível ir além, e eu fui. Os próprios “granaderos” da Presidência, equivalentes aos Dragões da Independência do Exército brasileiro, conduzem os visitantes à pompa e ao esplendor do segundo piso com o seu salão branco das grandes recepções, o salão norte das reuniões ministeriais, o gabinete do chefe do governo e o grande balcão de onde Eva Perón e todos os presidentes civis falaram ao povo e onde, em 1996, Madonna cantou Don´t cry for me, Argentina durante a filmagem da ópera-rock Evita.
Imagino o que se passa na cabeça e no coração de um argentino ao contemplar a Plaza de Mayo dessa varanda histórica, se até um estrangeiro, como eu, emociona-se ao cotejar a praça hoje ocupada pacificamente por grupos de pressão com o logradouro asséptico e lúgubre que conheci há 35 anos, sob a mira de metralhadoras do poder usurpado. A paz de uma ditadura, mesmo na ausência de cadáveres e presos de consciência, é sempre a paz das sepulturas. A vida emerge da diversidade que, no ambito político, é assegurada pela democracia, em que pese suas fragilidades e defeitos em permanente processo de depuração. Nela, sob o império da lei, os interesses contraditórios coexistem debaixo de uma unidade de princípios e a força das armas se curva ao estado de direito.
É emblemático, na visita à Casa Rosada, que a postura marcial dos guardas engalanados se transforme em gentilezas, sorrisos e fotos com os visitantes. E é auspicioso para qualquer um reencontrar Buenos Aires em novo momento de pujança e liberdades que confirmam a metrópole como um dos melhores pólos culturais do mundo e um grande destino turístico.
Passeio na rambla
Publicado na edição de 15/02/11
A natureza foi generosa com Montevidéu. Esculpiu sua orla em recortes magníficos onde cabem nove belas praias fluviais, que os uruguaios souberam valorizar ornamentando-as com a imponente "rambla", uma via costeira de 22 quilômetros de extensão, de faixas amplas e calçadão sinalizado. Ela é via de acesso fácil a qualquer bairro e também ponto de encontro e de comemorações. Em alguns trechos lembra Copacabana: edifícios a perder de vista e muitas áreas para práticas esportivas. Mas não é mar a vastidão de águas que abraça a cidade. É apenas o estuário do rio da Prata, que ali é ainda reforçado pelo encontro com o rio Uruguai. Lindo cenário.
A natureza foi dura com Montevidéu. Colocou-a entre Buenos Aires, uma metrópole de múltiplos atrativos, e Punta del Leste, um balneário que há décadas seduz os endinheirados. A capital do Uruguai ficou esquecida, principalmente pelos brasileiros, que assim desperdiçam a oportunidade de conhecer um pedaço da América hispânica profundamente ligado à nossa história.
A natureza foi dura com Montevidéu. Colocou-a entre Buenos Aires, uma metrópole de múltiplos atrativos, e Punta del Leste, um balneário que há décadas seduz os endinheirados. A capital do Uruguai ficou esquecida, principalmente pelos brasileiros, que assim desperdiçam a oportunidade de conhecer um pedaço da América hispânica profundamente ligado à nossa história.
Depois dos anos de glamour, que consolidaram seu desenho europeu e sua arquitetura suntuosa, com muita art dècor, a cidade parou no tempo, sua população envelheceu nas décadas de 70 e 80. Mas isso está mudando.
Minha primeira vez em Montevidéu foi em 1976, no auge do período depressivo. Encontrei uma cidade estagnada onde circulavam ônibus e automóveis da década de 30, eternamente restaurados em oficinas caseiras. Havia desemprego e tristeza no olhar das pessoas. Como os demais países do Cone Sul na época, o Uruguai vivia sob ditadura militar e toda expressão de opinião e sentimento era contida. Predominava a nostalgia de uma nação orgulhosa de ter sediado a primeira Copa do Mundo e vivido o fausto dos anos 50.
Só retornei agora e me surpreendi. Montevidéu renasceu. Ao lado da Ciudad Vieja, restaurada e pronta para ser desfrutada em toda a sua beleza arquitetônica, uma cidade nova, efervescente sem perder a classe das atitudes recatadas e do senso de organização, reflete novos conceitos sob uma atmosfera política e econômica positiva.
Montevidéu tem hoje um dos aeroportos mais bonitos do mundo, já dispõe de shoppings a altura de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, grandes hotéis estão chegando e a vida noturna se agita... Mas não é isso o que me encanta.
Minha primeira vez em Montevidéu foi em 1976, no auge do período depressivo. Encontrei uma cidade estagnada onde circulavam ônibus e automóveis da década de 30, eternamente restaurados em oficinas caseiras. Havia desemprego e tristeza no olhar das pessoas. Como os demais países do Cone Sul na época, o Uruguai vivia sob ditadura militar e toda expressão de opinião e sentimento era contida. Predominava a nostalgia de uma nação orgulhosa de ter sediado a primeira Copa do Mundo e vivido o fausto dos anos 50.
Só retornei agora e me surpreendi. Montevidéu renasceu. Ao lado da Ciudad Vieja, restaurada e pronta para ser desfrutada em toda a sua beleza arquitetônica, uma cidade nova, efervescente sem perder a classe das atitudes recatadas e do senso de organização, reflete novos conceitos sob uma atmosfera política e econômica positiva.
Montevidéu tem hoje um dos aeroportos mais bonitos do mundo, já dispõe de shoppings a altura de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, grandes hotéis estão chegando e a vida noturna se agita... Mas não é isso o que me encanta.
Prefiro o ritmo da Montevidéu sobrevivente na Ciudad Vieja e em alguns trechos da rambla, repleta de estilo e arte, ainda não invadida por hordas de turistas e ciosa de seus pequenos museus e galerias. Uma Montevidéu tranquila onde se pode perambular sem pressa, só às vezes provocado pelo jazz, tango uruguaio ou candombe (a batida afro local) emergente de algum bar ou casa de show.
A novidade que me atrai? O buquebus, o ferry boat moderno e confortável que liga Montevidéu a Buenos Aires em 3h30 de travessia do imenso Prata. Provei. Uma delícia. E foi assim que, na manhã de um domingo ensolarado, pude teclar este texto à sombra do fantástico bulevar da avenida 9 de Julio, entre o Obelisco e o Teatro Colón, no centro de Buenos Aires. Mas isso já é outra história...
A novidade que me atrai? O buquebus, o ferry boat moderno e confortável que liga Montevidéu a Buenos Aires em 3h30 de travessia do imenso Prata. Provei. Uma delícia. E foi assim que, na manhã de um domingo ensolarado, pude teclar este texto à sombra do fantástico bulevar da avenida 9 de Julio, entre o Obelisco e o Teatro Colón, no centro de Buenos Aires. Mas isso já é outra história...
Calamidade moral
Publicado na edição de 08/02/11
A jovem magérrima, vestindo apenas uma camiseta, aproxima-se do ponto de ônibus, em São Paulo, e pede um cigarro. Não fala, só balbucia. Os olhos verdes, sem brilho, imploram. As pessoas se afastam e murmuram críticas. Minutos depois, a menina cai, treme, agita-se. Então, do meio do pequeno grupo, a voz de um rapaz, limpo e bem vestido, se destaca. "Tem gente que não sabe viver", diz, contrariado. "Eu também uso crack, mas nunca fiquei assim, largado pelas ruas".
É uma cena emblemática. São Paulo, nossa megalópole, parece resignada com a devastação de corpos e almas promovida pela banalização do consumo e do negócio das drogas. Há os que "sabem" cachimbar e os que "não sabem", os que viram lixo humano e os que permanecem aninhados na família e no emprego...
Os "nóias" paulistanos estão em toda parte. Para os mais pobres, a feira livre das drogas no centro e em pontos periféricos funciona dia e noite. Ruas inteiras tomadas por desvalidos na busca alucinada das pedras da morte. Nos bairros chiques e nas cercanias das empresas, o delivery do vício garante abastecimento com comodidade.
São cenas fortes do lado obscuro de nossas grandes cidades que, lamentavelmente, tem sido imitadas no resto do país. Acabo de chegar a Porto Alegre e eis que vejo na tevê as mesmas imagens a que se acostumaram o Rio e Sampa: postos de vendas de drogas funcionando abertamente, clientela de jovens e senhores, olheiros e policiais corruptos dando cobertura. Com variações que sinalizam o nível de gravidade, a situação se repete em Natal, nas outras capitais e até em cidadezinhas do Pará, onde a profissionalização do tráfico implantou a violência e o comando territorial de gangues.
Infelizmente, ainda não conseguimos perceber a verdadeira natureza e a dimensão do problema. Não estamos diante de um caso de polícia, embora se faça necessária a atuação policial para conter efeitos colaterais, como a violência. contra pessoas e patrimônios. Não se trata de uma questão exclusiva de estado, embora a incompetência e a leniência das instituições tenham contribuido para o seu agravamento. A ameaça que nos cerca é uma calamidade moral da qual não sairemos até entendermos que a solução efetiva está no âmbito dos valores, responsabilidade individual e coletiva que precisamos assumir.
O mal em si não é o uso de maconha, cocaína, ecstase ou crack. Isso é apenas um dos sintomas da doença real da alma, sufocada no egoísmo e no individualismo. A vida nesse contexto será sempre o reino da carência que, em vão, tentamos suprir ou disfarçar com o apego a sensações prazerozas. Afastamo-nos da serenidade, onde florescem o sentido e a partilha, e nos perdemos em movimentos reativos que nos aprisionam a acumulação compulsiva, consumo compulsivo, sexo compulsivo, droga-adição compulsiva...
A cura da doença social do crack e demais drogas não será diferente da de qualquer dependente individual: terá de começar pela consciência de que somos todos viciados.
Os cariocas
Publicado na edição de 01/02/11
Há 30 anos, em Manaus, ouvi de um turista francês que "nada simboliza tão bem o Brasil quanto o povo carioca". Ele estava encantado com o bom-humor das pessoas no Rio e seu sorriso fácil, com o ar de festa permanente nos botequins e praias e, sobretudo, pelo jeito de conversar dessa gente e seu sotaque inconfundível. Se não bastasse, tudo isso acontecia em um dos mais belos cenários naturais do planeta.
Achei-o exagerado. Carioca é uma designação gentílica aplicada apenas a quem nasce na cidade do Rio de Janeiro e aos hábitos e estilos cultivados nessa região. Não seria demais confundir o Rio com o Brasil e suas incontáveis diversidades? Nos anos seguintes, percebi que o estrangeiro estava certo. O Rio pode não ser a cara do Brasil, mas espelha parte do painel da nacionalidade que os próprios cariocas ajudaram a construir, com sua influência político-cultural sobre o país - soberana enquanto o Rio foi a capital brasileira e ainda hoje presente em nossas vidas, apesar do predomínio de São Paulo, atual locomotiva da economia, da política e da cultura.
Como todo nordestino de minha geração, sonhei com o Rio na juventude. Nas madrugadas, acompanhava pelas ondas curtas das rádios Globo e Tupi a vida da cidade que me parecia outro mundo, eternamente vibrante, contrastando com a modorra de uma Natal que dormia cedo. Em 1970, meu sonho foi realizado de uma forma inesquecível: depois de viajar durante dias numa velha kombi, cruzei de balsa a baía de Guanabara e deslumbrei-me com a visão da metrópole margeando a montanha, adornada de cores que minha imaginação de adolescente acrescentava. Nos dias seguintes, anotaria no coração as mesmas impressões do turista francês, ampliadas por meu espanto provinciano. Mas... naquela mesma viagem conheci São Paulo e minha paixão se dividiu.
Como todo nordestino de minha geração, sonhei com o Rio na juventude. Nas madrugadas, acompanhava pelas ondas curtas das rádios Globo e Tupi a vida da cidade que me parecia outro mundo, eternamente vibrante, contrastando com a modorra de uma Natal que dormia cedo. Em 1970, meu sonho foi realizado de uma forma inesquecível: depois de viajar durante dias numa velha kombi, cruzei de balsa a baía de Guanabara e deslumbrei-me com a visão da metrópole margeando a montanha, adornada de cores que minha imaginação de adolescente acrescentava. Nos dias seguintes, anotaria no coração as mesmas impressões do turista francês, ampliadas por meu espanto provinciano. Mas... naquela mesma viagem conheci São Paulo e minha paixão se dividiu.
Foi com a "paulicéia desvairada" que estabeleci vínculos, lá vivendo a partir dos 23 anos de idade. Infelizmente não amei o Rio quando, finalmente, morei no Rio, uma experiência profissional e pessoal que fortaleceu ainda mais meus laços com Sampa. É natural. No dia a dia das pessoas e das comunidades, o glamour desaparece e aí você descobre se falam ou não a mesma língua. Meu perfil combina melhor com o dos paulistanos, mas jamais deixei de curtir o nosso cartão de visita, lindo e sedutor.
Agora mesmo estou no Rio e, como faço em toda cidade, vou onde o povo está. Muita coisa mudou, mas as conversas nos botequins ainda são gritadas, cheias de "s" e "ch", principalmente na zona norte... Os homens continuam contando vantagens e as mulheres exibindo sensualidade, ainda que se tenham tornado um tanto grosseiras e agressivas... Todo mundo é técnico de futebol e sempre se ouve alguma explicação mirabolante para os atos da política... Esbanja-se chacotas e, com elas, preconceitos... Há toques, tapinhas e um jeitinho mal disfarçado de levar vantagem financeira ou obter um privilégio...
Tiro o chapéu para o francês. Na malandragem carioca, esconde-se um pedaço da alma do Brasil.
Este mundo é meu
Publicado na edição de 25/01/11
O homem é um viajante. Começamos nossa história como nômades, migrando das adversidades climáticas da África, conforme supõe a ciência hoje, em direção à Europa e outras regiões do planeta. Durante milhões de anos fomos apenas animais errantes, em busca de água e alimento até que o surgimento da agricultura estabelecesse uma relaçao mais duradoura entre nós e o chão que garante a nossa sobrevivência.
Com o advento das cidades e, posteriormente, do estado, essa relação telúrica foi aprofundada, sem que abandonássemos completamente nosso impulso de correr o mundo. Continuamos a migrar movidos pela dureza das condições naturais e pela escassez de trabalho, como fizeram milhões de nordestinos entre o final do século 19 e meados do século 20, em direção ao sudeste do país, e as levas de brasileiros que, legal ou clandestinamente, se instalaram nos Estados Unidos e na Europa entre as décadas de 1970 e 1990. Além disso, descobrimos o prazer de viajar por viajar, a viagem de lazer que durante séculos permaneceu como um privilégio dos poderosos e endinheirados e, finalmente, foi democratizada pelas facilidades de recursos e os novos estilos da pós-modernidade.
Para mim, viajar, a trabalho ou por puro prazer, é um barato. Agora mesmo escrevo esta coluna em trânsito. Estou viajando no rumo sul. Isso mesmo. Sem destino determinado. Provavelmente chegarei a Montevidéu, no Uruguai, e, de lá, cruzarei o estuário do rio da Prata de barco até Buenos Aires. Viajar é um curso sobre vida e convivência e um recurso pedagógico para que aceitemos diferenças e nos livremos de preconceitos . Mais: viajar facilita o processo de autoconhecimento. No espelho do próximo, acabamos percebendo nuances de nosso ser.
Algumas das minhas melhores descobertas sobre mim, aconteceram em viagens pelo Brasil e outros 28 países em cinco continentes. E, principalmente, naquelas ocasiões em que perambulei como mochileiro - e não como jornalista, com o apoio logístico de empresas.
Algumas das minhas melhores descobertas sobre mim, aconteceram em viagens pelo Brasil e outros 28 países em cinco continentes. E, principalmente, naquelas ocasiões em que perambulei como mochileiro - e não como jornalista, com o apoio logístico de empresas.
O mochileiro, imagino, é o viajante que curte integralmente o prazer de dar asas à aspiração conhecer o mundo. Em suas andanças prevalece a magia da surpresa e do contato humano, sem a pressa, a superficialidade e a manipulação comercial dos chamados pacotes turísticos. O mochileiro é livre ou não será mochileiro. Roteiros e horários rígidos, tensão, ansiedade e submissão a um programa de compras não combinam com esse jeito descolado de viajar.
Há quem teme colocar a mochila nas costas e aventurar-se por mares nunca dantes navegados. Alega-se que há violência e malícia em toda parte, muitos perigos. Exagero de nosso tempo de medo, subproduto de nosso egoísmo. No Brasil ou na Bolívia, nos Estados Unidos ou na Índia, na Nova Zelândia ou no Marrocos encontrei gente. Gente como a gente. Muita gente amável e pouca gente grosseira. Gente que me esclareceu com paciência e até abriu as portas de suas casas para mim. Gente que me levou a envergonhar-me de ser tão desconfiado e arredio diante de um humano.
O segredo e o sagrado
Publicado na edição de 18/01/11
O sagrado diz respeito à essência, à pureza, à vida em sua manifestação espontânea. Aprendemos a vê-lo como algo separado, um modo de dar limite ao ilimitado e explicar o inexplicável. Foi assim que, no passado, criamos representações de sua emergência, como totens e ritos que nos ajudam a recordar a origem, a energia da criação e a totalidade em que estamos imersos.
Em nome da razão, dessacralizamos o mundo, uma opção onerosa para indivíduos e sociedades. Sobrou o profano, o trivial que, sem a referência do sagrado, torna-se experiência de dissociação na área periférica do ego, reino caótico de conflitos em que predominam o egoísmo e a insegurança.
Mas isso é teoria. Na prática, nada se mantém sem seu oposto. O profano pede a existência de algo que contracene com a superficialidade de suas manifestações, ainda que como farsa ou arremedo da plenitude do sagrado. E é aí que entra o segredo, o artifício com que emulamos a sacralidade, porém atados às mesquinharias cotidianas. Em todos os tempos, multidões correram atrás de segredos, fenômeno recorrente cuja fonte mais concorrida são as instituições religiosas manipuladoras. A diferença hoje é que isso assumiu uma proporção colossal, com consequências desagregadoras. Em sua falsa contraposição ao materialismo, o segredo escora a nova mitologia na qual o homem aparece como senhor de um universo capitalista e consumista que o abastece de bens e independência.
O sagrado é o oculto que permeia e une tudo. Pode ser sentido, vivido, mas jamais conhecido e controlado. O segredo é para ser revelado e aprendido, servindo aos interesses da consciência utilitarista. É a chave do sucesso, da realização dos desejos. Imaginamo-lo apoiados no antropocentrismo e no devaneio egóico, como lembra o doutor em literatura hebraica Nilton Bonder. Ou seja, a partir da crença de que a humanidade é o centro e propósito máximo do universo, eu sou o centro da humanidade e o propósito máximo de mim é o meu desejo. Qualquer desejo. Há alguns meses, ouvi um rapaz dizer, entusiasmado, que aprendera a usar o poder da mente depois de assistir ao filme O Segredo: “Agora, quando vou ao shopping, mentalizo uma baia do estacionamento e sempre encontro um lugar livre para o meu carro”...
O segredo existe sempre no nível pessoal e é marcado pela carência e pela submissão ao querer, o que descarta a surpresa, o encanto, a espontaneidade, a simplicidade, a bênção. É a própria antessala do tédio e do medo. O sagrado acontece no nível transpessoal, no qual discernimos com clareza os sinais da vida, os caminhos livres e os interditados. Só nesse nível podemos ser íntegros e justos, pois nele conseguimos trafegar na contramão dos interesses pessoais, o grande entrave à retidão e à justiça.
Faz falta, muita falta, a noção do sagrado em nossos dias. Mas substituí-lo pela farsa do segredo apenas nos ilude e mascara o alto preço que pagamos em vão por nosso materialismo. O segredo e sua intenção egoística nos separam e nos isolam do outro e do universo na maldição da carência.
Em nome da razão, dessacralizamos o mundo, uma opção onerosa para indivíduos e sociedades. Sobrou o profano, o trivial que, sem a referência do sagrado, torna-se experiência de dissociação na área periférica do ego, reino caótico de conflitos em que predominam o egoísmo e a insegurança.
Mas isso é teoria. Na prática, nada se mantém sem seu oposto. O profano pede a existência de algo que contracene com a superficialidade de suas manifestações, ainda que como farsa ou arremedo da plenitude do sagrado. E é aí que entra o segredo, o artifício com que emulamos a sacralidade, porém atados às mesquinharias cotidianas. Em todos os tempos, multidões correram atrás de segredos, fenômeno recorrente cuja fonte mais concorrida são as instituições religiosas manipuladoras. A diferença hoje é que isso assumiu uma proporção colossal, com consequências desagregadoras. Em sua falsa contraposição ao materialismo, o segredo escora a nova mitologia na qual o homem aparece como senhor de um universo capitalista e consumista que o abastece de bens e independência.
O sagrado é o oculto que permeia e une tudo. Pode ser sentido, vivido, mas jamais conhecido e controlado. O segredo é para ser revelado e aprendido, servindo aos interesses da consciência utilitarista. É a chave do sucesso, da realização dos desejos. Imaginamo-lo apoiados no antropocentrismo e no devaneio egóico, como lembra o doutor em literatura hebraica Nilton Bonder. Ou seja, a partir da crença de que a humanidade é o centro e propósito máximo do universo, eu sou o centro da humanidade e o propósito máximo de mim é o meu desejo. Qualquer desejo. Há alguns meses, ouvi um rapaz dizer, entusiasmado, que aprendera a usar o poder da mente depois de assistir ao filme O Segredo: “Agora, quando vou ao shopping, mentalizo uma baia do estacionamento e sempre encontro um lugar livre para o meu carro”...
O segredo existe sempre no nível pessoal e é marcado pela carência e pela submissão ao querer, o que descarta a surpresa, o encanto, a espontaneidade, a simplicidade, a bênção. É a própria antessala do tédio e do medo. O sagrado acontece no nível transpessoal, no qual discernimos com clareza os sinais da vida, os caminhos livres e os interditados. Só nesse nível podemos ser íntegros e justos, pois nele conseguimos trafegar na contramão dos interesses pessoais, o grande entrave à retidão e à justiça.
Faz falta, muita falta, a noção do sagrado em nossos dias. Mas substituí-lo pela farsa do segredo apenas nos ilude e mascara o alto preço que pagamos em vão por nosso materialismo. O segredo e sua intenção egoística nos separam e nos isolam do outro e do universo na maldição da carência.
A-ha! Eureka! Achei!
Publicado na edição de 11/01/11
A imagem mais emblemática de um insight (percepção repentina) é, talvez, o episódio da maçã de Newton - lenda para alguns, fato para outros. Conta-se que o gênio da física clássica conseguiu finalmente estruturar sua teoria sobre a lei da gravidade ao observar uma fruta caindo enquanto descansava sob uma macieira. Esse acontecimento rotineiro, assistido antes por milhões de pessoas sem que lhes ocorresse nenhum pensamento especial, na mente obstinada do cientista foi o estopim de uma revolução no conhecimento. O detalhe surpreendente é que isso ocorreu em um instante de relaxamento, provavelmente depois de uma etapa de intensa ebulição intelectual e cálculos.
Essa história é ilustrativa daquilo que chamamos criatividade. O fenômeno criativo não é mera maquiagem ou a transformação do que já conhecemos. É a produção de algo novo em um contexto inteiramente novo. O aspecto fundamental aí é a novidade do contexto, o modo como as idéias se entrelaçam. Há muita “novidade” nas vitrines das lojas, nas propostas dos políticos e nas idéias dos formadores de opinião... e, no entanto, tudo apoiado em velhos conceitos reembalados em artimanhas modernas. Como na canção de Belchior, nosso retrato informa: “vivemos como os nossos pais”.
Somos criativos quando descobrimos outra maneira de interpretar e lidar com as possibilidades. Ou seja: a criatividade pressupõe o rompimento de algum paradigma, um modelo a partir do qual construímos nossa realidade. Não é fácil. O apego ao conhecido é o principal entrave a que enxerguemos de outra perspectiva, lançando outro olhar sobre o universo e seus fenômenos.
Na rotina de nossas elaborações, comportamo-nos como animais de carga aos quais se aplica viseiras para impedir que vejam ao redor. As possibilidades existem, estão no inconsciente coletivo como realidade não-local a permear todo o cosmo, mas as viseiras dos padrões aprendidos nos aprisionam a um contexto, não permitindo a visualização de alternativas. Como romper essa limitação e saltar para fora do sistema? Esforço e relaxamento contribuem para isso.
Podemos minimizar o condicionamento da mente assumindo uma postura consciente de abertura. Entrar em contato com algo a que não fomos submetidos antes, como, por exemplo, ler sobre uma nova idéia, pode provocar uma mudança de contextos em nosso pensamento acerca de um assunto não relacionado. É a ação de um estímulo não aprendido gerando novos entrelaçamentos de idéias. O mesmo pode acontecer quando conversamos e trabalhamos com outras pessoas.
A experiência de Newton, porém, realça a importância de uma mente desplugada da rotina dos pensamentos, conceitos e hábitos, como acontece no relaxamento, porta de acesso à observação plena. No espaço ampliado entre um pensamento e outro, crescem as chances do insight, da percepção do novo. Finalmente podemos distinguir o que permanecia encoberto pela viseira dos padrões ou pela ansiedade da busca. A-ha! Eureka! Parar, relaxar, meditar ou mesmo dormir pode fazer a diferença.
Essa história é ilustrativa daquilo que chamamos criatividade. O fenômeno criativo não é mera maquiagem ou a transformação do que já conhecemos. É a produção de algo novo em um contexto inteiramente novo. O aspecto fundamental aí é a novidade do contexto, o modo como as idéias se entrelaçam. Há muita “novidade” nas vitrines das lojas, nas propostas dos políticos e nas idéias dos formadores de opinião... e, no entanto, tudo apoiado em velhos conceitos reembalados em artimanhas modernas. Como na canção de Belchior, nosso retrato informa: “vivemos como os nossos pais”.
Somos criativos quando descobrimos outra maneira de interpretar e lidar com as possibilidades. Ou seja: a criatividade pressupõe o rompimento de algum paradigma, um modelo a partir do qual construímos nossa realidade. Não é fácil. O apego ao conhecido é o principal entrave a que enxerguemos de outra perspectiva, lançando outro olhar sobre o universo e seus fenômenos.
Na rotina de nossas elaborações, comportamo-nos como animais de carga aos quais se aplica viseiras para impedir que vejam ao redor. As possibilidades existem, estão no inconsciente coletivo como realidade não-local a permear todo o cosmo, mas as viseiras dos padrões aprendidos nos aprisionam a um contexto, não permitindo a visualização de alternativas. Como romper essa limitação e saltar para fora do sistema? Esforço e relaxamento contribuem para isso.
Podemos minimizar o condicionamento da mente assumindo uma postura consciente de abertura. Entrar em contato com algo a que não fomos submetidos antes, como, por exemplo, ler sobre uma nova idéia, pode provocar uma mudança de contextos em nosso pensamento acerca de um assunto não relacionado. É a ação de um estímulo não aprendido gerando novos entrelaçamentos de idéias. O mesmo pode acontecer quando conversamos e trabalhamos com outras pessoas.
A experiência de Newton, porém, realça a importância de uma mente desplugada da rotina dos pensamentos, conceitos e hábitos, como acontece no relaxamento, porta de acesso à observação plena. No espaço ampliado entre um pensamento e outro, crescem as chances do insight, da percepção do novo. Finalmente podemos distinguir o que permanecia encoberto pela viseira dos padrões ou pela ansiedade da busca. A-ha! Eureka! Parar, relaxar, meditar ou mesmo dormir pode fazer a diferença.
A praga da normose
Publicado na edição de 02/11/10
No mundo inteiro e, mais intensamente em algumas sociedades, predomina a crença de que tudo o que a maioria das pessoas sente, acredita ou faz deve ser considerado normal e, assim, deve servir de guia para o comportamento geral e de roteiro para a educação. Foi essa crença que inspirou os cuidados de nossos pais, nos dias de nossa infância, e é nela que se apóiam, hoje, os nossos esforços para ajudar filhos e netos a encontrarem um lugar ao sol. Mais: essa convicção permeia e dirige todo o aparato social, que tende a discriminar e excluir tudo e todos que se movem na contramão do habitual.
Parece candido e legítimo, mas não é. Em alguns casos, é a crueldade que sufoca a vida e a beleza de sua expressão criativa. Afinal, nem todas as normas adotadas por conformidade são benevolentes e muitas provocam sofrimentos, doenças e morte. A normalidade, do jeito que a encaramos, é patogênica e a prova está em transtornos pessoais aceitos, como a soberba e a avareza, nas guerras e na destruição dos ecossistemas, tudo isso validado pelo consenso social.
Nossa fixação em ser normal é neurose. Ou, com mais precisão, é normose, como bem o disseram os pensadores Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil, os formuladores desse novo conceito. A normose é uma praga que se dissemina rapidamente em nossa época de comunicação massiva, ídolos e estereótipos forjados por técnicas de marketing, indústria de tendências e hábitos enraizados na sofreguidão dos sentidos e na avidez pela posse. Estamos cercados de modelos de homem ideal, mulher ideal, casal ideal, vestuário ideal, sociedade ideal... padrões que nos levam a perder o contato com a humanidade real e a sufocar o nosso próprio ser e suas aptidões. O normótico é alguém que vive a tragédia da negação de si mesmo e de sua originalidade, transmutado em zumbi a vagar pela noite dos modismos em busca de um sentido jamais alcançado.
A normose se sustenta no medo inconsciente que se opõe ao desejo primordial de abertura, tão claramente manifestado na curiosidade e na disposição de experimentar das crianças tenras, ainda não engessadas nos condicionamentos culturais. É o grande medo do desconhecido ou do que pode não ser aprovado em consenso, eterna fonte de ansiedade, angústia e, não raro, terror. É uma força negativa que nos induz a procurar proteção nas posturas padronizadas e nos preconceitos, ingredientes que mantem a coesão grupal na ausência do amor - sempre inclusivo e libertário - e de outros valores éticos.
Em princípio, instalar-se nesses falsos abrigos pode gerar a ilusão de que encontramos o rumo e a pacificação interior, mas esse efeito costuma durar pouco. Renunciar à autenticidade e aos dons que a vida nos confiou sempre resulta em tumulto interno e em torno de nós e, nesse caso, a tensão e o conflito darão o tom de nossa existência e de nossas relações com as pessoas e o mundo. Nosso perfil ajustado e validado será tão somente o inferno no qual arderá, em fogo brando e interminável, o melhor de nossa essência.
Parece candido e legítimo, mas não é. Em alguns casos, é a crueldade que sufoca a vida e a beleza de sua expressão criativa. Afinal, nem todas as normas adotadas por conformidade são benevolentes e muitas provocam sofrimentos, doenças e morte. A normalidade, do jeito que a encaramos, é patogênica e a prova está em transtornos pessoais aceitos, como a soberba e a avareza, nas guerras e na destruição dos ecossistemas, tudo isso validado pelo consenso social.
Nossa fixação em ser normal é neurose. Ou, com mais precisão, é normose, como bem o disseram os pensadores Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil, os formuladores desse novo conceito. A normose é uma praga que se dissemina rapidamente em nossa época de comunicação massiva, ídolos e estereótipos forjados por técnicas de marketing, indústria de tendências e hábitos enraizados na sofreguidão dos sentidos e na avidez pela posse. Estamos cercados de modelos de homem ideal, mulher ideal, casal ideal, vestuário ideal, sociedade ideal... padrões que nos levam a perder o contato com a humanidade real e a sufocar o nosso próprio ser e suas aptidões. O normótico é alguém que vive a tragédia da negação de si mesmo e de sua originalidade, transmutado em zumbi a vagar pela noite dos modismos em busca de um sentido jamais alcançado.
A normose se sustenta no medo inconsciente que se opõe ao desejo primordial de abertura, tão claramente manifestado na curiosidade e na disposição de experimentar das crianças tenras, ainda não engessadas nos condicionamentos culturais. É o grande medo do desconhecido ou do que pode não ser aprovado em consenso, eterna fonte de ansiedade, angústia e, não raro, terror. É uma força negativa que nos induz a procurar proteção nas posturas padronizadas e nos preconceitos, ingredientes que mantem a coesão grupal na ausência do amor - sempre inclusivo e libertário - e de outros valores éticos.
Em princípio, instalar-se nesses falsos abrigos pode gerar a ilusão de que encontramos o rumo e a pacificação interior, mas esse efeito costuma durar pouco. Renunciar à autenticidade e aos dons que a vida nos confiou sempre resulta em tumulto interno e em torno de nós e, nesse caso, a tensão e o conflito darão o tom de nossa existência e de nossas relações com as pessoas e o mundo. Nosso perfil ajustado e validado será tão somente o inferno no qual arderá, em fogo brando e interminável, o melhor de nossa essência.
Mundo feminino
Publicado na edição de 05/10/10
O mundo convencional tem a marca masculina. Foi construído a partir do impulso de conquista e domínio, sustentado pelo apetite voraz e uma obstinada busca de prazer físico. A palavra-chave nesse contexto é crescer. Graças a essas características saímos da caverna e superamos obstáculos, erigindo nossa civilização tecnológica para a qual nem mais o céu é o limite. Em compensação, a ânsia masculina de avançar e dominar nos levou a perder de vista o detalhe e o oculto, que abrigam a suave essência da vida, deixando-nos abandonados ao eterno combate. O resultado dessa “falha estrutural” é prático e óbvio. Manifesta-se em nós e ao nosso redor sob a forma de angústia, solidão, avareza, medo e violência.
Um mundo assim, tão masculino e tão áspero, só pode ser salvo por um toque feminino. Isso não significa necessariamente que as mulheres devem ocupar todos os postos de comando e, então, impor seus valores e sentimentos ao universo masculino. Agir desse modo seria perpetuar o traço machista que, durante milênios, as condenaram à submissão e ao confinamento. Na verdade, isso não tem a ver sequer com os aspectos exteriores dos gêneros, mas com algumas características psicológicas associadas à feminilidade: sensibilidade, emoção, capacidade de partilha, atenção a detalhes, intuição, espiritualidade... Um toque feminino no mundo contribuiria para balanceá-lo, suavizando a dureza e o rastro de dor e sangue de nossa pulsão por poder e controle.
A psicologia analítica de Carl Jung faz referência a dois aspectos inconscientes que se opõem à personalidade, equilibrando-a. No homem, esse fator arquetípico chama-se Anima ou, simplesmente, a porção mulher descrita na canção de Gilberto Gil. Ela é realçada, por exemplo, na alma dos artistas, dos religiosos e parte dos intelectuais e sufocada na dos guerreiros, dos competidores compulsivos e dos excessivamente lógicos. Na mulher, trata-se do Animus, o lado masculino que se expressa principalmente na coragem das mães e no ímpeto de correr riscos com soluções inovadoras. Tais aspectos também se manifestam no ambiente coletivo e mesmo cósmico, funcionando como polaridades presentes em variados fenômenos.
Em termos sociais, é fácil perceber que Anima continua a ser reprimido, apesar da ascensão funcional das mulheres, não raro ao preço de sacrifício de seus valores e sentimentos, justo aquilo que poderia melhorar o mundo. Mas há sinais otimistas em toda parte, que se refletem na expansão da arte e da espiritualidade em plena aridez do mercado e da racionalidade dogmática. Uma sinalização recente é a pesquisa sobre o perfil do homem urbano brasileiro, maduro e bem sucedido, encomendada pela revista Alfa, nova publicação masculina da Editora Abril. Esse é o homem que, ao contrário do passado, hoje considera como qualidades essenciais ser honesto, responsável e bom pai (em vez de ser rico e sedutor), não se incomoda em chorar e acha que a coisa mais importante na educação dos filhos é passar o senso de família (em vez da agressividade competitiva). Anima começa a mostrar a sua face...
Um mundo assim, tão masculino e tão áspero, só pode ser salvo por um toque feminino. Isso não significa necessariamente que as mulheres devem ocupar todos os postos de comando e, então, impor seus valores e sentimentos ao universo masculino. Agir desse modo seria perpetuar o traço machista que, durante milênios, as condenaram à submissão e ao confinamento. Na verdade, isso não tem a ver sequer com os aspectos exteriores dos gêneros, mas com algumas características psicológicas associadas à feminilidade: sensibilidade, emoção, capacidade de partilha, atenção a detalhes, intuição, espiritualidade... Um toque feminino no mundo contribuiria para balanceá-lo, suavizando a dureza e o rastro de dor e sangue de nossa pulsão por poder e controle.
A psicologia analítica de Carl Jung faz referência a dois aspectos inconscientes que se opõem à personalidade, equilibrando-a. No homem, esse fator arquetípico chama-se Anima ou, simplesmente, a porção mulher descrita na canção de Gilberto Gil. Ela é realçada, por exemplo, na alma dos artistas, dos religiosos e parte dos intelectuais e sufocada na dos guerreiros, dos competidores compulsivos e dos excessivamente lógicos. Na mulher, trata-se do Animus, o lado masculino que se expressa principalmente na coragem das mães e no ímpeto de correr riscos com soluções inovadoras. Tais aspectos também se manifestam no ambiente coletivo e mesmo cósmico, funcionando como polaridades presentes em variados fenômenos.
Em termos sociais, é fácil perceber que Anima continua a ser reprimido, apesar da ascensão funcional das mulheres, não raro ao preço de sacrifício de seus valores e sentimentos, justo aquilo que poderia melhorar o mundo. Mas há sinais otimistas em toda parte, que se refletem na expansão da arte e da espiritualidade em plena aridez do mercado e da racionalidade dogmática. Uma sinalização recente é a pesquisa sobre o perfil do homem urbano brasileiro, maduro e bem sucedido, encomendada pela revista Alfa, nova publicação masculina da Editora Abril. Esse é o homem que, ao contrário do passado, hoje considera como qualidades essenciais ser honesto, responsável e bom pai (em vez de ser rico e sedutor), não se incomoda em chorar e acha que a coisa mais importante na educação dos filhos é passar o senso de família (em vez da agressividade competitiva). Anima começa a mostrar a sua face...
E por que não eu?
Sempre que assisto a manifestações de perplexidade e revolta diante de infortúnios que alcançam pessoas de bem ou inocentes aparentemente lesados pelo acaso, lembro de uma parábola do judaísmo citada pelo rabino e doutor em literatura hebraica Nilton Bonder em seu instigante livro “O Sagrado”. Um professor querido e admirado em sua comunidade morre ao cair nas águas de um rio congelado. Inconsoláveis, seus amigos buscam o esclarecimento de um rabino e, como acontece nessas ocasiões, bradam a pergunta óbvia: “Como é possível que isso aconteça com um homem tão bom, gentil e afável, que dedicou sua vida a compartilhar ensinamentos com os outros?” O rabino responde: “Eu sei. Mas as águas não sabiam que ele era tão especial e o gelo não reconhecia tantas virtudes...”
É sempre assim. Diante do propósito insondável da vida, evocamos a nossa pretensa condição especial, nossos méritos, para reivindicar o privilégio de sermos poupados do movimento natural do universo e da causalidade transpessoal que ignora nossos desejos. Toda a cultura reforça essa ilusão que tem no materialismo espiritual de nossos dias sua principal base de apoio. Ser especial e ter o poder de dobrar o cosmo aos nossos caprichos é a nossa mais profunda aspiração - e isso explica o sucesso das igrejas que vendem imunidades e dos livros que revelam “segredos” para impor nossa vontade à incerteza dos eventos.
Lembrei novamente da metáfora judaica na semana passada, ao tomar conhecimento de uma entrevista do jornalista Christopher Hitchens, da revista Vanity Fair, dias depois de revelar em sua coluna que tem câncer na garganta, doença que costuma vencer suas vítimas em muito pouco tempo. Em situações como essa, a reação corriqueira, mesmo entre aqueles aparentemente crentes e devotados a algum culto religioso, é a pergunta angustiada e insubmissa: “E por que eu?” Mas Hitchens, um inglês de 61 anos que ganhou fama como polemista e ateu praticante que não perde uma chance de alfinetar as religiões e a idéia de Deus, surpreendeu seus leitores com uma atitude equânime e resignada. “E por que não eu?”, disse ele na entrevista, poucos dias depois de lançar um livro de memórias que está vendendo como água, proporcionando ao autor, além do lucro financeiro, a glória passageira da notoriedade e dos salamaleques.
A atitude de Hitchens pode ser atribuída à altivez de quem se libertou da ilusão de ser especial por reconhecer o caos aparente em que existimos, mas ela é digna do mais ardente místico, alguém que no cultivo profundo de sua espiritualidade se percebe como parte de algo inexplicável além do ego e sua identificação com as formas transitórias. E por que não eu? pode ser a resposta equânime de quem se rende ao mistério da vida e o reverencia, invertendo a lógica do materialismo expresso na prática religiosa convencional e interesseira. O ponto não é submeter o universo aos nossos caprichos, mas alinhar nossos anseios ao movimento do cosmo e à intenção que o permeia e guia acima de nosso senso egóico e de nossos delírios.
É sempre assim. Diante do propósito insondável da vida, evocamos a nossa pretensa condição especial, nossos méritos, para reivindicar o privilégio de sermos poupados do movimento natural do universo e da causalidade transpessoal que ignora nossos desejos. Toda a cultura reforça essa ilusão que tem no materialismo espiritual de nossos dias sua principal base de apoio. Ser especial e ter o poder de dobrar o cosmo aos nossos caprichos é a nossa mais profunda aspiração - e isso explica o sucesso das igrejas que vendem imunidades e dos livros que revelam “segredos” para impor nossa vontade à incerteza dos eventos.
Lembrei novamente da metáfora judaica na semana passada, ao tomar conhecimento de uma entrevista do jornalista Christopher Hitchens, da revista Vanity Fair, dias depois de revelar em sua coluna que tem câncer na garganta, doença que costuma vencer suas vítimas em muito pouco tempo. Em situações como essa, a reação corriqueira, mesmo entre aqueles aparentemente crentes e devotados a algum culto religioso, é a pergunta angustiada e insubmissa: “E por que eu?” Mas Hitchens, um inglês de 61 anos que ganhou fama como polemista e ateu praticante que não perde uma chance de alfinetar as religiões e a idéia de Deus, surpreendeu seus leitores com uma atitude equânime e resignada. “E por que não eu?”, disse ele na entrevista, poucos dias depois de lançar um livro de memórias que está vendendo como água, proporcionando ao autor, além do lucro financeiro, a glória passageira da notoriedade e dos salamaleques.
A atitude de Hitchens pode ser atribuída à altivez de quem se libertou da ilusão de ser especial por reconhecer o caos aparente em que existimos, mas ela é digna do mais ardente místico, alguém que no cultivo profundo de sua espiritualidade se percebe como parte de algo inexplicável além do ego e sua identificação com as formas transitórias. E por que não eu? pode ser a resposta equânime de quem se rende ao mistério da vida e o reverencia, invertendo a lógica do materialismo expresso na prática religiosa convencional e interesseira. O ponto não é submeter o universo aos nossos caprichos, mas alinhar nossos anseios ao movimento do cosmo e à intenção que o permeia e guia acima de nosso senso egóico e de nossos delírios.
Para quê?
Ao final da longa entrevista, José Saramago foi provocado pelo jornalista Geneton Moraes Neto: “Qual a pergunta que o sr. jamais conseguiu responder?”. O escritor laureado com o Nobel de Literatura foi ágil: “É uma pergunta muito simples: Para quê? Para que tudo isso?” A questão que desafiou Saramago, um ateu de carteirinha, até à morte é irmã gemea da mais insolúvel das dúvidas: por que existe algo em vez de nada? Sejamos teístas ou ateus, não sabemos. Na verdade, sequer temos respostas definitivas para “o que” - aquilo que, de modo apriorístico, rotulamos de realidade. O que é o universo? O que é a vida? A ciência nada pode dizer sobre as questões essenciais e, para aplacar nossa perplexidade, resta-nos o exercício reflexivo da filosofia e o abrigo vulnerável das religiões, incluindo-se aí a moderna religião do cientificismo.
Não é exagero afirmar que, no fundo, tudo é crença. Mesmo o ateísmo, diz o filósofo André Comte-Sponville, ele próprio um ateu, é uma crença, “um pensamento que se alimenta do vazio do seu objeto”. Nossas crenças moldam o mundo ao determinarem nosso olhar e nossa relação com os objetos, nossos experimentos e o tipo de ciência que praticamos, produzindo ao final uma reflexividade que alimenta a espiral da percepção e da criatividade. Se elas mudam, o universo muda, alteram-se paradigmas e instrumentos de investigação e novas hipóteses e teorias se impõem, sempre com prazo de validade. A jornada milenar da ciência nos permite esse raciocínio e a descoberta, pela física quântica, da intricada interação entre sujeito e experimento nos leva a considerar a subjetividade do cosmo e a intencionalidade subjacente.
A pergunta “para quê?” remete-nos inevitavelmente à questão da causalidade absoluta e, por consequencia, ao duelo entre teístas e ateus. Mas, ao contrário do que possa parecer, há um elo - e, portanto, uma possibilidade de tolerância - entre esses dois tipos de crentes. Afinal, ambos combatem pelo que ignoram. Por que existe algo em vez de nada? A única resposta possível é: por que Deus, o incognoscível, o mistério. Nisso concordam inclusive os ateus, já que ser ateu, como ressalta Sponville, não é negar o mistério, mas fugir à tentação de rejeitá-lo ou reduzí-lo sem maior esforço.
Penso que existem menos ateus do que sugerem as declarações intelectuais, e a maioria deles se sustenta da visão anacrônica de um deus pessoal, à parte do universo, preservada pelas religiões ocidentais. À medida que cientistas operantes na fronteira da ciência acenam com modelos sobre o cosmo que desmontam a lógica mecanicista (centrada na partícula e não na energia), e os conceitos de linearidade dos eventos e separação entre mente e matéria, abre-se a possibilidade de uma nova concepção do divino e de uma releitura de nossa dimensão espiritual que, certamente, farão refluir o ateísmo, sem que isso signifique o fim das dúvidas. Novas respostas suscitarão novos questionamentos e, a cada passo que dermos para frente, o horizonte recuará mais uma vez, em meio ao esforço humano para compreender o absoluto. E assim, entre teístas e ateus, continuaremos a indagar: para quê?
Não é exagero afirmar que, no fundo, tudo é crença. Mesmo o ateísmo, diz o filósofo André Comte-Sponville, ele próprio um ateu, é uma crença, “um pensamento que se alimenta do vazio do seu objeto”. Nossas crenças moldam o mundo ao determinarem nosso olhar e nossa relação com os objetos, nossos experimentos e o tipo de ciência que praticamos, produzindo ao final uma reflexividade que alimenta a espiral da percepção e da criatividade. Se elas mudam, o universo muda, alteram-se paradigmas e instrumentos de investigação e novas hipóteses e teorias se impõem, sempre com prazo de validade. A jornada milenar da ciência nos permite esse raciocínio e a descoberta, pela física quântica, da intricada interação entre sujeito e experimento nos leva a considerar a subjetividade do cosmo e a intencionalidade subjacente.
A pergunta “para quê?” remete-nos inevitavelmente à questão da causalidade absoluta e, por consequencia, ao duelo entre teístas e ateus. Mas, ao contrário do que possa parecer, há um elo - e, portanto, uma possibilidade de tolerância - entre esses dois tipos de crentes. Afinal, ambos combatem pelo que ignoram. Por que existe algo em vez de nada? A única resposta possível é: por que Deus, o incognoscível, o mistério. Nisso concordam inclusive os ateus, já que ser ateu, como ressalta Sponville, não é negar o mistério, mas fugir à tentação de rejeitá-lo ou reduzí-lo sem maior esforço.
Penso que existem menos ateus do que sugerem as declarações intelectuais, e a maioria deles se sustenta da visão anacrônica de um deus pessoal, à parte do universo, preservada pelas religiões ocidentais. À medida que cientistas operantes na fronteira da ciência acenam com modelos sobre o cosmo que desmontam a lógica mecanicista (centrada na partícula e não na energia), e os conceitos de linearidade dos eventos e separação entre mente e matéria, abre-se a possibilidade de uma nova concepção do divino e de uma releitura de nossa dimensão espiritual que, certamente, farão refluir o ateísmo, sem que isso signifique o fim das dúvidas. Novas respostas suscitarão novos questionamentos e, a cada passo que dermos para frente, o horizonte recuará mais uma vez, em meio ao esforço humano para compreender o absoluto. E assim, entre teístas e ateus, continuaremos a indagar: para quê?
Caminho do meio
Há mais que beleza e encanto nos versos de “Certas Coisas”, uma das canções mais conhecidas de Lulu Santos e Nelson Motta: “Não existiria som / se não houvesse o silêncio. / Não haveria luz / se não fosse a escuridão. / A vida é mesmo assim, / dia e noite, não e sim...” Inspirados na simples constatação da realidade, nossos poetas resgatam em ritmo melodioso a velha filosofia sobre o equilíbrio dos opostos. Tudo que é percebido pelos nossos sentidos ou pela imaginação só o é em função de sua negação.
Se é certo que o som exige o contraponto do silêncio, não é menos verdadeiro que a virtude só se faz notar diante do pano de fundo do erro. Entre uma e outra polaridade, desenrola-se o nosso cotidiano de combinações variadas no qual a mente, não raro, se perde na idéia de separação e autosuficiência, assumindo a perigosa rigidez da radicalização.
É fácil ser radical. Basta entregar-se ao impulso natural da mente, que se nutre de nossos apegos e aversões. Nessa situação, forjamos verdades absolutas, inconciliáveis com o eterno dinamismo da vida, e logo adicionamos complicações à rotina e bloqueios ao relacionamento com o próximo. Ser moderado, ao contrário, exige o esforço para ver com clareza, liberto do egocentrismo, e o bom senso de aplicar a ação adequada a cada evento. Nessa circunstância, tornamo-nos hábeis para lidar com a virtude contida em cada pecado e a podar o pecado de cada virtude, alcançando o ponto de equilíbrio numa vida harmoniosa.
Viver bem nos pede a capacidade de trabalhar com paradoxos, o contra-senso que a física moderna afirma existir mesmo no mundo físico, como na misteriosa alternância entre partícula e onda no fenômeno da luz. Em termos práticos, isso nos leva a considerar, por exemplo, a utilidade até do orgulho, da avareza e da luxúria, três dos pecados capitais que estão por trás do progresso material e do conforto alcançado pelo homem, sem que isso descarte o objetivo maior de purificar sentimentos e intenções, capacitando-nos a promover o desenvolvimento sustentável numa sociedade apoiada na solidariedade e na cooperação.
A aceitação da existência dos opostos, e dos matizes que colorem o espaço entre um e outro, nos livra do sectarismo, combustível dos conflitos irracionais, e salva-nos da ignorância que nos faz enxergar nonsense onde o universo manifesta inteligência e perfeição. Fica mais fácil também administrar as situações do dia a dia, embora isso nos transforme, a exemplo dos grandes mestres, em pessoas menos previsíveis, ainda que mais confiáveis.
O caminho dos sábios é o do meio, aquele no qual respondemos a cada evento de forma apropriada, dosando elementos de ação às vezes opostos, mas sempre sob a mesma inspiração do amor e da equanimidade. Não é fácil, mas é possível. E a recompensa de uma vida saudável, com equilíbrio emocional e consciência, vale o esforço para seguir nessa trilha.
Se é certo que o som exige o contraponto do silêncio, não é menos verdadeiro que a virtude só se faz notar diante do pano de fundo do erro. Entre uma e outra polaridade, desenrola-se o nosso cotidiano de combinações variadas no qual a mente, não raro, se perde na idéia de separação e autosuficiência, assumindo a perigosa rigidez da radicalização.
É fácil ser radical. Basta entregar-se ao impulso natural da mente, que se nutre de nossos apegos e aversões. Nessa situação, forjamos verdades absolutas, inconciliáveis com o eterno dinamismo da vida, e logo adicionamos complicações à rotina e bloqueios ao relacionamento com o próximo. Ser moderado, ao contrário, exige o esforço para ver com clareza, liberto do egocentrismo, e o bom senso de aplicar a ação adequada a cada evento. Nessa circunstância, tornamo-nos hábeis para lidar com a virtude contida em cada pecado e a podar o pecado de cada virtude, alcançando o ponto de equilíbrio numa vida harmoniosa.
Viver bem nos pede a capacidade de trabalhar com paradoxos, o contra-senso que a física moderna afirma existir mesmo no mundo físico, como na misteriosa alternância entre partícula e onda no fenômeno da luz. Em termos práticos, isso nos leva a considerar, por exemplo, a utilidade até do orgulho, da avareza e da luxúria, três dos pecados capitais que estão por trás do progresso material e do conforto alcançado pelo homem, sem que isso descarte o objetivo maior de purificar sentimentos e intenções, capacitando-nos a promover o desenvolvimento sustentável numa sociedade apoiada na solidariedade e na cooperação.
A aceitação da existência dos opostos, e dos matizes que colorem o espaço entre um e outro, nos livra do sectarismo, combustível dos conflitos irracionais, e salva-nos da ignorância que nos faz enxergar nonsense onde o universo manifesta inteligência e perfeição. Fica mais fácil também administrar as situações do dia a dia, embora isso nos transforme, a exemplo dos grandes mestres, em pessoas menos previsíveis, ainda que mais confiáveis.
O caminho dos sábios é o do meio, aquele no qual respondemos a cada evento de forma apropriada, dosando elementos de ação às vezes opostos, mas sempre sob a mesma inspiração do amor e da equanimidade. Não é fácil, mas é possível. E a recompensa de uma vida saudável, com equilíbrio emocional e consciência, vale o esforço para seguir nessa trilha.
Adolescência sem fim
Conheci Chico Xavier na madrugada de 23 de março de 1970, quinze meses antes de sua participação no “Pinga-Fogo” da TV Tupi, programa em que conquistou o país com seu carisma e mudou para sempre a imagem do Espiritismo no Brasil. Naquela época, Chico contabilizava 43 anos de mediunidade, polêmicas, adversidades e, sobretudo, amparo a carentes do corpo e da alma que o buscavam dia e noite. Eu era um menino, 17 anos, e chegara à Comunhão Espírita Cristã de Uberaba imaginando cenários e falas logo descartados pela realidade.
Em vez do ambiente solene e asséptico de minha fantasia, deparei com um clima de pronto-socorro de hospital público, com “pacientes” esbarrando-se em espera ansiosa, produzindo uma algaravia que o som de músicas clássicas tentava abafar. Chico encerrara a psicografia daquela noite. Agora, no fundo da sala, aquele homem baixo, franzino, metido num despojado paletó cinza - e ainda sem a controvertida peruca que cobria sua calvície acentuada -, distribuía sorrisos, beijos e palavras de ânimo numa maratona que, não raro, ia até o amanhecer. Na fila, eu esperava por um recado qualquer de Emmanuel, o guia do médium, mas nenhum espírito iluminado (nem zombeteiro) se deu ao trabalho de me enviar um ”torpedo”. Em vez disso, ganhei de Chico um abraço como eu jamais experimentara (toque macio e ternura maternal) e um “Deus te abençoe” ao pé do ouvido que me fez conhecer a paz dos anjos sem, contudo, desbastar a frustração de moleque desejoso de um fenômeno retumbante.
Só a maturidade me faria entender, anos depois, aquela madrugada singela no interior de Minas. Sem que os meus sentidos fossem abalados pelo inusitado, revelara-se ali, à minha mente e ao meu coração, a poderosa força que move os santos: a capacidade de experimentar sua humanidade no limite da virtude essencial, o amor. Hoje consigo perceber que não foi a vasta e complexa fenomenologia que assinalou a trajetória de Chico que o transformou em marco e unanimidade na sociedade brasileira. Afinal, fenômenos paranormais sempre existiram e existirão, mas seus efeitos costumam durar o tempo da excitação dos sentidos. Foi a sua capacidade de materializar o substrato ético de tais eventos que o tornou único e confiável. Como outro Francisco, o pobrezinho de Assis, Chico Xavier empenhou a vida no propósito de provar a viabilidade do amor nas refregas do dia-a-dia, como exemplificara antes Jesus, o grande inspirador de ambos.
Em Chico, o apóstolo se funde ao homem que, conhecendo suas fraquezas, descobre no exercício da compaixão o seu grande recurso de superação. Fiel às suas crenças, soube entender a diversidade, respeitando o perfil de cada um. E, graças ao seu trabalho, o Espiritismo iniciado por Allan Kardec tornou-se uma religião brasileira na qual o toque de sincretismo - tão próprio de nossa gente - sintoniza com o anseio mundial por alteridade e tolerância. Chico é nossa mensagem de paz ao mundo.
Em vez do ambiente solene e asséptico de minha fantasia, deparei com um clima de pronto-socorro de hospital público, com “pacientes” esbarrando-se em espera ansiosa, produzindo uma algaravia que o som de músicas clássicas tentava abafar. Chico encerrara a psicografia daquela noite. Agora, no fundo da sala, aquele homem baixo, franzino, metido num despojado paletó cinza - e ainda sem a controvertida peruca que cobria sua calvície acentuada -, distribuía sorrisos, beijos e palavras de ânimo numa maratona que, não raro, ia até o amanhecer. Na fila, eu esperava por um recado qualquer de Emmanuel, o guia do médium, mas nenhum espírito iluminado (nem zombeteiro) se deu ao trabalho de me enviar um ”torpedo”. Em vez disso, ganhei de Chico um abraço como eu jamais experimentara (toque macio e ternura maternal) e um “Deus te abençoe” ao pé do ouvido que me fez conhecer a paz dos anjos sem, contudo, desbastar a frustração de moleque desejoso de um fenômeno retumbante.
Só a maturidade me faria entender, anos depois, aquela madrugada singela no interior de Minas. Sem que os meus sentidos fossem abalados pelo inusitado, revelara-se ali, à minha mente e ao meu coração, a poderosa força que move os santos: a capacidade de experimentar sua humanidade no limite da virtude essencial, o amor. Hoje consigo perceber que não foi a vasta e complexa fenomenologia que assinalou a trajetória de Chico que o transformou em marco e unanimidade na sociedade brasileira. Afinal, fenômenos paranormais sempre existiram e existirão, mas seus efeitos costumam durar o tempo da excitação dos sentidos. Foi a sua capacidade de materializar o substrato ético de tais eventos que o tornou único e confiável. Como outro Francisco, o pobrezinho de Assis, Chico Xavier empenhou a vida no propósito de provar a viabilidade do amor nas refregas do dia-a-dia, como exemplificara antes Jesus, o grande inspirador de ambos.
Em Chico, o apóstolo se funde ao homem que, conhecendo suas fraquezas, descobre no exercício da compaixão o seu grande recurso de superação. Fiel às suas crenças, soube entender a diversidade, respeitando o perfil de cada um. E, graças ao seu trabalho, o Espiritismo iniciado por Allan Kardec tornou-se uma religião brasileira na qual o toque de sincretismo - tão próprio de nossa gente - sintoniza com o anseio mundial por alteridade e tolerância. Chico é nossa mensagem de paz ao mundo.
Sexo e culpa
Publicado na edição de 09/03/10
Sim, eu sei, a energia sexual é a mais poderosa das forças que movem o ser humano. É algo que extrapola o conceito de libido, o desejo de prazer sensual, manifestando-se em tudo o que fazemos como motor de vida e criatividade. Ela está na sofreguidão do devasso e no êxtase dos santos, na sensibilidade do artista e na perspicácia do cientista... Sem ela, em sentido amplo, sucumbiríamos ao tédio, sem falar que, se viesse a nos faltar em sentido estrito - aquele que embala os amantes -, há muito teríamos desaparecido da Terra. É compreensível que as pulsões libidinosas sejam o mais frequente objeto de nossas confabulações. O que não consigo entender é a overdose de conversa fiada, gossip e insinuações maliciosas que recheiam até hoje, meio século após a chamada revolução sexual, nossos papos, textos, imagens e seja lá o que for em que o tema recorrente do sexo é abordado.
Desde os estudos de Alfred Kinsey (que nos anos 40 revelaram o comportamento sexual dos americanos), a descoberta da noretindrona (que levou à pílula anticoncepcional), e a maré libertária dos hippies (que implodiu a hipocrisia em que se ocultava a sexualidade até os anos 60), parecia que, finalmente, a naturalidade do sexo seria resgatada, ficando para trás a velha imagem de coisa suja e proibida que asfixiava o mundo afetivo de homens e mulheres, enquanto sustentava à margem o sórdido negócio da prostituição. Não foi o que aconteceu. Jamais falamos tanto em sexo quanto nos dias atuais, mas o fazemos quase como nossos pais no banheiro da escola ou nas rodas de bar: entre risos e olhares marotos de quem se vê diante do ridículo ou do pecaminoso.
Sei não... mas desconfio que a geração que só pensa naquilo e consome como nunca os produtos da indústria do erotismo, padece do mesmo sentimento de culpa de nossos ancestrais ante esse ato corriqueiro. Ainda falamos de sexo como quem se imagina cometendo uma transgressão. Mais: desconfio que, ocupados em escrever e ler tanto sobre sexo, fantasiar diante de tantas imagens, ensaiar tantas perfomances e desperdiçar tanto tempo em aventuras virtuais, nós, os liberais desta era permissiva, desfrutemos bem menos que os conservadores do passado do prazer através do qual a vida se replica ou se fortalece em profundas trocas energéticas.
Numa sociedade sexualmente liberada, a prostituição e a pornografia certamente seriam negócios condenados ao fracasso. Afinal, fazer sexo é tão natural e espontâneo quanto respirar. No momento certo, os hormônios dirigem o corpo e o sentimento, esse grande ausente do sexo maquinal e envergonhado, guia o coração. Se ainda precisamos comprar um momento de parceria íntima e se dependemos de estímulos artificiais para gozar o que a vida nos oferece como dádiva, então está na hora de rever nossos critérios... e ilusões.
O virus sapiens
Publicado na edição de 02/03/10
Quando eu era criança, sempre que corriam notícias de terremoto, erupção vulcânica, furacão ou outra catástrofe natural, minha avó suspirava: “Sinal do fim do mundo... Tudo isso está na Bíblia”. Imagino a angústia da boa velhinha, se ainda estivesse entre nós neste século apocalíptico. Em apenas 60 dias, fomos surpreendidos por um terremoto que destruiu a capital do Haiti, uma tromba d´água que devastou a Ilha da Madeira, tempestades que causaram enormes danos no Brasil e na Europa e um sismo quase recorde que levou morte e pânico ao Chile. O temor de minha avó, com certeza, atingiria as alturas também ao saber que sua antiga suspeita - o fim do mundo - é agora partilhada até por céticos e ateus.
Mesmo com a Terra tremendo, prefiro manter os pés no chão. É preciso serenidade para enxergar com clareza através da cortina de pó e nuvens e, assim, agir corretamente ante as sinalizações da natureza. Terremotos, erupções e tsumanis existem há bilhões de anos, como resultado das revoluções do planeta, e na maioria das ocasiões apanharam-nos de improviso, deixando rastros de dor. No ano 79, por exemplo, as cinzas do Vesúvio riscaram do mapa as cidades de Pompéia e Herculano, na Itália, e em 1755 um terremoto, seguido de tsunami, arrasou Lisboa. O que chama a atenção em nossos dias é o aparente aumento da freqüência desses eventos num contexto de reconhecida agressão do homem à Terra. Quase não há mais dúvida de que a ação humana tem acelerado o aquecimento global e o degelo nos pólos, fato que pode ter repercussões imprevisíveis em todos os ciclos planetários. Um sinal vermelho acendeu-se e isso nos convoca à coragem da autocrítica e da mudança, a começar pela nossa visão do mundo.
Penso que nenhum de nós devia morrer sem contemplar aquela fantástica foto da Terra, clicada pelos astronautas. É um bom ensaio para dissolver, ou pelo menos tornar consciente, a ilusão de que vivemos à parte da grande teia e podemos submetê-la aos nossos apetites insaciáveis. Ali, a esfera azul se nos apresenta em sua face de organismo vivo, no interior do qual todos os seres e coisas interagem. Um movimento ínfimo, quem sabe até uma intenção, tem repercussão global.
Diante da bela imagem, talvez nos reconheçamos agindo no corpo planetário à moda dos vírus, que na ânsia de replicação desordenada sugam e destroem seu hospedeiro. Há milênios, o virus sapiens - o homem inconseqüente em sua relação com o planeta - tem cumprido essa rotina. Sugamos e ferimos o meio ambiente, na loucura da acumulação indiscriminada, o que, naturalmente, leva o organismo Terra a acionar suas defesas.
Ao contrário de muitas bactérias, que cooperam no metabolismo animal, um vírus nunca estabelece alianças com aquele que o nutre. Sua vitória, porém, é sempre uma derrota suicida. Morto o hospedeiro, extingue-se igualmente o seu predador.
A ética do aborto
Publicado na edição de 23/02/10
Discussões são quase sempre intermináveis. É compreensível. O real é inatingível, só pode ser representado. Ainda assim, precisamos desse exercício de aproximação das idéias à realidade, o que inclui nossas considerações sobre ética. Discussões nessa área duram séculos, mas é possível harmonizar alguns pontos de vista, como prova a convivência em sociedade. A ética inspira a moral cotidiana e a moral, como define o filósofo contemporâneo André Comte-Sponville, “é o que um indivíduo se impõe ou proíbe a si mesmo, não para aumentar seu bem-estar, mas para levar em conta os direitos do outro”.
Há quem considere a existência de uma ética absoluta e inflexível. Desconfio dessa inflexibilidade, mas o movimento do cosmo não me deixa duvidar que um princípio básico - bem mais simples que nossas conjeturas - guia as mutações infinitas. A questão é que só o percebemos pela janela existencial, delimitada por nossa própria experiência; daí a impossibilidade da concordância irrestrita. Em termos práticos, a ética é sempre relativa e progressiva, como ponderou o filósofo Pietro Ubaldi, sujeita a mudança a cada nível biológico ou evolutivo. Um leão que devora sua presa não fere a “ética” de seu nível, mas o mesmo raciocínio não se aplica a um humano. Um homem comum pode sentir-se em paz apenas dedicando-se à família e ao trabalho, mas quem já se percebe parte da teia social, certamente, exigirá de si o plus da solidariedade.
No patamar da civilização, capacitamo-nos a vislumbrar a ética universal através de janelas cada vez mais amplas, o que nos permitiu reconhecer direitos fundamentais do homem e demais seres - o primeiro deles, o direito à vida. O universo inteiro conspira nesse sentido. A própria entropia, a desordem sistêmica que leva à desagregação, serve ao propósito primeiro da harmonia, que reúne e recria o que se acha disperso em expressões de beleza e... intencionalidade.
Desse ponto de vista, o dever ético que se impõe, a partir do maior de nossos direitos naturais, não é outro senão o de nos colocarmos a favor do fluxo da vida. E, desse ponto de vista, não há como entender a defesa do aborto incondicional senão como um erro de percepção, uma contradição favorecida pelo individualismo exagerado e o hedonismo de nosso tempo. Afinal, desenvolvemos sensibilidade para reconhecer e defender o direito à vida de um animal (eu sequer mato formigas!), mas, se está em jogo o nosso desejo de comodidade e prazer, podemos até assassinar um homem frágil e indefeso, cumprindo os ciclos da vida no abrigo do útero.
A discussão sobre o aborto não é mero embate entre “conservadores” e “progressistas”, rótulos que ocultam o essencial. No fundo, é uma sinalização de nossa dificuldade de pensar a vida além do nível primitivo de nossas pulsões egóicas. Nosso estágio biológico e evolutivo, no entanto, já nos permite mudar.
O PIB não é tudo
Publicado na edição de 15/12/09
Meu pai é um mossoroense típico. Mudou-se para Natal ainda adolescente, na década de 1940, mas o lugar em que nasceu é, até hoje, seu grande referencial. Sempre que viajo, ele me aborda, querendo comparação: “Essa cidade onde você foi é maior ou menor que Mossoró?”. Divirto-me com a pergunta. O sonho de meu pai é ver sua Mossoró repleta de edifícios altos, carrões e milhões de habitantes exibindo nas ruas sinais exteriores de riqueza. E nisso ele é igual à maioria da população urbana, acostumada a avaliar o desenvolvimento apenas com base em números.
Em setembro, fui arrancado temporariamente da aposentadoria a fim de dirigir um projeto editorial da Editora Abril numa famosa capital nordestina. Causou-me espanto a intenção dos gestores locais de suprimir nas fotos imagens praianas tradicionais, como a jangada, e realçar a fileira de edifícios à beira-mar, sob o argumento de que aquelas remetiam ao passado pobre da cidade e os arranha-céus sinalizavam sua abundância e modernidade. Era meu pai expondo seus argumentos através de outras bocas... sustentando a urgência do gigantismo e da demonstração de poder.
Foi sempre assim. Avaliamos o desenvolvimento de uma cidade ou de um país pelo tamanho de sua produção e de seu consumo - os números do PIB - e sonhamos com mais e mais crescimento, na suposição de que isso basta para suprir todas as necessidades humanas. Ilusão. Um PIB gordo não resolve por si mesmo sequer o problema da distribuição da renda e da injustiça: o nosso, por exemplo, está entre os 10 maiores do mundo, mas o Brasil continua entre os campeões da desigualdade social. Nem mesmo um bom IDH (o novíssimo Índice de Desenvolvimento Humano, que considera na avaliação aspectos como saúde e educação) consegue retratar a real condição de um povo, sua qualidade de vida. Afinal, se o PIB e o IDH são robustos, mas os indivíduos sofrem com a solidão, a dependência a drogas, a violência doméstica ou a violência das ruas é que há algo podre e indesejável sob os tapetes da aparencia glamourosa.
É auspicioso que, neste momento, um grupo de pensadores, técnicos e governantes considere esse grito da realidade e se debruce, com o apoio das Nações Unidas, sobre a nova proposta do FIB - Felicidade Interna Bruta -, um índice que leva em conta, no cálculo do desenvolvimento, dimensões como o bem-estar psicológico, o uso equilibrado do tempo pelo cidadão, a vitalidade comunitária, o acesso à cultura e a governança. A experiência pioneira começou no Butão e já sensibilizou setores do Canadá e até o governo da França, interessado em abjurar a “religião dos números”. Oxalá possa expandir-se. A grandeza de uma nação passa pela capacidade de seus filhos sorrirem, abraçarem-se e serem solidários. Não há desenvolvimento, se não há povo feliz.
Números poderosos
Chico Xavier,o homem
Cuba e nós
Publicado na edição de 26/02/13
A escolha do Brasil para início do périplo turístico-político da blogueira cubana Yoani Sánchez é significativa. Neste momento não há país mais influente em Cuba do que o Brasil. Nem mesmo a Venezuela, que praticamente garante a sobrevivência econômica da ilha com o fornecimento de petróleo a preço camarada. Qualquer brasileiro que viaje a Cuba pode constatar isso, e comigo não foi diferente.
O Brasil soa como unanimidade entre castristas e anticastristas e como um ideal de vida para muitos cubanos, em que pese seu nacionalismo apaixonado. Na verdade, os cubanos tem biotipo e perfil psicológico parecidos aos dos brasileiros e possuímos heranças africanas comuns, o que por vezes nos leva a achar que, estando em Cuba, estamos na Bahia. Nem mesmo no período em que uma Cuba marxista se declarava um estado ateu, Iemanjá deixou de comparecer todas as noites nas macumbas da santería, o candomblé cubano.
Laços culturais e até as novelas da Globo, que fazem sucesso na TV cubana, mantêm a proximidade entre nossos povos, mas não dá para esconder: é na política que ela se amplia e se fortifica desde a ascensão do PT ao Planalto.
Tive a sorte de chegar a Havana num momento de eventos que realçaram ainda mais esse aspecto da presença brasileira em no país, como é o caso da 3ª Conferência Internacional para o Equilíbrio do Mundo, promovida pela Unesco, e das comemorações do 160º aniversário do herói da independência cubana José Martí. Estrela maior da conferência da Unesco, com um discurso crítico aos Estados Unidos, o ex-presidente Lula foi recebido com honras de chefe de estado e conduzido a visitar as obras do porto e complexo industrial de Mariel, a maior obra de infra-estrutura já realizada em Cuba, com financiamento do governo brasileiro, e hoje a grande esperança da economia cubana. No mesmo evento, Frei Beto foi agraciado com um diploma de benfeitor da humanidade e, nas comemorações de Martí, o escritor Fernando Morais brilhou com o lançamento da edição em espanhol de seu livro “Os Últimos Soldados da Guerra Fria”, sobre cinco cubanos detidos há 15 anos em Miami.
Apesar da presença em Havana de muitos políticos e intelectuais do continente, foram Lula, Beto e Morais que ganharam destaque na TV e no “Granma” e “Juventud Rebelde”, os principais jornais cubanos, editados pelo Partido Comunista, hoje reduzidos a tablóides de 8 páginas. Os três brasileiros são nomes populares em Cuba, onde até as pedras sabem que foi Frei Beto, amigo pessoal de Fidel Castro, quem o convenceu a desistir do ateísmo oficial e a promover a abertura religiosa na ilha.
Aqui, Yoani disse que, se quisesse, o governo brasileiro poderia contribuir mais para mudanças em Cuba. Pode ser. Se a eventual morte de Hugo Chávez mudar os rumos políticos na Venezuela, Cuba terá ainda mais razões para apostar no Brasil.
Publicado na edição de 26/02/13
A escolha do Brasil para início do périplo turístico-político da blogueira cubana Yoani Sánchez é significativa. Neste momento não há país mais influente em Cuba do que o Brasil. Nem mesmo a Venezuela, que praticamente garante a sobrevivência econômica da ilha com o fornecimento de petróleo a preço camarada. Qualquer brasileiro que viaje a Cuba pode constatar isso, e comigo não foi diferente.
O Brasil soa como unanimidade entre castristas e anticastristas e como um ideal de vida para muitos cubanos, em que pese seu nacionalismo apaixonado. Na verdade, os cubanos tem biotipo e perfil psicológico parecidos aos dos brasileiros e possuímos heranças africanas comuns, o que por vezes nos leva a achar que, estando em Cuba, estamos na Bahia. Nem mesmo no período em que uma Cuba marxista se declarava um estado ateu, Iemanjá deixou de comparecer todas as noites nas macumbas da santería, o candomblé cubano.
Laços culturais e até as novelas da Globo, que fazem sucesso na TV cubana, mantêm a proximidade entre nossos povos, mas não dá para esconder: é na política que ela se amplia e se fortifica desde a ascensão do PT ao Planalto.
Tive a sorte de chegar a Havana num momento de eventos que realçaram ainda mais esse aspecto da presença brasileira em no país, como é o caso da 3ª Conferência Internacional para o Equilíbrio do Mundo, promovida pela Unesco, e das comemorações do 160º aniversário do herói da independência cubana José Martí. Estrela maior da conferência da Unesco, com um discurso crítico aos Estados Unidos, o ex-presidente Lula foi recebido com honras de chefe de estado e conduzido a visitar as obras do porto e complexo industrial de Mariel, a maior obra de infra-estrutura já realizada em Cuba, com financiamento do governo brasileiro, e hoje a grande esperança da economia cubana. No mesmo evento, Frei Beto foi agraciado com um diploma de benfeitor da humanidade e, nas comemorações de Martí, o escritor Fernando Morais brilhou com o lançamento da edição em espanhol de seu livro “Os Últimos Soldados da Guerra Fria”, sobre cinco cubanos detidos há 15 anos em Miami.
Apesar da presença em Havana de muitos políticos e intelectuais do continente, foram Lula, Beto e Morais que ganharam destaque na TV e no “Granma” e “Juventud Rebelde”, os principais jornais cubanos, editados pelo Partido Comunista, hoje reduzidos a tablóides de 8 páginas. Os três brasileiros são nomes populares em Cuba, onde até as pedras sabem que foi Frei Beto, amigo pessoal de Fidel Castro, quem o convenceu a desistir do ateísmo oficial e a promover a abertura religiosa na ilha.
Aqui, Yoani disse que, se quisesse, o governo brasileiro poderia contribuir mais para mudanças em Cuba. Pode ser. Se a eventual morte de Hugo Chávez mudar os rumos políticos na Venezuela, Cuba terá ainda mais razões para apostar no Brasil.

Outro Olhar
por Jomar Morais, jornalista e editor do Planeta Jota
crônicas publicadas originalmente no Novo Jornal
por Jomar Morais, jornalista e editor do Planeta Jota
crônicas publicadas originalmente no Novo Jornal